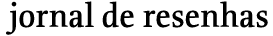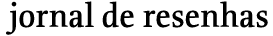|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
Cidade
Recordo-me imediatamente do
meu fracasso em tentar descobrir,
alguns dias antes, as intervenções
urbanas da exposição "Artecidadezonaleste". "Sob as condições
da metrópole", prossegue Hug, "a
arte não concorre apenas com a
arquitetura mas também com todas as formas de cacofonia e contaminação visual". Dilema da arte
que acorda de seu sonho moderno de autonomia, que precisa novamente de temas e narrativas como os corpos vivos precisam de
ar e água para sobreviver.
Observo belas e imensas pinturas, com baixos-relevos conquistados com o acúmulo de acrílico
colorido sobre a tela (Nabil Nahas). Parecem formas naturais
inorgânicas. Nostalgia da mimese, quando era evidente o papel da
arte. Agora a arte quer falar da cidade, mas para falar exatamente o
quê? As mazelas da vida urbana
constituem a preocupação central
de muitas disciplinas -urbanismo, sociologia, economia, psicologia de massa, planejamento urbano... Os arquitetos, com a modalidade cada vez mais em voga
do projeto urbano, tentam ordenar a balbúrdia.
Pensamento único
Segundo críticos ferozes, é a face
visível do novo consenso forjado
pelo capital, a erradicação dos espaços públicos com a conversão
das cidades em suportes da reprodução e da acumulação. Cidade
do pensamento único, em que os
desejos são satisfeitos com as quimeras do consumo compulsivo,
do prazer sensual e do sonho escapista. A curadoria mostra-se
convicta sobre o papel do artista
contemporâneo: "As colônias da
arte são locais de segregação, ilhas
de resistência num mar de uniformidade".
E completa Alfons Hug: "O
olhar incorruptível do artista
obriga-nos a ver a presença das
imagens e das histórias recalcadas". Visão edificante da arte e do
artista, tributária da longa tradição. Menos otimista, lembro que
o sucesso de uma bienal é medido
pela audiência, afinal os patrocinadores precisam ficar satisfeitos
e as futuras edições precisam ser
agendadas.
Continuo minha caminhada e
constato o estado de vigília dos artistas. Vejo um parque de diversões desabitado, na escala reduzida da maquete e no suporte ampliado da fotografia -"Italpark",
diz o letreiro (Dino Bruzzone).
Outra maquete simula a cidade de
Kinshasa do terceiro milênio, um
esplendoroso parque de diversões
das corporações multinacionais,
com as torres institucionais altíssimas em formas roubadas de Las
Vegas. Néon, fantasia e sonho, solapando o que nos resta de razão.
No resguardo tranquilo do pavilhão da bienal, cubos silenciosos
denunciam o enclausuramento,
democrático em seu desrespeito
pelas fronteiras nacionais: a Kommunehaus, casa transparente de
vidro e acrílico (Carsten Höller); a
moradia mínima proletária (Pablo Rivera); a prisão quebrada ao
meio (Michael Elmgren e Ingar
Dragset).
Cubos gélidos que contrastam
com os sensuais interiores de motéis, promessa de grandes prazeres (Lucinda Devlin). Dubiedade
do processo de globalização. A
homogeneização em curso, catapultada pelo capitalismo de última geração, espraia por todo o
planeta os mesmos letreiros, propagandas, máquinas e edifícios
espelhados, suportes artificiais
em que brotam vidas coletivas diversificadas, com seus hábitos,
costumes, vestimentas e línguas.
O mesmo fotógrafo registra a
impessoalidade universalista da
baía de Tóquio e os característicos
barcos-moradia no rio Vermelho
de Hanói (Doug Hall). A clássica e
já em desuso distinção entre civilização artificial e cultura orgânica
parece ganhar, com essa cena finissecular tardia, um sopro de sobrevida. Artistas das mais diversas localidades do globo, munidos
de máquinas fotográficas, câmeras de vídeo e computadores fabricados pelas grandes corporações multinacionais, ganham
aqui a possibilidade de expressar
sua visão de mundo regional.
O curador geral nos diz que "a
Bienal de São Paulo é a grande antípoda do eurocentrismo nas artes plásticas", sonho de um deslocamento do eixo político-cultural
que deixa à mostra o grande pesadelo do mundo contemporâneo:
a hegemonia econômica do seleto
grupo dos países ricos, cerne do
desequilíbrio da globalização. A
subversão estética buscada em diversos trabalhos é decorrente dessa assimetria, como é o caso do
"Jardim dos Frutos Proibidos"
(Charles Juhasz-Alvarado), em
que personagens latinos tentam
contrabandear frutas tropicais ludibriando burocratas alfandegários norte-americanos instalados
num surreal e improvável aeroporto de cores berrantes.
Povos, formas expressivas, verdades diferentes: a impressionante massa humana fotografada em
Mahha Kumbh Mela, Índia (Armin Linke), participam de uma
festa ou de uma migração forçada
por alguma tragédia política?
Ocorre-me o quão tênue é a linha
que separa a diversidade da relatividade cultural, o risco sempre
eminente de desistirmos do homem imaginado pela tradição humanista, de justificarmos as barbáries pelas diferenças inatas.
Terceira via?
Teríamos uma terceira via entre
denunciar ou justificar a barbárie?
Violência contra a cultura, como a
destruição do Buda gigante no
Afeganistão (Arthur Omar). Violência contra o homem, como o
decreto oficial que permitiu que
3,5 milhões de indivíduos fossem
removidos à força de suas casas
na África do Sul (David Goldblatt). Constatação dos liames invisíveis em fotos impecáveis: a
magnífica reconstrução da Potsdamer Platz projetada por Renzo
Piano (Michael Wesely) é irmã xifópaga dos terroristas atemorizando a América (Nancy Davenport). Perplexidade diante dos valores: criticamos o eurocentrismo, mas nos aferramos a uma de
suas tradições mais nobres para
balizar nossos juízos.
Continuo meu percurso pela
Bienal, já desobrigado da reflexão
solicitada e com juízo inicial devidamente revisto. Antes do final da
jornada, algumas obras me levam
à introspecção: corredores kafkianos onde a transcendência é inimaginável e a claustrofobia uma
constante (Stan Douglas); os
mundos paralelos possíveis e
imagináveis presentes nos delicados e surpreendentes entalhes feitos em resmas de papel branco
dispostos cartesianamente no solo (Marco Maggi); o simulacro fugidio de um mundo incompreensível projetado invertido na câmera obscura, reverência singela
à caverna de Platão, constatação
da irreversível subjetividade de
nossa visão de mundo (Philippe
Gruenberg e Pablo Hare); alienados acorrentados, surpreendentemente familiares, dispostos em
círculo que se fecha com minha
presença (Chien-Chi Chang); o
destino individual e as escolhas
definitivas, presentes nas quatro
portas que se oferecem para mim
(Gong Xin Wang); as recordações
liberadas pelo som de um jogo já
jogado, enquanto a mesa, raquetes e bolinhas permanecem inertes, silenciosas em suas caixas
mortuárias de acrílico (Nelson
Leirner).
Viagem interior, sensível e emotiva, que culmina com o canto ingênuo e entusiasmado dos campos de futebol, que vaza rouca e
sufocada de uma das salas fechadas (Oriana Duarte).
Ao percorrer lentamente o corredor escuro, me assoma uma
longínqua memória da infância.
Meu sorriso farto, meu pai ao lado, a fila de torcedores uniformizados, a iminência do jogo há
muito aguardado. Felicidade indescritível, que julgava perdida irremediavelmente.
Abilio Guerra é professor de arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas e editor de
www.vitruvius.com.br
Texto Anterior: O planeta cidade
Próximo Texto: Metal colorido
Índice
|