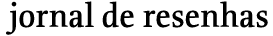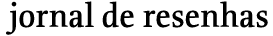|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
A justa memória
Paul Ricoeur explora as relações entre
memória, história e esquecimento
JACYNTHO LINS BRANDÃO
Recordem-se as cenas de Porto Seguro:
a festa a portas (e cidade!) fechadas, para
um grupo seleto de convidados; a marcha
de índios e sem-terra, em face da violência oficial; a caravela incapaz de mover-se
até o porto (inseguro?) do destino. A refundação simbólica da nação acabou como palco para as fraturas (isto é: o a-simbólico), em imagens transmitidas mundo
afora. Para alguns, mero fiasco, fruto da
incompetência dos organizadores. Explicação simplória que só esconde a questão
de fundo: a que ponto a comemoração
pode estar dissociada da rememoração;
os usos e abusos da história; os desvios
entre memória individual, coletiva e oficial; enfim, a (im)possibilidade do esquecimento e do perdão.
O exemplo vem a propósito da atualidade do livro de Paul Ricoeur, que visa
justamente cruzar uma "fenomenologia
da memória" com uma "epistemologia
da história", para culminar, com a "meditação sobre o esquecimento", numa
"hermenêutica da condição histórica dos
homens que somos". Portanto: memória,
história, esquecimento, nessa ordem, explorando suas intrincadas relações, bem
como sua indiscutível (mas nem sempre
percebida) distinção.
Para enfrentar o tema, o autor examina,
passo a passo, a questão da memória e da
reminiscência, o estatuto da história, a
condição histórica, trazendo à tona, no
epílogo, a dificuldade do perdão. Toda
vastidão do percurso se constrói num
diálogo cerrado com interlocutores que
podem ser classificados em quatro grupos.
De um lado, aqueles que, em diferentes
pontos, são invocados para fundamentar
certas reflexões, como Husserl, Freud e
Bergson, a propósito dos fenômenos
mnemônicos; Foucault, Michel de Certeau e Norbert Elias, com relação à operação historiográfica; Nietzsche e Ginzburg, no que concerne à condição histórica; Pierre Nora e Hannah Arendt, respectivamente, sobre os temas do esquecimento e do perdão. De outro, estão os
convocados para o debate e a crítica, como Heidegger, no campo da metafísica,
Marc Bloch e Lucien Febvre, no da historiografia.
Mas há ainda um terceiro tipo de autor
que aflora em pontos cruciais, como balizas para questões de longa duração: a memória como "impressão" e a escrita como seu "phármakon" (remédio/veneno),
conforme Platão; a memória como o que
"é do passado", segundo Aristóteles; a
dialética entre passado, presente e futuro
e os "vastos palácios da memória", da
perspectiva de Santo Agostinho. Finalmente uma última categoria de escritores
pontua o texto com instantâneas e fulgurantes aparições: Michelet, Proust, Lévinas, Spinoza, Kierkegaard, Pascal, dentre
outros.
Nesse amplo diálogo, o objetivo não é
elaborar uma teoria ou metodologia da
história, mas pensar, sob a égide unificadora da filosofia, a "representação do
passado", em vista do "inquietante espetáculo" oferecido pelo "excesso de memória aqui", pelo "excesso de esquecimento acolá", bem como "pela influência
das comemorações e dos abusos da memória -e do esquecimento". O livro
pretende ser um manifesto a favor de
uma "política da justa memória", na condição de tema cívico da maior relevância
(cuja atualidade as cenas de Porto Seguro
nos garantem).
Memória e história
O principal resultado é a clara distinção
entre memória e história, contra o senso
comum que insiste em sua indiferença
(como no slogan "um país sem memória
é um país sem história"). Aliás, esta é
uma virtude de Ricoeur, o não se contentar com generalizações, esmiuçar cada tema, mesmo quando o ponto de chegada
traz novas indagações.
A ampla investigação fenomenológica
da memória conduz a uma série de distinções: "memória-hábito" e "memória-lembrança" (é de Bergson a ênfase no
"inegável parentesco entre a lição aprendida de cor e meu hábito de andar ou escrever"), "memória que se repete" e "memória que imagina", "memória" e "lembranças" (como se diz, os velhos têm
mais lembranças, mas menos memória!).
Tudo conduz à constatação do "privilégio espontâneo" dado "aos acontecimentos" como o objeto da memória, o que
confirmaria a presunção de Aristóteles de
que ela "é do passado".
Sendo do passado, pode a memória
manifestar-se como afecção, sob a forma
de evocação (lembramo-nos disso ou daquilo em tal ou qual ocasião), mas existe
também uma memória ativa, que comporta um enigma, já que "busca o que teme ter esquecido". Na rememoração
("recherche", "rappel"), a memória assume a forma de "trabalho" e revela sua "dimensão cognitiva", "seu caráter de saber". O que a torna possível? A resposta,
buscada no campo da neurologia, da psicologia e dos objetos de memória, insiste
no conceito de "traços", que fornece uma
passagem articulada entre memória individual e coletiva: há "lugares de memória" que permitem uma organização social do tempo e a comunhão de lembranças. Assim, "à dialética entre espaço vivido, espaço geométrico e espaço habitado
corresponde uma dialética semelhante
do tempo vivido, do tempo cósmico e do
tempo histórico".
Ora, partindo da "memória declarada",
isto é, dos testemunhos, a operação historiográfica comporta então três fases: a
dos arquivos, a da interpretação/compreensão e, finalmente, a da escrita. Contudo, desde o momento do arquivo, exibe
ela seu caráter escritural: "O testemunho
é originalmente oral: ele é ouvido, escutado. O arquivo é escrita: ele é lido, consultado. Nos arquivos, o historiador profissional é um leitor", em que pese a existência de outras espécies de vestígios materiais e orais.
Em favor da diversidade
É na fase da interpretação/compreensão que se mostra toda a riqueza da história. Ricoeur percorre algumas tendências
do século que passou, com ênfase na escola dos "Annales" e na "Nova História",
um balanço importante, ainda que se
concentre quase só na historiografia francesa e deixe de lado outras questões, como as da história oral. Entretanto a estatura de nomes como os de Braudel, Le
Goff e Nora torna o debate significativo,
ficando a cargo do leitor estabelecer outras relações.
Duas são as contribuições principais de
Ricoeur. A primeira, substituir o conceito
de "mentalidades" pelo de "representação", ou melhor, o que ele denomina como "représentance", a representação que
é ao mesmo tempo suplência, no sentido
jurídico do termo latino "repraesentatio": quem representa/supre o outro para
o outro. A representação pode pois englobar o conceito de mentalidade sem reduzir-se a ele. É assim que, no clássico de
Braudel, o Mediterrâneo pôde ser alçado
à condição de protagonista, da mesma
forma que o obscuro moleiro que fornece
o tema para "O Queijo e os Vermes", de
Ginzburg.
À "représentance" deve aliar-se o conceito fértil de "variação de escalas", que
permite ao historiador uma pluralidade
de enfoques: seja o olhar amplo sobre
vastas épocas ou extensos espaços, sejam
abordagens pontuais como as da "micro-história". O mote é dado por um fragmento de Pascal: "Diversidade. Uma cidade, um campo, de longe é uma cidade e
um campo; mas, à medida que alguém se
aproxima deles, são casas, árvores, telhas,
folhas, ervas, formigas, patas de formigas,
até o infinito". Também na historiografia, acrescenta Ricoeur, em cada escala
vêem-se coisas que não se vêem em outra
e cada visão tem sua legitimidade.
Essa defesa da diversidade autoriza a
existência de várias histórias, em princípio um contra-senso, de acordo com o
postulado de que à história só cabe dizer
o que se passou e como se passou. Justamente contra essa carga parecem reagir
autores como Michelet, ao propugnar
uma "ressurreição" do passado, ou Collingwood, que defende sua "re-efetuação
no presente". Com efeito, se "os fatos são
indeléveis, se não se pode mais desfazer o
que foi feito ou fazer o que aconteceu não
acontecer, o sentido do que aconteceu
não se encontra fixado para sempre.
Além de os acontecimentos poderem ser
contados e interpretados de modo diferente, a dívida para com eles pode tornar-se mais pesada ou mais leve". A vantagem dessa postura é clara: "Fraturar o determinismo, reintroduzindo, na história,
a perspectiva de contingência", entendida esta como "a impossibilidade de deduzir o acontecimento do conjunto da situação anterior", de acordo com Raymond Aron.
Esquecimento e perdão
Uma conclusão se impõe: não só a história não se reduz à memória, como se
constrói de lembranças e de esquecimentos, desde a fase de constituição dos testemunhos e arquivos. O esquecimento é assim o ponto de chegada, induzindo ao tema do perdão, pois enquanto o esquecimento põe em questão a memória e a fidelidade ao passado, o perdão diz respeito à culpabilidade e à reconciliação com o
mesmo. Em princípio, ambos agem contra a obrigação de lembrar, sobretudo
numa época, como a nossa, dominada
pelos abusos da história e pela cultivo das
comemorações.
Esse tipo de reflexão é explicitamente
motivado pelo debate em torno das grandes tragédias do século 20, em especial o
genocídio dos judeus na Alemanha nazista. Como fazer história daquilo que ultrapassa os limites do compreensível? É
possível ir além dos testemunhos dos sobreviventes, que se encontram num estágio anterior ao da operação historiográfica? Mais ainda: é legítimo que o historiador interprete/compreenda situações
marcadas por extrema crueldade? A tensão entre memória e história atinge assim
seu ponto máximo, como se esta não deixasse de ser uma sorte de traição daquela.
Não é a posição grosseira do revisionismo que pretende negar o que aconteceu
que está em jogo, mas a legitimidade do
que faz com que a história seja o que é: o
esforço de compreender por que tudo
aconteceu como aconteceu.
Compreender implica, de algum modo,
justificar? Mais ainda: com relação a
acontecimentos desse porte, é possível
perdoar? Nas páginas finais do livro encontra-se provavelmente o que há de
mais rico sobre o próprio sentido da história. Perdoar não é anestesiar. A anistia,
não o perdão, é correlata da amnésia, um
esquecimento forçado ("amnesía" e
"amnestía" implicando uma pura e simples negação). Ora, se a anistia impõe a
amnésia oficial, o perdão supõe sempre a
condenação. Não se perdoa um inocente,
como não se pode perdoar quem não foi
julgado culpado. Perdoar é a alternativa
(sempre difícil) quando existe a obrigação de punir.
Avalie-se assim a urgência de uma política da justa memória, capaz de evitar
tanto a obsessão pelo passado, quanto as
amnésias impostas, já que ambas eludem
a função judicativa da história, impedindo a condenação e, por consequência, a
possibilidade do perdão. Seria então razoável admitir que, na anestésica comemoração de Porto Seguro, o clamor que
se ouviu foi exatamente o dos sem-história. Uma história nascida da justa memória deve saber dosar um uso saudável de
lembranças e de esquecimentos, para não
sucumbir ao abuso das memórias totalitárias, que inviabilizam a diversidade.
Já ensinava Hesíodo como, unida a
Zeus, Memória gerou as Musas para o esquecimento. É por não se reduzir à Memória que, conforme lembrava Paul Veyne, a história é uma Musa.
Jacyntho Lins Brandão é professor de língua e literatura grega da Universidade Federal de Minas
Gerais e autor, entre outros livros, de "A Poética
do Hipocentauro" (Editora da UFMG).
La Mémoire, l'Histoire,
l'Oubli
Paul Ricoeur
Éditions du Seuil
Onde encomendar: Livraria Francesa
(Tel. 0/xx/11/3849-7956)
676 págs., 195 francos
Texto Anterior: Davi Arrigucci Jr.: O sertão em surdina
Próximo Texto: Mariza Corrêa: Paixão etnológica
Índice
|