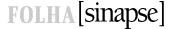


São Paulo, terça-feira, 26 de julho de 2005
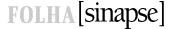 |
 |
|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
leituras cruzadas Com enfoque direto e métodos mais rigorosos de pesquisa, historiadores propõe em livros novas abordagens sobre a escravidão no Brasil, desfazendo mitos e possibilitando uma leitura profunda do comércio internacional de escravos Uma história em claro-escuro
Oscar Pilagallo
A publicação de novos estudos sobre a escravidão, a tradução de
importantes análises sobre o tema, a recuperação de uma obra
há muito tempo fora do catálogo, a reedição comemorativa de
um clássico da sociologia brasileira, tudo isso permite ao leitor
perceber a rapidez com que avança a historiografia sobre os negros.
Escrevendo para o público inglês, o brasilianista produziu sínteses que podem ser lidas com proveito pelo brasileiro, como o resumo crítico de "Casa-Grande & Senzala". O livro, diz ele, "representou uma reavaliação da colonização portuguesa. Freyre aventou que a força da lei portuguesa, acoplada às forças onipresentes do catolicismo, levou os portugueses a buscarem uma forma mais benigna de escravidão. Além disso, os portugueses, devido a seus contatos com outras raças e povos, teriam desenvolvido certa flexibilidade em suas atitudes. No Brasil, a ausência de barreiras institucionais resultou numa miscigenação rápida em data precoce da história da colônia. Assim, prosseguia Freyre, os portugueses praticaram a verdadeira democracia racial nas Américas". Para Russell-Wood, a obra de Freyre "viria a moldar a percepção e as concepções errôneas de pelo menos duas gerações de estudiosos dentro e fora do Brasil". A opinião do brasilianista, que hoje é compartilhada pela maioria dos estudiosos, está em linha com o pensamento do historiador britânico Charles Boxer, que liderou um processo de reavaliação da metodologia e das conclusões de Freyre. Boxer enfatizou que a propensão portuguesa de ter relações com mulheres de outras raças não era sinônimo de respeito aos não-brancos e que não havia relação causal entre um ato físico e as atitudes mentais. No Brasil, a crítica mais contundente a Freyre partiu do sociólogo Florestan Fernandes (1920-1995). Como lembra Russell-Wood, "Fernandes alegou que o mito da democracia racial era uma barreira à verdadeira democracia racial e só servia para mascarar o problema da discriminação ao negar sua existência". No início da carreira, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso certamente endossaria a crítica de Florestan Fernandes. Hoje, talvez ainda o faça, mas com ressalvas que lhe permitiram escrever o prefácio da edição comemorativa dos 70 anos do clássico, em 2003. No texto, Fernando Henrique comenta: "Os críticos nem sempre foram generosos com Gilberto Freyre. Mesmo os que o foram, raramente deixaram de mostrar suas contradições, seu conservadorismo, o gosto pela palavra sufocando o rigor científico, suas idealizações. É inútil rebater as críticas. Elas procedem." Na conclusão, porém, reconhece o valor de uma obra que veio para ficar. "[Freyre] mostrou, com mais força do que todos, que a mestiçagem, o hibridismo e mesmo (mistificação à parte) a plasticidade cultural da convivência entre contrários não são apenas uma característica, mas uma vantagem do Brasil." Sem terem lido "Casa-Grande & Senzala" da mesma maneira que Fernando Henrique, com o benefício do retrospecto, muitos contemporâneos de Freyre extrapolaram a análise de que a sociedade brasileira, se comparada à norte-americana, tinha vantagem com a escravidão. O historiador que esticou ao máximo essa linha de raciocínio foi Frank Tannenbaum, autor de "Slave and Citizen" ("Escravo e Cidadão"), não traduzido no Brasil. Tannenbaum é citado em "Além da Escravidão" (Civilização Brasileira, 352 págs., R$ 39,90), de Frederick Cooper, Thomas Holt e Rebecca Scott. Na obra, a historiadora Hebe Mattos registra a grande influência exercida por Freyre sobre o autor norte-americano, mas não deixa de mencionar as diferenças. Para Tannenbaum, a especificidade da colonização católica se encontra na extensão do acesso à alforria, especialmente por meio da prática de autocompra e nos direitos nela implícitos. Na formulação de Freyre, continua Hebe Mattos, "as relações de afetividade hierarquizada entre senhores e escravos é que são privilegiadas na interpretação do crescimento da população mestiça livre no Brasil colonial". Os dois aspectos -o da alforria e o da miscigenação- são relacionados por Luiz Felipe de Alencastro, no livro "O Trato dos Viventes" (Companhia das Letras, 525 págs., R$ 56,50), a uma comparação que leva o leitor de volta à África, onde este texto começou. Alencastro parte do pressuposto de que, no Brasil, houve a "invenção do mulato". O historiador considera que os negros alforriados não costumavam viver afastados porque, se confundidos com quilombolas (escravos fugitivos), poderiam ser capturados por capitães-do-mato. Assim, "a melhor garantia à preservação da liberdade consistia em aceitá-la como uma liberdade relativa, prestando serviços ao fazendeiro que reconhecesse e garantisse seu estatuto de não-escravo. Compactuada pela sujeição voluntária, a aproximação dos negros livres à comunidade patriarcal brasílica favorece a mestiçagem biológica". Na seqüência, com a aculturação, teria ocorrido o processo social da mestiçagem. Alencastro argumenta que, para que a mestiçagem conhecesse uma dinâmica regular, a comunidade dominante não poderia criar obstáculos intransponíveis à ascensão social do mulato. E sustenta que, de fato, o mulato, empregado em funções de segurança e como mão-de-obra mais qualificada, era favorecido em detrimento do negro. O mulato é típico do Brasil. Em Angola, onde as condições econômicas não eram as mesmas, o mulato é raro e a sociedade plurirracial nunca existiu. Alencastro conclui: "O fato de esse processo [de mestiçagem] ter se estratificado e, eventualmente, ter sido ideologizado e até sensualizado, não se resolve na ocultação de sua violência intrínseca, parte consubstancial da sociedade brasileira: em última instância, há mulatos no Brasil e não há mulatos em Angola porque aqui havia a opressão do escravismo colonial, e lá não". Oscar Pilagallo, 49, é jornalista, editor da revista "EntreLivros" e autor de várias obras, entre elas "O Brasil em Sobressalto" (Publifolha). Texto Anterior: Notas: Prazo para inscrições em prêmio acabam dia 3/8 Próximo Texto: Cartas Índice |
|
Copyright Empresa Folha da Manhã S/A. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress. |