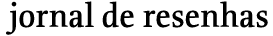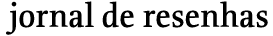|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
RÉPLICA
O avesso do livro
RICARDO FABBRINI
Após a resenha "O Império dos Signos", de Nelson Aguilar ("Jornal de
Resenhas", 09/11/2002), considerei necessário expor ao leitor, em linhas
gerais, o teor de meu livro "A Arte Depois das Vanguardas" (Ed. Unicamp), elucidando alguns dos equívocos do resenhista.
Parto do pressuposto de que, finda a etapa vanguardista, artistas e, por
conseguinte, a crítica de arte, constataram que a arte não evolui ou retrocede -muda; que não há evolução estética, mas desdobramento de linguagens. E que, portanto, o suposto declínio da arte é, antes, o resultado da crise das vanguardas.
"Não é o fim da arte", afirmava Octavio Paz, "é o fim da idéia da arte moderna" (ou seja, "o fim da estética fundada no culto à mudança e à ruptura") ou do "grande relato das vanguardas", na expressão de Jean-François
Lyotard. Para eles, o caminho unívoco da história teria sido seguido por
histórias plurais que indiquei, no livro, em conjuntos de obra.
Não incluí nesses conjuntos apenas obras do presente, contemporâneas
ou pós-vanguardistas, em que obras específicas do passado se apresentam, mas, sobretudo, as que, permitindo-nos entrever estilos mesclados
da tradição, indiciam como os artistas atuais têm lidado com o legado das
vanguardas. Procurei mostrar, em suma, que a arte contemporânea não é
pura heterogeneidade, uma diferença aleatória de obras cuja efetividade
seria impossível aferir, mas que é possível, ao contrário, ordená-las em
conjuntos pela condensação de signos comuns ou de efetuações artísticas
análogas, compondo assim um quadro de sintomas da arte posterior às
vanguardas.
Nelson Aguilar, todavia, ignorando a tópica do livro, tomou, por onda e
riso, relação entre obras por taxinomia de artistas. No livro não se linearizaram artes e artistas, uma vez que estes podem migrar pelos conjuntos,
cruzando-se, embaralhando-se; afinal, é evidente que muitos artistas se
alinham, no seu percurso pessoal, a várias linhagens, desinteressando-se
das categorias positivas da história da arte. Nuno Ramos não é, assim, malgrado o resenhista, um artista matérico, nem Regina Silveira, uma artista
conceitual, como tampouco Beatriz Milhazes, uma ornamental.
"Pós-vanguarda" é, assim, "procedimental em vários sentidos, dos quais
decorrem diversos efeitos", como diz Leon Kossovitch no prefácio: é "arte
do exemplo, do átomo, da sacada, feita no frio do frio, provocando, muita
vez, como em outras artes, riso mascado". Isso não significa, contudo, que
o artista trabalhe sem regras, mas que se apropria de tais regras -de estilos de vanguarda ou de outro código da tradição-, para então estabelecer,
em cada obra sua, as regras do que tiver sido feito.
Além disso, Nelson Aguilar ignora os conceitos do livro, inclusive os
principais, como a distinção entre citação e apropriação. Por isso, repisa
jargão, dócil a mass media, tomando a pós-vanguarda como memória e citação. Na apropriação, contudo, não temos repetição, operante tanto na
vanguarda quanto na história convencional da arte moderna, respectivamente, como insistência de citação ou de estilo, mas um procedimento de
escolhas, de tal modo que os signos escolhidos -os procedimentos da ordem da fatura e os códigos da ordem da linguagem- são postos em rotação, sobrepostos, rasurados, ornados, hiperbolizados ou metaforizados.
A resenha também desdenha as referências teóricas do livro, seja convertendo mera menção de um libelo de Bonito Oliva em "divisor de águas",
seja anulando a diferença de minha abordagem em relação a Lyotard.
Pois, apesar da convergência de fundo na adoção de um campo nocional
terapêutico, o conceito de apropriação, central no livro, opõe-se ao conceito de anamnese, central em Lyotard.
Para Lyotard, os modelos vanguardistas, quando transformados e combinados de modo análogo ao automatismo surrealista ou à síntese "ready-made", produzem formas surpreendentes. As apropriações, contudo, não
podem ser equiparadas à pura aleatoriedade ou ao "cadavre exquis" surrealista. As obras contemporâneas não são, a meu ver, ciranda de disparates, compósito de signos aleatórios que gravitam pelo prazer da deriva.
Porque a presença dos signos do passado nas obras atuais não se deve à
"alea", mas a uma escolha deliberada do artista, de tal sorte que a anamnese do visível -no léxico de Lyotard- diferencia-se da apropriação, tal como a caracterizamos.
Por fim, Aguilar infere do livro seu avesso: a idéia de que esses "princípios", em suas próprias palavras, "evacuam a necessidade de obra e valorizam somente a referência". O livro afirma, entretanto, o contrário: que da
falência das vanguardas como projeto de emancipação não resultou a negação da arte, mas uma arte que, mediada por apropriações, se opõe com
suas simbolizações à legalidade própria ou à autonomia formal -atribuída à arte de vanguarda por artistas e críticos-, numa tentativa de diminuir a distância entre a arte e o público, aproximando-a, na expressão da
crítica, do "mundo da vida".
Não é "lúgubre", como pensa Aguilar, a "pós-vanguarda", a não ser que
se busque, por toda a parte, a velha contundência modernista: signos aurorais ou presenças originárias, ocultando-se que a presença imediata de
um risco e de um toque de cor oculta mundos de mediações que a arte
atual, enriquecida pelas vanguardas, não esconde.
Se, por um lado, a produção pós-vanguardista não pode ser interpretada
por uma sensação de déjà vu, expressão vaga e imprópria que acaba por
reduzir as obras atuais ao efeito gratuito de um "revival" ou de um resgate,
por outro, não faz supor um espaço precedente à experiência artística a ser
passivamente ocupado, pois o que é supostamente experimentado, em
termos primários, encontra-se agenciado por mediações pré-formadas
culturalmente.
Boa parcela, todavia, de críticos e curadores, encobrindo com fachada
romântica uma fórmula adaptativa, destaca em grande fôrma, no encomiástico, uma arte que, à revelia de seu tempo, restituiria o olho ao seu
nascimento, permitindo ver a primeira cor, a emanação de um traço, "a
percepção antes da percepção", visionada por Paul Cézanne ou Giorgio
Morandi. Em tempo, ressalte-se que Aguilar corrige cochilo, mostrando
que Eduardo Paolozzi não é italiano, mas escocês, e que Bill Woodrow não
é americano, mas inglês.
Ricardo Nascimento Fabbrini é professor do departamento de filosofia da Pontifícia Universidade
Católica - SP e autor de "O Espaço de Lygia Clark" (Atlas) e "A Arte Depois das Vanguardas" (Ed. Unicamp).
Texto Anterior: Metamorfoses do corpo
Próximo Texto: A força da história
Índice
|