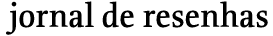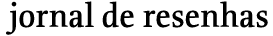|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
Nossa arquitetura
Dicionário apresenta
33 arquitetos brasileiros
CARLOS BRANDÃO
Em um contexto de extrema importação de modelos arquitetônicos e culturais, de desconfiança na
possibilidade de construirmos
uma identidade, um ethos e um
futuro próprios à história e à sociedade brasileira, a publicação
deste "Guia" adquire um caráter
épico. Por suas qualidades intrínsecas e pelo sentido que adquire
dentro desse contexto, ele se candidata a ser uma das mais importantes publicações deste início de
século sobre a arquitetura de nosso país.
Depois de rápida introdução,
onde se consideram o advento e
as especificidades da nossa arquitetura modernista, se segue o núcleo do "Guia": em ordem alfabética, 33 arquitetos são apresentados mediante breve biografia, resumo das principais características de suas obras e análise sumária dos seus edifícios mais significativos, desde a primeira casa modernista de Warchavchik (1928),
"o introdutor da arquitetura contemporânea no país", até a inauguração de Brasília (1960), "ápice
e final da linguagem modernista
clássica". Tais análises, devidamente ilustradas por fotos e esquemas de plantas, cortes e fachadas, permitem a compreensão
preliminar das obras, podendo
ser aprofundadas por meio das
indicações bibliográficas específicas que as acompanham.
Indo além da mera descrição, os
textos ultrapassam o relato morfológico e comportam uma crítica
dos valores contidos nas edificações -apontando, por exemplo,
a criatividade e competência de
Reidy no Conjunto Pedregulho
(1947-52) e sua ingenuidade do
ponto de vista antropológico e social.
Pluralidade
Preenchendo uma lacuna em
nossa produção editorial, autores
e obras -antes dispersos em várias publicações ou em vias de esquecimento, como Attilio Lima e
a produção brasileira de Rudofsky- são reunidos e cotejados. Projetos não realizados ou
destruídos como o Pavilhão, de
Bernardes (1953-54), ou o Estádio
Olímpico, de Niemeyer (1941),
são recuperados devido à importância que tiveram na construção
e vitalidade de nosso modernismo. Por sua relevância no movimento, "Projetos Especiais" são
analisados separadamente: o Ministério da Educação e Saúde
(1937-43), o Pavilhão do Brasil na
Feira de Nova York (1938-39), a
Pampulha (1942-43), o conjunto
de Cataguases (1943-51) e Brasília
(1956-60).
Cuidado e precisão são as primeiras qualidades do livro. O cuidado observa-se na qualidade
gráfica, na linguagem acessível a
todos e no carinho que preside a
feitura e que comandou os trabalhos da equipe coordenada por
Cavalcanti. Alicerçada numa pesquisa bem mais ampla do que o
material publicado, percebe-se
uma interpretação criteriosa que,
não se contentando com o "racionalismo funcionalista", é capaz
tanto de apresentar os ícones arquitetônicos do movimento
quanto os desvios e a pluralidade
de suas propostas.
À justa avaliação da arquitetura
modernista e daquilo que a determina se alia a inquirição pelo que
seu estudo pode contribuir para a
produção atual, diante do desgaste das figurações pós e neomodernistas. Daí resulta a precisão das
escolhas, do texto e das ilustrações. Não se confundindo com
um catálogo, este "Guia" ultrapassa a exposição superficial de
obras e arquitetos para comportar uma análise proveitosa para a
reflexão sobre o passado e o futuro da arquitetura brasileira e para
a promoção de nossa identidade
cultural, artística e científica dentro do século 21.
O admirável trabalho de síntese,
patente na concisão e riqueza dos
textos, faz justiça à abrangência e
fecundidade do modernismo,
desmontando uma idéia monolítica e homogênea por meio da
qual se costuma enquadrá-lo. No
lugar do funcionalismo burocrático que passou a dominar a partir
dos anos 60 -mas contra o qual
Niemeyer já se rebelava desde a
década de 40-, o que lemos é
uma aventura rica e movida por
uma dimensão muito mais ética
do que estética ou técnica. Essa dimensão configura-se como o melhor modo de acessar o modernismo brasileiro.
Cavalcanti e sua equipe compreendem-na perfeitamente e fazem dela tanto o convite para ingressarmos no seu edifício quanto
o contraponto à espetacularização perseguida pela arquitetura
contemporânea e à sua matriz importada. Também a matriz do
nosso modernismo descende das
linguagens formuladas no hemisfério norte, mas, simultaneamente, desenvolveu-se uma hermenêutica em que elas foram interpretadas e postas a serviço da nossa vida e cultura, como verificamos na adequação e esmero dedicados aos conjuntos habitacionais, no virtuosismo do trabalho
no concreto armado, na consciência crítica e criteriosa que era berço da invenção das formas e nas
combinações inéditas de materiais e técnicas construtivas.
Investigava-se um país novo e
inventava-se um homem livre,
sem perder de vista a tradição e o
contexto local. Daí a maior conquista desses arquitetos: "Conseguiram deslocar a discussão com
seus oponentes neocoloniais e
acadêmicos do terreno estético
para um domínio ético".
Construir a liberdade
A necessidade presente de refazer esse deslocamento confere
atualidade ao "Guia". É essa esperança a luz maior que suas páginas lançam no espírito do leitor. A
maior sabedoria dos arquitetos
estudados foi fazer dessa esperança um "projeto". Fazer "projeto",
como os "especiais" que concluem o livro, é construir a liberdade, recusar a submissão a forças heterônomas que nos impedem de conferir à nossa existência
uma dimensão histórica e uma
autoridade para decidir sobre o
que queremos ser.
O modernismo teve projeto e
aceitou a responsabilidade de
criarmos o nosso próprio mundo.
Os arquitetos recenseados eram
os responsáveis pelo "reconhecimento do capital simbólico e a autoridade de diagnosticar o presente e indicar os caminhos a seguir", competindo-lhes não apenas resolver um problema espacial mas, sobretudo, formular um
novo modelo para a sociedade. Isso se reflete, por exemplo, na radicalidade das proposições técnicas
e na renovação dos elementos de
arquitetura e de composição, como na Casa Lotta Soares, de Bernardes (1951-53).
Os projetos escolhidos revelam
esse plano ético maior e, como o
modernismo, não foram mera
transplantação de modelos estrangeiros. Eles nos mostram,
ainda, que não houve propriamente uma linguagem modernista, mas várias, como o experimentalismo heterodoxo de F.
Carvalho, o esforço de W. Souza
por conciliar o ecletismo tardio e
a proposta modernista, a rusticidade e ousadia de Warchavchik
na Casa Marjorie Prado (1946), a
simplicidade refinada de J. Ferreira, as pesquisas com as técnicas
construtivas autóctones de C. Ferreira, as intervenções dissonantes
em sítios históricos e a combinação bruta do artesanato vernacular do adobe e da palha com o funcionalismo exigido pela síntese da
Casa V. Cirrel, de Lina (1958).
O apelo da síntese se amplia e
explica a obra de Lúcio Costa: síntese entre interior e exterior, tradição e revolução, identidade e
universalidade, passado e futuro,
artesanato e indústria, e entre o
clima, a estrutura, a função e a forma. Síntese em que o determinante ético disciplina a arte e a tecnologia, como nos Apartamentos
Proletários (1931-33), no Museu
das Missões (1937) e no Hotel de
Friburgo (1940-44).
Também a obra de Niemeyer é
lida a partir desse esforço de síntese tensionado pela construção de
um novo ethos. Rompendo com a
burocracia estética em que se acomodava o "international style", a
Pampulha alia a ousadia e a simplicidade, a liberdade criativa e a
disciplina técnica. Dessa aliança
nasce "uma linguagem cosmopolita brasileira, mais do que simples adaptação de princípios internacionais aos ares tropicais",
que culmina em Brasília.
Erros e lições
Lições preciosas como as de Artigas e Vital Brazil podem ser
aprendidas, e mesmo os confrontos de volumes e tratamentos, como na Casa João Carvalho (1954),
de J. Fonyat, tão contemporâneos,
podem ser úteis, pelo menos para
demonstrar como o novo de hoje
não é tão novo assim. Mas aprende-se também quando o livro não
se furta a apontar erros, como os
da execução do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que servem de lição para o presente.
"O tempo se encarregou de apagar o sonho dos poderes transformadores da arquitetura modernista".
Esse "Guia", além de atingir o
propósito de "conhecer e visitar"
esse movimento, reacende o sonho de transformar o ethos. A
partir dele, ficamos à espera de
que o sentido do movimento,
mais que visitado, seja compreendido em nova chave, reatualizado
e ampliado: ampliado, de modo
que essa edição, focada nas escolas carioca e paulista, sirva para
estimular outras dedicadas à arquitetura modernista de outras
regiões do país, tão significativas
quanto as daquelas escolas; compreendido, de modo a verificarmos a pluralidade de linguagens
que a generosidade do modernismo abrigou; reatualizado, de modo que o sentido ético e o desejo
de criar uma autonomia e identidade cultural capazes de gerarem
um país novo e um homem livre
sirvam de "guia" para a produção
contemporânea.
Carlos Antônio Leite Brandão é professor de arquitetura na Universidade
Federal de Minas Gerais.
Quando o Brasil Era Moderno - Guia de Arquitetura (1928-1960)
Lauro Cavalcanti (org.)
Aeroplano
(Tel.0/xx/21/2529-6974)
486 págs., R$ 40,00
Texto Anterior: Aquiles e a tartaruga
Próximo Texto: Enredos
Índice
|