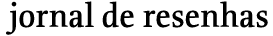|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
Historiador estuda o degredo para o Brasil entre 1580 e 1720
O purgatório da metrópole
JACQUELINE HERMANN
É de uso corrente a afirmação de que o Brasil foi
povoado, em seus primeiros tempos, por degredados e desclassificados sociais de todo tipo. Essa
"raiz" daninha explicaria, para muitos, nossos males
irremediáveis e atávicos, os defeitos de nossa formação social original. Elemento de nossa formação histórica, o degredo ainda aguardava um tratamento
mais amplo e sistemático, como o que nos oferece
"Os Excluídos do Reino". Mais precisamente, o trabalho analisa a prática do degredo para o Brasil,
exercida pela justiça inquisitorial portuguesa, trabalhando com a hipótese de que o desterro integrou a
luta da Santa Inquisição pelo controle, correção e
consolidação da unidade religiosa.
Mas, além da especificidade do objeto de investigação, o livro foi produzido a partir de uma extensa,
minuciosa e detalhada pesquisa documental em diferentes arquivos portugueses, de modo a recuperar,
tanto quanto possível, o rol dos condenados, entre
1580 e 1720, a "idade de ouro do degredo para o Brasil". O período compreende, portanto, o longo e difícil século 17 português, iniciado sob a dominação espanhola e atravessado pela dolorosa luta de recuperação da soberania política, indo até o início do século 18, novo tempo de glória para a monarquia portuguesa, enriquecida pelo ouro que escoava do Brasil.
Exatamente por isso, a partir desse momento outros territórios, como Angola e Cabo Verde, além de
regiões do interior de Portugal, passaram a abrigar
maior número de degredados. No período considerado, o Brasil recebeu nada menos que 49,7% dos
degredados, percentual que não só justifica o estudo
e mesmo confirma a importância do degredo como
instrumento de povoação da América portuguesa,
mas sobretudo revela a complexidade e a lógica específica de um império que utilizou os desclassificados sociais para ocupar e defender aquele que se tornou o seu território colonial mais importante.
Degredo e degradação
O livro traça um amplo panorama da utilização da
prática de degredo pela Justiça portuguesa, inventariando os caminhos legislativos que levaram à adoção desse tipo de punição. Penalidade que retrata
bem a estrutura hierarquizada da sociedade do Antigo Regime, degredar deriva de degradar, diminuir
de grau ou rebaixar, punição gravíssima que, em
Portugal, era muitas vezes usada como sinônimo da
condenação às galés -castigo que obrigava a "remar sem soldo" nas embarcações "del" rei-, pois
na prática ambos significavam rebaixamento social.
Havia, no entanto, uma distinção fundamental. Enquanto as galés eram consideradas "pena vil", destinadas àqueles que ocupavam os lugares mais baixos
da escala social, a pena de desterro era usada para
punir mulheres e homens de linhagem, condenados
por crimes considerados menos graves ou protegidos pelo sangue nobre.
Essa distinção nos permite relativizar afirmações
como a de um historiador português do século 19,
que acreditava ser o Brasil "ergástulo de delinquentes", ou seja, um imenso cárcere de criminosos. Na
verdade, os excluídos do reino que para cá vieram
foram castigados por crimes que hoje sequer seriam
punidos, prevalecendo os bígamos, sodomitas, blasfemadores, feiticeiros, visionários, padres sedutores
e cristãos novos.
O degredo carregava ainda um pesado estigma
moral e religioso. Cumprir pena de desterro significava também expiar os pecados, e o Brasil foi visto
como "purgatório da metrópole", como disse certa
vez Laura de Mello e Souza.
Embora menos trabalhado que o caráter institucional e penal do degredo, o livro dedica um capítulo
precioso, porém modesto, às petições dos condenados aos tribunais inquisitoriais de Lisboa, Évora e
Coimbra solicitando a comutação da pena de degredo. Perfeitamente enquadrados na burocracia do
Santo Ofício, os recursos eram analisados e as justificativas cuidadosamente verificadas. Os argumentos
poderiam ser a debilidade física do condenado para
suportar a viagem, a falta de meios de manutenção
da família abandonada, a ameaça à honra de filhas
menores pela falta dos pais, sobretudo quando o
condenado(a) era viúvo(a).
O pedido de mudança da pena poderia ser tanto
para transferência do lugar de degredo quanto para
pena pecuniária.
Tentando fechar o leque de questões que vão desde
a origem do desterro como pena, passando pelos crimes preferenciais punidos com o desterro, pela estrutura do tribunal inquisitorial e pelas solicitações
do condenados, o livro termina ressaltando a dificuldade para o acompanhamento do destino dos degredados que vieram para o Brasil. A vigilância nem
sempre eficaz sobre aqueles que deveriam trabalhar
para a coroa, as dificuldades de adaptação no exílio
ou ainda os caminhos encontrados para a incorporação no novo lugar produziram um conjunto expressivo de combinações possíveis e ainda em grande parte desconhecidas. Sabe-se, por exemplo, que
alguns degredados viram-se novamente enredados
nas malhas inquisitoriais quando das visitações do
Santo Ofício ao Brasil, nos séculos 16 e 17.
Abordando tema no qual ainda há muito por fazer,
o trabalho de Pieroni não só avança em tudo o que já
se havia estudado até aqui como oferece inúmeras
possibilidades de novas investigações. A proposta de
uma investigação tão ampla e rica do ponto de vista
documental comprometeu, no entanto, uma abordagem mais contextualizada dos diferentes momentos de aplicação da pena. Quando no capítulo 5, por
exemplo, o autor informa que as autoridades do Estado do Maranhão, em 1625, solicitavam cada vez
mais o envio de degredados para "a defesa e conservação da terra", esta e outras datas valorizam tão-somente a importância do degredo como instrumento
de manutenção do império, deixando de apontar as
diferentes conjunturas políticas que tornaram nossa
costa mais vulnerável ao ataque estrangeiro, como
aconteceu durante a dominação espanhola sobre
Portugal, entre 1580 e 1640.
O mesmo se poderia dizer sobre o pouco aproveitamento das petições já referidas, documentação
que poderia completar a análise institucional e
apontar até mesmo os limites e desdobramentos do
degredo no Brasil. Mais que a burocracia dos pedidos, eles poderiam revelar a dimensão aterradora e
solitária do desterro, o medo, as incertezas e sofrimentos impostos a homens e mulheres que procuraram evitar o desterramento. Afinal como bem resumiu Antônio Vieira, "para o degredo ser morte, nenhuma coisa lhe falta".
Os Excluídos do Reino - A
Inquisição Portuguesa e o
Degredo para o Brasil Colônia
Geraldo Pieroni
Editora Universidade de Brasília/Imprensa Oficial
do Estado (Tel. 0/xx/ 61/226-6874)
312 págs., R$ 35,00
Jacqueline Hermann é professora de história na Universidade
Federal Fluminense e autora de "No Reino do Desejado" (Cia. das
Letras).
Texto Anterior: Luiz Otávio F. Amaral: Uma galeria de arte molecular
Próximo Texto: Eliana de Freitas Dutra: Meandros do Estado Novo
Índice
|