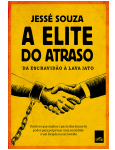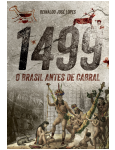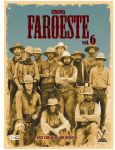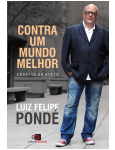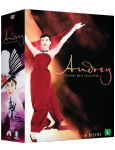Publicidade
Publicidade
hélio schwartsman
Divisão de irresponsabilidades
A pedidos, volto ao caso Pinheirinho. Como afirmei na coluna impressa do último sábado, a operação policial teve um saldo muito ruim: algumas pessoas saíram machucadas, um bom número de famílias ficou sem ter onde morar (muitos já se mudaram para áreas de risco) e o "imbróglio" judicial em torno da massa falida da Selecta não ficou mais perto do fim. O episódio até valeu uma condenação da ONU ao governo de Geraldo Alckmin. Nem há muita novidade aqui: governantes já deveriam ter aprendido que bater em pobres costuma mesmo ser um desastre de marketing.
O mais intrigante nessa história toda é que a maior parte dessas consequências negativas já era previsível muito antes de o juiz assinar a sentença de reintegração de posse e a polícia executá-la. OK. Houve uma mãozinha de militantes ligados a legendas radicais que de algum modo contribuíram para a violência, ao incentivar os invasores a resistir à abordagem da polícia. Isso é de fato lamentável, mas o Estado precisa ser capaz de lidar com esses grupelhos extremistas, esvaziando suas ações sem recorrer à violência. Deixar de fazê-lo é cair em seu jogo. Feita essa observação, a pergunta que não quer calar é: por que tanta gente participou de uma ação da qual claramente resultaria mais mal do que bem?
Respondê-la é tarefa para os novos cientistas do mal, pesquisadores como Roy Baumeister ("Evil"), Jonathan Haidt ("The Happiness Hypothesis"), Steven Pinker ("The Better Angels of Our Nature"), Simon Baron-Cohen ("The Science of Evil") e Philip Zimbardo ("The Lucifer Effect") que se dedicam a estudar como a violência brota e se espalha pela sociedade.
Entre várias descobertas e "insights" valiosos, eles nos mostram que o mal está nos olhos de quem vê. Por maior que tenha sido a atrocidade cometida, seu perpetrador costuma vê-la, se não como um caso de legítima reparação, como um deslize menor.
Como mostram os trabalhos seminais de Baumeister, na narrativa do perpetrador, a história começa com o "ato injusto". Tudo o que ele fez foi responder à agressão de forma razoável, talvez apenas levemente exagerada. O próprio dano tende a ser visto como menor. Já na versão da vítima, o enredo começa muito antes do "ato", que foi apenas um último incidente numa longa história de injustiças, onde a responsabilidade cabe inteiramente ao perpetrador, não raro um sádico homicida.
É fácil ver esses vieses operando nas relações internacionais. Para o israelense, a história começa com a partilha da Palestina pela ONU em 1947 e a subsequente tentativa dos países árabes de varrer Israel para fora do mapa. Desde então, tudo o que os hebreus fazem é defender-se de atos terroristas. Já para os palestinos, a briga começa bem antes, no século 19, para nos atermos à era moderna, quando os judeus passaram a adquirir ou simplesmente ocupar terras na região, expulsando a população local. A partilha da Palestina e a declaração de independência do Estado de Israel foram apenas a cereja do bolo, que os palestinos chamam de "nakba" (catástrofe).
Essa lógica aparece de forma ainda mais exagerada, caricatural mesmo, na declaração de um "serial killer" americano apanhado pela polícia em 1994: "Além das duas pessoas que matamos, das duas que ferimos, da mulher em que demos coronhadas e das pessoas que fizemos comer vidro, não machucamos ninguém".
Explicada a diferença de perspectivas entre perpetrador e vítima, vale a pena relacionar os principais motivos pelos quais agredimos o próximo. Eles são: predação (ou violência instrumental, com vistas a atingir um fim), dominância (o desejo de exercer autoridade ou obter prestígio), vingança (propensão moralística a reparar injustiças), sadismo (o mal pelo mal, mas este é um fenômeno relativamente raro) e a ideologia (criar a sociedade perfeita ou concretizar os desejos de Deus).
Em termos epidemiológicos, a combinação de dominância com ideologia é o maior assassino da história. É o que explica fenômenos como Hitler, Stálin, Mao etc.
É claro que nenhum deles agiu sozinho. Para completar o quadro, é necessário arregimentar alguns seguidores entusiasmados e um grande número de apoiadores passivos, que não se rebelam contra ações que um observador neutro classificaria como imorais. Baumeister mostra que um modo eficaz de arrebanhar essa gente é dividir a responsabilidade, de preferência entre muitos atores, incluindo figuras de autoridade. A psicologia de grupo ensina que, nessas situações, poucos ousarão levantar a voz para denunciar o mal e, como ninguém se sentirá pessoalmente responsável, não deverão opor muita resistência em tomar parte no processo.
É mais ou menos isso o que o nosso sistema acaba fazendo, ainda que involuntariamente. Tudo começa quando um juiz, em geral mais preocupado em resolver seu processo do que com moradia para a população, defere o pedido de reintegração e sai de cena. Depois, vem o governador, que manda a polícia cumprir a determinação judicial. Daí surge o comandante, que ordena à tropa que aja. Os soldados, como têm juízo, obedecem. Ninguém é responsável sozinho e, por isso, fica fácil espancar uns pobres diabos e pôr famílias no olho da rua.
Muitas vezes, essa divisão do trabalho e das responsabilidades funciona para o bem, mas nem sempre. Vale lembrar que foi por um esquema bastante semelhante que os campos de extermínio nazistas puderam funcionar. O sujeito que despachava as vítimas nos trens não era o mesmo que fazia a triagem na porta do "Stalag", que não era o mesmo que jogava o gás, que não era o mesmo que dava um fim aos corpos. Todos, entretanto, animados pela ideologia do Reich, se sentiam moralmente superiores a suas vítimas, que nem sequer eram consideradas humanas.
Foi essa repartição que permitiu à filósofa Hannah Arendt, após assistir ao julgamento do criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann em Israel, cunhar a expressão "banalidade do mal", para descrever a tese de que as grandes catástrofes humanitárias da história não são levadas a cabo apenas por fanáticos e sociopatas, mas por pessoas comuns (como Eichmann, um simples burocrata que cuidava da logística dos campos) que aceitaram a lógica do Estado (ou do grupo, tanto faz) e participaram de um processo que, em sua visão, era normal.
Se a ideia é fazer justiça e não apenas cumprir leis, nossos juízes talvez devessem visitar as áreas a ser reintegradas e conversar com os moradores antes de assinar seus despachos. Os norte-americanos chamam isso de "equal consideration of interests" (igual consideração de interesses), um princípio moral que alguns filósofos consideram tão ou mais importante que a própria noção de direitos.
Não se trata, é claro, de um mecanismo para garantir que reintegrações nunca sejam cumpridas, mas de um dispositivo para garantir que todas as partes, independentemente de sua posição econômica ou política, sejam ouvidas e tenham sua posição cuidadosamente considerada pelo magistrado. É o que Kent Greenfield, do Boston School of Law, define como "sentido jurídico de empatia". Segundo o autor, julgadores precisam desse tipo de empatia para ter uma chance de evitar as más escolhas e os vieses cognitivos que marcam e deturpam nossas decisões.

Hélio Schwartsman é bacharel em filosofia, publicou 'Aquilae Titicans - O Segredo de Avicena - Uma Aventura no Afeganistão' em 2001. Escreve de terça a domingo.
As Últimas que Você não Leu
Publicidade