Publicidade
Publicidade
Dinamarca é exemplo de transição ao baixo carbono; leia trecho
Publicidade
da Folha Online
Quando estourou a primeira crise do petróleo, na década de 70, a Dinamarca tomou a previdente decisão de reduzir a sua dependência energética deste combustível fóssil. Mesmo descobrindo novas reservas do "ouro negro", manteve inabalável a política que promovia a utilização fontes de energia renováveis ao mesmo tempo em que aumentava os impostos para quem preferisse continuar a consumir petróleo e seus derivados.
Mesmo assim, sua economia cresceu 70% desde 1981 --como se sabe, atualmente é um dos países com o melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do mundo--, e a sua indústria se tornou exportadora de produtos e tecnologia de geração de energia solar e eólica.
| Tim Wimborne/Reuters |
 |
| A Dinamarca, em cuja capital Copenhague acontece a Conferência do Clima, é considerada modelo de transição ao baixo carbono |
Este caso, que pode ser considerado um exemplo mundial de transição ao baixo carbono, é relatado no livro "Mundo em Transe: Do Aquecimento Global ao Ecodesenvolvimento", que o professor da FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo) José Eli da Veiga lança este mês.
A obra também discute, entre outros tópicos, as contradições entre crescimento e sustentabilidade, o monitoramento do ecodesenvolvimento e a ameaça causada pela pulverização de armamentos nucleares pelo mundo. Veiga, que também é autor de "Aquecimento Global: Frias Contendas Científicas", defende que estes problemas sejam resolvidos não apenas pelos países ricos e desenvolvidos, mas também pelos ditos emergentes, como Índia, China e Brasil.
Leia a seguir um trecho da obra:
*
TRANSIÇÃO AO BAIXO CARBONO
| Divulgação |
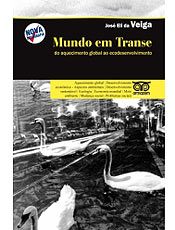 |
| Obra traz algumas das mais atuais temáticas da questão ambiental |
Transição ao baixo carbono é nome de batismo tardio para um processo que já tem mais de 35 anos. Bom exemplo está na firme decisão política da Dinamarca de reduzir sua dependência do petróleo desde a primeira grande crise energética, de 1973-1974. Investiu consistentemente em economia e uso mais eficiente das energias fósseis. E também na promoção de energias renováveis com um imposto incentivador das imprescindíveis inovações. Mesmo a descoberta de reservas offshore de petróleo nos anos 1990 não a impediu de criar outro imposto para explicitamente encarecer a emissão de carbono. Com isso, foi sem aumento do consumo de energia o crescimento de 70% de sua economia entre 1981 e 2008. Em 35 anos caiu de 99% para 0% sua dependência energética do Oriente Médio. E, por ter sido pioneira na geração de energia solar e eólica, fez brotar novo ramo exportador dinâmico e competitivo.
Claro, paralelamente ocorriam coisas até simétricas na maioria dos grandes países ricos, a começar pelos Estados Unidos. Na esteira do embargo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), em 1975 o Congresso fora levado a impor novos padrões para o consumo de combustíveis. E, logo depois, com a crise de 1979, também surgiram programas de estímulo às energias renováveis. O presidente Jimmy Carter até chegou a instalar 32 painéis solares em telhados da Casa Branca. Mas tudo evaporou com Ronald Reagan, quando os republicanos decidiram assumir a hostil postura antissocioambiental que conservam até hoje, o avesso do que ocorrera no governo Richard Nixon.
Com a eleição de Barack Obama, passou-se a ter certeza de que haverá profunda reforma da política energética acoplada à montagem de um regime de mercado para que as maiores empresas emissoras reduzam suas emissões. Um sistema de comércio limitado de decrescentes direitos de emissão (cap and trade), semelhante ao criado pela União Europeia em 2005 (o European Union Emission Trading System - EU-ETS), e mais recentemente em alguns estados dos EUA.
Também há muitas outras trajetórias intermediárias entre a precocidade da via escandinava (pois Finlândia, Noruega e Suécia fizeram como a Dinamarca) e o atraso do paquiderme americano. Por exemplo, França e Reino Unido apostam que o melhor funcionamento do EU-ETS garantirá a redução das emissões provenientes de indústrias pesadas e de geradoras de energia (e também da aviação a partir de 2012). O que precisam, então, é criar mecanismos que tenham o mesmo efeito no restante das indústrias, nos transportes, nas edificações, e na agropecuária. Enquanto a França tende a seguir o exemplo escandinavo, com a criação de uma contribuição fiscal inicialmente chamada de "clima-energia", o Reino Unido prefere estabelecer um inédito sistema orçamentário de carbono, uma linha que sugere mais "comando e controle" que uso de instrumentos econômicos.
O que é comum entre as nações que já estão se engajando na transição ao baixo carbono não é a inevitabilidade dos sacrifícios, embora essa ideia continue bem presente. Basta citar a frase escolhida por Sir David King para subtítulo do livro que escreveu com a jornalista Gabrielle Walker: "Como combater o aquecimento global e manter as luzes acesas"1.
Ao contrário, o que estimula os pioneiros desse processo é a visão de que o combate ao aquecimento global criará uma "nova era de progresso e prosperidade". Não por acaso, o subtítulo do mais recente livro de Sir Nicholas Stern, publicado com títulos diferentes dos dois lados do Atlântico2.
Não há dúvida de que a saída será usar tecnologias existentes e desenvolver novas soluções que permitam superar a era fóssil. Mas isso depende da emergência de novas instituições, tanto para a adoção de inovações já disponíveis, como para as buscas científico-tecnológicas de alternativas. Instituições que variam das mais formais - como leis, decretos e portarias que regulam as políticas energéticas - até as mais informais, como certas mudanças nos hábitos e códigos de comportamento dos consumidores, influenciadas por complexos processos sociais e psicológicos. Daí a importância de se saber como essa transição começou, como está, e que rumo poderá tomar.
Longa espera
Já foi dito que processo de transição teve início nos anos 1970 por razões de segurança energética, como ilustrou o caso da Dinamarca. Todavia, o que em seguida ajudou muito foi ele ter passado a ser decisivamente influenciado pela percepção dos perigos envolvidos pela provável ruptura climática provocada pela elevação das temperaturas, ou aquecimento global.
Demorou muito para que as evidências científicas começassem a ser realmente levadas a sério. A rigor, isso só aconteceu em 2007, trinta e seis anos depois que a primeira reunião internacional sobre o tema reuniu estudiosos de catorze países em Estocolmo3. Foram necessários quase dois decênios para que uma entidade fosse montada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para consolidar os resultados das pesquisas sobre a mudança climática: o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). Decisão que saiu de uma conferência mundial realizada em 1988, em Toronto, cujo título enfatizava "as implicações das mudanças atmosféricas para a segurança global". Quatro anos depois foram adotados no Rio de Janeiro os fundamentos do complexo processo institucional posterior: a Convenção do Clima4. Ainda outros cinco anos se passaram até que fosse assinado o Protocolo de Kyoto, em 1997. E mais oito para que ele pudesse entrar em vigor, em 2005, após a ratificação da Rússia. Um total de trinta e quatro anos!
O pior é que, mesmo depois desse terço de século, não se podia afirmar que tivesse tido sério desdobramento político a tomada de consciência sobre a necessidade de reduzir as emissões de CO2 e preparar a adaptação ao já inevitável aquecimento. No âmbito político, o processo só começou a esboçar uma real inflexão no final da primeira década do século XXI, em razão da longa lista de fatos concatenados que vão do furacão Katrina, em 2005, à posse de Barack Obama, em 2009, passando por uma forte concentração de episódios em 2007, como o Nobel compartilhado por Al Gore com o IPCC, ou a publicação do Relatório Stern5. Quase quarenta anos, portanto.
Muitas outras coisas foram ocorrendo simultaneamente, com destaque para iniciativas de melhorar a eficiência energética de muitos sistemas, ou para as pesquisas científicas e tecnológicas com energias renováveis. Mas tudo isso foi seriamente influenciado pela lentidão do processo institucional. Por isso, o marco até agora mais significativo desse processo foi a assinatura do Protocolo de Kyoto, pois foi ele que mais moldou as tendências atuais. E será o que acontecer com ele que determinará as alterações para a próxima fase, a partir de 2012.
Então, é preciso começar pela constatação de que esse protocolo criou grave trava política por uma razão que é eminentemente ética. Na prática, o único critério adotado para definir as responsabilidades pela estabilização da concentração de gases estufa na atmosfera foi o histórico. O que parece tão justo quanto lógico, já que se trata de um fenômeno essencialmente cumulativo, que começou a ficar sério com a industrialização. A grande responsabilidade pela redução das emissões deveria caber, portanto, aos países que primeiro se industrializaram, e hoje são ricos. Não aos que se atrasaram e, por isso, ainda são pobres ou remediados.
Não houve séria objeção a esse argumento, o que levou a uma separação dicotômica das responsabilidades, na qual todos os países ditos "em desenvolvimento" não precisaram se comprometer em conter suas emissões. E os ditos "desenvolvidos" assumiram irrisórias metas de redução, que foram cumpridas pelos que tiveram colapsos econômicos, no leste europeu. E que talvez sejam cumpridas até 2012 por algumas raras exceções, como o Reino Unido.
Todavia, já é discutível que a responsabilidade possa ser atribuída às gerações que usaram e abusaram do uso de energias fósseis quando nem se sabia que isso causava estrago. É mais ou menos como se a maior parte das populações das Américas e da Oceania atribuísse a culpa a seus antepassados europeus por algo que eles não tinham a mínima possibilidade de saber. A rigor, as responsabilidades pelas emissões de carbono só deveriam ser avaliadas a partir da data em que houve razoável reconhecimento coletivo de que elas são a principal causa do aquecimento global.
Mais uma dupla de critérios
Mas esse argumento não poderá mais alterar o debate, já que houve unanimidade em Kyoto. E não é nefasto que os países mais ricos tenham sido encarregados de começar a faxina. O problema, no entanto, é que existem dois outros critérios éticos que não poderiam ter sido menosprezados. Um relativo ao presente e outro ao futuro.
Se o aquecimento global é uma questão tão séria para a própria viabilidade da vida humana no planeta, quem pode mais deve fazer mais, independentemente de estar entre os que primeiro causaram o problema. Ou seja, as nações com maior capacitação científico-tecnológica, e com mais capital humano, devem assumir compromissos de redução de emissões, mesmo que não façam parte do grupo pioneiro da industrialização e tenham de assumir, pelo critério adotado, a tal "responsabilidade histórica".
Só que esse segundo critério não altera muito a lista dos países mais responsáveis, pois existe uma grande coincidência entre a capacidade presente de responder ao problema e o fato de terem sido os primeiros a se industrializar. As duas listas são semelhantes, embora a ordem em que aparecem os países seja bem diferente. E as poucas exceções - como Israel ou Taiwan - não chegam a alterar o panorama de forma significativa.
Todavia, o mesmo não ocorre com o terceiro critério, que é o da sustentabilidade e está obviamente ligado ao futuro. Dada a natureza do problema do aquecimento global, não faz nenhum sentido isentar de responsabilidades os países que ainda não são desenvolvidos, mas que já são, ou serão, grandes emissores de carbono. Seria como autorizar que alguns continuassem a furar o casco de um barco arriscado de afundar enquanto outros estivessem obrigados a tapar seus buracos porque são os mais antigos...
Esse é evidentemente o caso da China, da Índia, do Brasil, da Indonésia, da África do Sul, e de alguns outros países da semiperiferia emergente. Por ter-se fixado apenas no discutível critério das responsabilidades históricas, o Protocolo de Kyoto gerou uma espécie de direito de continuar a emitir a alguns países que, de nenhuma maneira, podem ser equiparados à mais de uma centena que continua realmente pobre.
Em outras palavras, é uma falácia usar a expressão "em desenvolvimento" para colocar no mesmo saco um segundo mundo formado por um punhado de economias em ascensão e um terceiro formado por mais de uma centena de países com economias que sequer decolaram.
O pior é que essa precariedade do Protocolo de Kyoto também serviu como ótimo argumento para que os conservadores no poder de nações-chave - como Estados Unidos, Canadá e Austrália - deixassem de ratificá-lo. E um tratado internacional com essa importância, sem a participação do principal país emissor, foi evidentemente um ótimo pretexto para que muitos outros fizessem muito menos do que poderiam e deveriam ter feito.
Nem é preciso continuar nessa crítica ao Protocolo de Kyoto para que se perceba a debilidade dos incentivos institucionais ao arranque da transição decorrentes de uma governança mundial da mudança climática. Em vez da percepção do combate ao aquecimento global como fonte de novos mercados e novas oportunidades de negócios, predominou largamente a percepção inversa. A visão de que reduzir emissões só implica sacrifícios. Ônus que não se deve assumir sob pena de prejuízo ao desenvolvimento.
Mesmo assim, engatinharam três tipos de iniciativas para dar preço ao carbono, encarecendo sua emissão. Duas das quais bem características do periclitante início do processo de transição moldado pelo Protocolo de Kyoto: os mercados de créditos de carbono e um esquema de compensações de emissões sob a égide do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Mas antes delas também foi usado algo bem mais tradicional.
Encarecer o carbono
Desde 1990, sete anos antes de Kyoto, a Noruega havia introduzido o instrumento mais preconizado pelos economistas: o imposto. Foi muito importante para encorajar inovações tecnológicas limpas. E o exemplo foi logo imitado pela Suécia, Finlândia e Dinamarca. Mas sem que tenham conseguido harmonizar suas regulamentações. O que forneceu uma espécie de prova da imensa dificuldade de se obter acordos internacionais sobre instrumentos fiscais.
Simultaneamente, tinha ocorrido nos Estados Unidos uma bem-sucedida experiência na redução das emissões de dióxido de enxofre, com consequente contenção da chamada chuva ácida. Foi assim que surgiu a hoje popular expressão cap and trade, cuja melhor tradução não tem chances de pegar: teto e comércio. O teto significa que se fixa um limite para as emissões e, portanto, para a quota que cada participante terá direito de emitir. O comércio significa a compra e venda desses direitos ou autorizações entre os participantes. Quem percebe que não conseguirá ficar dentro de sua quota de emissões tem interesse em comprar parte da quota de outro que já esteja mais eficiente. E, ao vender essa parte, este recebe um prêmio por ter se antecipado na adoção das inovações limpas.
É importante frisar que nos Estados Unidos esse mercado de direitos de emitir dióxido de enxofre só se viabilizou depois de assegurado ao público que o teto anual seria significativamente declinante. Esse é, aliás, um dos casos mais interessantes de inovação institucional resultante de negociações entre empresários e ambientalistas, em sentido oposto à fixação de padrões técnicos, fiscalização e multas a cargo de organismos governamentais, o que se convencionou chamar de "comando e controle". Mostrou que certas agressões ao meio ambiente podem ser mitigadas por mecanismos de mercado que resultam de regulamentações, principalmente as de incentivo6.
Outra vez, era duvidoso que um modelo baseado em experiência nacional que envolvia poucas empresas emissoras, e cujas soluções tecnológicas já eram conhecidas, também pudesse funcionar em termos internacionais, e para um problema tão cheio de incertezas quanto a mudança climática. Mas, na segunda metade dos anos 1990, estava tão forte a onda contrária ao papel do Estado na economia, que nada poderia ter levado os negociadores de Kyoto a ter dúvidas sobre a possibilidade dessa transposição. Por isso rejeitaram o imposto, e entronizaram o "cap and trade".
Logo depois do Protocolo, em 1999, a petroleira britânica BP estabeleceu entre suas subsidiárias um mercado interno para o comércio de créditos de emissões de dióxido de carbono, cujo custo de implantação chegou a US$20 bilhões. Mas que, nos três anos seguintes, teria poupado à empresa a incrível bolada de US$650 milhões. Talvez por isso o Reino Unido tenha se adiantado ao dar início, em 2004, à primeira experiência nacional de cap and trade para todas as suas emissões de carbono. Mas que no início do ano seguinte já foi absorvida pelo esquema europeu de comércio de emissões (EU-ETS).
A participação é obrigatória para principais indústrias emissoras de cada um dos atuais vinte e sete países membros. São obrigados a aderir a uma quota de emissões os setores de geração de energia, metalurgia, produção de cimento, tijolos, polpa de celulose e papel. O que corresponde a cerca de 40% das emissões de carbono da União Europeia.
Mas é importante ressaltar que a distribuição dos créditos entre os vários setores industriais fica a cargo de cada governo nacional. Com isso, a tendência é atribuir muito mais quotas às geradoras de eletricidade, pois são as menos expostas à competição internacional. Como os tetos iniciais foram extremamente generosos, em razão da superestimação das emissões previstas, o preço do crédito de carbono desabou em 2006, fazendo com que as autorizações dadas no ano anterior ficassem quase sem valor. Por isso, depois de tirar as lições desse fracasso, a União Europeia organizou uma "nova fase" para o período 2008-2012, com limites muito mais restritivos.
Coisas parecidas surgiram nos Estados Unidos. A Califórnia tem um sistema estadual. Na região nordeste há um consórcio interestadual. E a voluntária Bolsa do Clima de Chicago vem operando com certo sucesso desde 2003. Algo parecido ocorre na região australiana de New South Wales. E também são otimistas as avaliações do Banco Mundial que relatam aumentos de um suposto "mercado mundial de carbono".
Todavia, multiplicam-se as constatações de que o comércio de carbono não será suficiente. Basta lembrar que o desafio climático exigirá transformações profundas em setores que jamais poderão ser afetados por esquemas cap and trade. Agricultura, transporte privado, ou moradia, não terão como entrar na transição via mecanismos de mercado de direito de emissão.
1. Gabrielle Walker & Sir David King, O tema quente - como combater o aquecimento global e manter as luzes acesas, Rio de Janeiro, Objetiva, 2008.
p(tagline). 2. Nicholas Stern, A blueprint for a safer planet - how to manage climate change and create a new era of progress and prosperity, London, The Bodley Head, 2009; Nicholas Stern, The global deal - climate change and the creation of a new era of progress and prosperity, New York, Public Affairs, 2009.
p(tagline). 3. "Study of man's impact on climate", 1971.
p(tagline). 4. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC). Assinada por 189 países, o mais próximo que se chegou de uma unanimidade global. Em segundo lugar está o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, de 1968, que chegou a ter 187 adesões antes da retirada da Coreia do Norte, em 2003.
p(tagline). 5. Sir Nicholas Stern liderou uma equipe de economistas do Reino Unido que fez, sob encomenda do governo britânico, uma das análises retrospectivas mais extensas já realizadas sobre o tema: The Economics of climate change: the stern review, Cambridge University Press, 2007.
p(tagline). 6. Uma síntese dessa experiência está nas páginas 155 a 162 do livro Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI, de José Eli da Veiga (Rio de Janeiro, Editora Garamond, 2005). Para saber mais, a referência só pode ser o fascinante livro Tudo à venda: as virtudes e limites do mercado, de Robert Kuttner (São Paulo, Companhia das Letras, 1998).
*
"Mundo em Transe: Do Aquecimento Global ao Ecodesenvolvimento"
Autor: José Eli da Veiga
Editora: Autores Associados
Páginas: 118
Quanto: R$ 19,00
Onde comprar: Pelo telefone 0800-140090 ou pelo site da Livraria da Folha
Publicidade
As Últimas que Você não Leu
Publicidade
+ LidasÍndice
- Rio de Janeiro se mantém em nível de desmatamento zero, diz ONG
- Divulgadas primeiras fotos dos corais da Amazônia
- Derretimento de geleira na Antártida pode elevar oceanos em até 2 metros
- Calcule a pegada ecológica dos seus deslocamentos
- Biólogo especialista em classificar espécies está ameaçado de extinção
+ Comentadas






