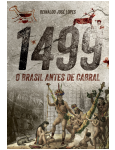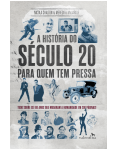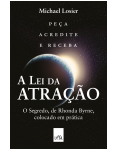Publicidade
Publicidade
11/08/2002
-
03h03
HENRY KISSINGER
À medida que se aproxima o aniversário do ataque ao World Trade Center, a administração americana enfrenta a decisão de política externa que terá as maiores consequências para a Presidência George W. Bush. O presidente e o secretário de Estado, Colin Powell, já afirmaram repetidas vezes que os EUA fazem questão de uma troca de regime no Iraque. Num discurso eloquente proferido em West Point em junho, Bush enfatizou que as novas armas de destruição em massa já não permitem que os EUA se dêem ao luxo de ficar aguardando um ataque; ''precisamos estar prontos para entrar em ação antecipada e preventiva quando isso for necessário para a defesa de nossa liberdade''.
Ao mesmo tempo, a posição formal da administração é que ainda não foi tomada nenhuma decisão no sentido de recorrer à força. A ambiguidade pode, com frequência, ajudar a conscientizar, sem onerar a discussão com a necessidade de uma decisão. Mas, quando a ambiguidade chega ao ponto de permitir vazamentos de informações relativas ao planejamento militar, às discussões no Congresso e às pressões de aliados, é chegada a hora de definir uma política abrangente para os EUA e o resto do mundo.
A nova abordagem é revolucionária. Definir uma mudança de regime como meta de uma intervenção militar desafia o sistema internacional acordado pelo Tratado de Westphalia, em 1648, que, após a carnificina resultante das guerras religiosas, estabeleceu o princípio da não-intervenção nos assuntos internos de outros países. E a noção da ação preventiva e antecipada justificada contraria o direito internacional moderno, que autoriza o uso da força em defesa própria apenas para combater ameaças reais, não potenciais.
Assim, a possível intervenção militar americana no Iraque terá o apoio apenas relutante da maioria dos aliados americanos na Europa, se é que o terá. O Oriente Médio se dividirá entre um grupo não articulado, que vai avaliar o que pesa mais _ver-se livre das pressões radicais vindas de Bagdá ou enfrentar o perigo crescente das ruas árabes locais_, e os islâmicos radicais, já enfurecidos pela presença norte-americana na região. Quanto a outros países, a Rússia vai avaliar o que pesa mais: o golpe contra o radicalismo árabe ou seus interesses econômicos no Iraque, os benefícios da boa vontade americana ou seu receio de ver-se marginalizada. A China vai avaliar a ação em termos de sua relutância em justificar uma intervenção em seu próprio país contra o desejo que Pequim tem de alcançar uma relação de cooperação com os EUA, numa fase de sucessão política e de integração na economia mundial. A reação mais interessante (e, potencialmente, mais fatídica) pode muito bem ser a da Índia, que se sentirá tentada a aplicar o novo princípio da ação antecipada e preventiva contra o Paquistão.
Para abrir caminho no meio desse emaranhado espesso, a administração precisa fixar uma estratégia abrangente a seguir e uma política clara e inequívoca para declarar diante do resto do mundo. E um conflito de tal importância e tais dimensões não pode ser mantido unicamente como expressão do Poder Executivo. É preciso encontrar uma maneira de obter apoio do Congresso e da população.
A administração deve estar preparada para empreender um debate nacional, porque os argumentos a favor da eliminação da capacidade iraquiana de destruição em massa são muito fortes. O regime internacional que se seguiu ao Tratado de Westphalia baseou-se no conceito de um Estado-nação impermeável e de uma tecnologia militar limitada que, de modo geral, permitia que um país corresse o risco de aguardar por um desafio não-ambíguo.
Mas a ameaça terrorista transcende as fronteiras do Estado-nação; ele deriva, em grande medida, de grupos transnacionais que, se conseguirem adquirir armas de destruição em massa, poderão infligir danos catastróficos, até mesmo irrecuperáveis. Essa ameaça se agrava quando essas armas estão sendo produzidas, numa violação direta de resoluções da ONU, por um autocrata implacável que tentou anexar um de seus países vizinhos e atacou outro, dono de um histórico comprovado de hostilidade em relação aos EUA e ao sistema internacional existente. Os argumentos se fortalecem ainda mais pelo fato de Saddam ter expulsado do país os inspetores da ONU enviados como parte do acordo que pôs fim à Guerra do Golfo e de ter usado essas armas tanto contra sua própria população quanto contra um adversário estrangeiro.
É por esse motivo que as políticas que frearam a URSS por 50 anos têm pouca probabilidade de funcionar contra a capacidade iraquiana de cooperar com terroristas. Os ataques suicidas deixaram claro que o raciocínio dos combatentes do jihad não é o mesmo que o das partes envolvidas na Guerra Fria. E os terroristas não têm base nacional a proteger. Assim, a preocupação de que uma guerra contra o Iraque possa desencadear o uso de armas iraquianas de destruição em massa contra Israel e a Arábia Saudita é uma demonstração de autocoibição. Se o perigo existe, aguardar vai apenas ampliar a possibilidade de chantagem.
Existe outra razão _que, de modo geral, não é expressa_ para que se procure levar a situação com o Iraque a atingir um ponto crítico. O ataque ao World Trade Center teve suas origens em muitas partes do mundo islâmico, e, especialmente, do mundo árabe. Não teria sido possível sem a cooperação tácita de sociedades que, nas palavras de Bush, ''se opõem ao terror, mas toleram o ódio que gera o terror''. Embora a estratégia americana de longo prazo deva procurar superar as causas legítimas desses ressentimentos, sua política imediata deve deixar claro que um desafio terrorista ou um ataque sistêmico contra a ordem internacional gera consequências catastróficas para seus perpetradores e também para aqueles que os apóiam, tácita ou explicitamente.
A campanha no Afeganistão constituiu um primeiro passo importante nesse sentido. Mas, se permanecer como a iniciativa principal na guerra contra o terrorismo, ela corre o risco de se enfraquecer e virar nada mais do que uma operação de busca de informações sigilosas, enquanto o resto da região pouco a pouco volta ao padrão anterior a 11 de setembro, sendo os radicais encorajados pela manifestação de hesitação americana, e os moderados, desmoralizados pelo fato de o Iraque continuar como potência regional agressiva, sem nada que o detenha.
A derrubada do regime iraquiano e, no mínimo, a eliminação de suas armas de destruição em massa teriam consequências políticas potencialmente benéficas, também: a chamada rua árabe pode concluir que as consequências negativas do jihad pesam mais do que quaisquer possíveis benefícios. Isso incentivaria o surgimento de uma abordagem nova na Síria, ampliaria as forças moderadas na Arábia Saudita, multiplicaria as pressões em favor da evolução democrática no Irã, deixaria claro para a Autoridade Nacional Palestina que os EUA estão falando a sério quando dizem que querem eliminar tiranias corruptas, e, por fim, proporcionaria um equilíbrio melhor na política petrolífera no interior da Opep.
Ao mesmo tempo, a intervenção no Iraque precisa ser concebida como parte de um contínuo cujo êxito final, em última análise, depende tanto da estratégia que a precede quanto daquela que a segue. A responsabilidade especial que cabe aos EUA, na condição de país mais poderoso do mundo, consiste em trabalhar em prol de um sistema internacional que seja fundamentado em mais do que o poderio militar _que, na verdade, se esforce para traduzir o poder em cooperação. Qualquer atitude diferente dessa vai acabar por nos isolar, pouco a pouco, e nos esgotar. Mesmo quando os EUA agem sozinhos em questões que afetam sua segurança nacional, como o Iraque, é de nosso interesse nacional fazer nossa ação ser acompanhada de um programa de reconstrução posterior à guerra, transmitindo ao resto do mundo a idéia de que nossa primeira guerra antecipada e preventiva foi imposta pela necessidade e que buscamos defender não apenas nossos interesses, mas os do mundo.
Por essa razão, o objetivo da mudança de regime deve ser subordinado, na política americana declarada, à necessidade de eliminar as armas de destruição em massa iraquianas, conforme o previsto nas resoluções da ONU. A restauração do sistema de inspeções existente antes de os inspetores serem expulsos por Saddam é claramente insuficiente. É preciso propor um sistema de inspeção extremamente rígido que consiga impor uma transparência substancial das instituições iraquianas. Como são tão sérias as consequências de simplesmente deixarmos a diplomacia se esgotar, é preciso fixar um limite de tempo. Assim, os argumentos pela intervenção militar terão sido apresentados no contexto da busca por uma abordagem comum.
Nesse ponto, também, os aliados dos EUA serão obrigados a enfrentar a opção da qual, até agora, vêm se esquivando: entre sua oposição interna ou o distanciamento e separação dos EUA. Dissociar-se das ações americanas não salvará os aliados das consequências da abdicação num mundo de terrorismo e armas de destruição em massa, nem do distanciamento de um aliado de meio século.
É preciso prestar atenção especial ao contexto político e psicológico com relação ao mundo árabe. É preciso uma explicação do porquê de as armas iraquianas de destruição em massa impedirem a solução de todos os problemas importantes na região _não em categorias ocidentais de segurança, mas em termos relevantes aos tumultos e reviravoltas na região. É por isso que é tão importante aliar a pressão militar a um programa de reconstrução econômica e social do qual os aliados e os regimes árabes moderados devem ser convidados a participar.
Ao mesmo tempo, a administração deve rejeitar o canto da sereia segundo o qual, antes da intervenção no Iraque, é preciso encontrar uma solução para a questão palestina. Não é verdade que a estrada para Bagdá passa por Jerusalém. É muito mais provável que a estrada a Jerusalém passe por Bagdá. O presidente comprometeu sua administração com um programa de criação de um Estado palestino no prazo de três anos. Ele não deixou margem a dúvidas quanto a sua determinação em fazer esse cronograma avançar. Mas o cronograma não deve ser usado para adiar decisões que não podem esperar.
A complexidade do ambiente internacional deve afetar o desenho das operações militares. Se a guerra se mostrar inevitável, não será hora de fazer experiências. Quanto mais tempo se prolongarem as operações militares, maior será o perigo de distúrbios na região, do distanciamento de outros países e de isolamento dos EUA. Tudo indica que o Iraque esteja muito mais fraco do que estava na Guerra do Golfo, de 1991, e os EUA, várias vezes mais forte. Mas o planejamento deve ser baseado na disponibilidade visível de uma força avassaladora, capaz de enfrentar todas as contingências, e não na expectativa de um colapso iraquiano em pouco tempo. Depender principalmente do poderio aéreo e das forças de oposição locais é perigoso demais, pois não deixa margem para erros ou equívocos de cálculo. Além disso, pode colocar essas forças locais em posição política predominante, excluindo outras opções políticas antecipadamente. Assim, será necessário um envio conspícuo de forças e poderio americanos à região, para dar respaldo à diplomacia com vistas à eliminação das armas de destruição em massa e para dar margem para uma vitória rápida se a ação militar mostrar ser a única opção viável. Além disso, esse deslocamento de forças pode motivar líderes iraquianos a considerar a possibilidade de derrubar Saddam do poder.
Em última análise, porém, a política americana com relação ao Iraque será julgada pelo tratamento político dado à fase que se seguir às operações militares. Precisamente em função da natureza estabelecedora de precedentes dessa guerra, seu resultado, muito mais do que a maneira como entramos nela, é que vai determinar a maneira como as ações americanas serão vistas em nível internacional. E poderemos encontrar muito mais países dispostos a cooperar na reestruturação do que na guerra, mesmo porque nenhum país quer que os EUA ocupem uma posição exclusiva numa região tão central para o fornecimento energético e a estabilidade internacional. Pode ser essa a maneira de fazer o vínculo entre a ação americana unilateral e o sistema internacional.
A intervenção militar vai fazer os EUA enfrentarem a questão de como preservar a unidade e garantir a integridade territorial de um país que é um componente essencial de qualquer equilíbrio no golfo. Com certeza é correta a resposta convencional de que se deve buscar uma solução federal na qual os xiitas, os sunitas e os grupos étnicos curdos do Iraque possam conviver sem que qualquer um deles exerça hegemonia. Mas qualquer planejamento teria de levar em conta os meios para impedir que a autonomia se transformasse em independência, o que, no caso dos curdos, colocaria em risco o apoio da Turquia à fase militar. E tudo isso teria de ocorrer no contexto de um governo com participantes capazes de resistir às pressões exercidas por remanescentes do velho regime ou de países vizinhos, decididos a desestabilizar o sistema emergente.
A intervenção militar deve ser tentada apenas se estivermos dispostos a sustentar tal esforço pelo tempo que for necessário. Afinal, em última análise, a tarefa consiste em traduzir a intervenção no Iraque em termos de aplicabilidade geral a um sistema internacional. A iminência da proliferação de armas de destruição em massa, os perigos enormes que ela envolve, a rejeição de um sistema viável de inspeções, a hostilidade manifesta de Saddam, todos esses fatores se somam para gerar o imperativo da ação preventiva antecipada. Mas não atende aos interesses nacionais americanos estabelecer a ação preventiva antecipada como princípio universal que possa ser aplicado por qualquer país. E estamos apenas no início da ameaça de proliferação global. Sejam quais forem as visões relativas ao Iraque, os países do mundo precisam confrontar a impossibilidade de permitir que esse processo corra solto, sem sofrer qualquer restrição. Os EUA fariam uma grande contribuição a uma nova ordem internacional se convidassem o resto do mundo e, especialmente, as principais potências nucleares, a cooperar na criação de um sistema para lidar com essa ameaça à humanidade numa base mais institucional.
Henry Kissinger, 79, é cientista político norte-americano de origem alemã. Foi conselheiro de Assuntos de Segurança Nacional e secretário de Estado durante os governos Nixon e Ford, de 1969 a 1976. Em 1973 ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter negociado o fim da Guerra do Vietnã.
Tradução de Clara Allain
Análise: Intervir no Iraque surge como imperativo
Publicidade
À medida que se aproxima o aniversário do ataque ao World Trade Center, a administração americana enfrenta a decisão de política externa que terá as maiores consequências para a Presidência George W. Bush. O presidente e o secretário de Estado, Colin Powell, já afirmaram repetidas vezes que os EUA fazem questão de uma troca de regime no Iraque. Num discurso eloquente proferido em West Point em junho, Bush enfatizou que as novas armas de destruição em massa já não permitem que os EUA se dêem ao luxo de ficar aguardando um ataque; ''precisamos estar prontos para entrar em ação antecipada e preventiva quando isso for necessário para a defesa de nossa liberdade''.
Ao mesmo tempo, a posição formal da administração é que ainda não foi tomada nenhuma decisão no sentido de recorrer à força. A ambiguidade pode, com frequência, ajudar a conscientizar, sem onerar a discussão com a necessidade de uma decisão. Mas, quando a ambiguidade chega ao ponto de permitir vazamentos de informações relativas ao planejamento militar, às discussões no Congresso e às pressões de aliados, é chegada a hora de definir uma política abrangente para os EUA e o resto do mundo.
A nova abordagem é revolucionária. Definir uma mudança de regime como meta de uma intervenção militar desafia o sistema internacional acordado pelo Tratado de Westphalia, em 1648, que, após a carnificina resultante das guerras religiosas, estabeleceu o princípio da não-intervenção nos assuntos internos de outros países. E a noção da ação preventiva e antecipada justificada contraria o direito internacional moderno, que autoriza o uso da força em defesa própria apenas para combater ameaças reais, não potenciais.
Assim, a possível intervenção militar americana no Iraque terá o apoio apenas relutante da maioria dos aliados americanos na Europa, se é que o terá. O Oriente Médio se dividirá entre um grupo não articulado, que vai avaliar o que pesa mais _ver-se livre das pressões radicais vindas de Bagdá ou enfrentar o perigo crescente das ruas árabes locais_, e os islâmicos radicais, já enfurecidos pela presença norte-americana na região. Quanto a outros países, a Rússia vai avaliar o que pesa mais: o golpe contra o radicalismo árabe ou seus interesses econômicos no Iraque, os benefícios da boa vontade americana ou seu receio de ver-se marginalizada. A China vai avaliar a ação em termos de sua relutância em justificar uma intervenção em seu próprio país contra o desejo que Pequim tem de alcançar uma relação de cooperação com os EUA, numa fase de sucessão política e de integração na economia mundial. A reação mais interessante (e, potencialmente, mais fatídica) pode muito bem ser a da Índia, que se sentirá tentada a aplicar o novo princípio da ação antecipada e preventiva contra o Paquistão.
Para abrir caminho no meio desse emaranhado espesso, a administração precisa fixar uma estratégia abrangente a seguir e uma política clara e inequívoca para declarar diante do resto do mundo. E um conflito de tal importância e tais dimensões não pode ser mantido unicamente como expressão do Poder Executivo. É preciso encontrar uma maneira de obter apoio do Congresso e da população.
A administração deve estar preparada para empreender um debate nacional, porque os argumentos a favor da eliminação da capacidade iraquiana de destruição em massa são muito fortes. O regime internacional que se seguiu ao Tratado de Westphalia baseou-se no conceito de um Estado-nação impermeável e de uma tecnologia militar limitada que, de modo geral, permitia que um país corresse o risco de aguardar por um desafio não-ambíguo.
Mas a ameaça terrorista transcende as fronteiras do Estado-nação; ele deriva, em grande medida, de grupos transnacionais que, se conseguirem adquirir armas de destruição em massa, poderão infligir danos catastróficos, até mesmo irrecuperáveis. Essa ameaça se agrava quando essas armas estão sendo produzidas, numa violação direta de resoluções da ONU, por um autocrata implacável que tentou anexar um de seus países vizinhos e atacou outro, dono de um histórico comprovado de hostilidade em relação aos EUA e ao sistema internacional existente. Os argumentos se fortalecem ainda mais pelo fato de Saddam ter expulsado do país os inspetores da ONU enviados como parte do acordo que pôs fim à Guerra do Golfo e de ter usado essas armas tanto contra sua própria população quanto contra um adversário estrangeiro.
É por esse motivo que as políticas que frearam a URSS por 50 anos têm pouca probabilidade de funcionar contra a capacidade iraquiana de cooperar com terroristas. Os ataques suicidas deixaram claro que o raciocínio dos combatentes do jihad não é o mesmo que o das partes envolvidas na Guerra Fria. E os terroristas não têm base nacional a proteger. Assim, a preocupação de que uma guerra contra o Iraque possa desencadear o uso de armas iraquianas de destruição em massa contra Israel e a Arábia Saudita é uma demonstração de autocoibição. Se o perigo existe, aguardar vai apenas ampliar a possibilidade de chantagem.
Existe outra razão _que, de modo geral, não é expressa_ para que se procure levar a situação com o Iraque a atingir um ponto crítico. O ataque ao World Trade Center teve suas origens em muitas partes do mundo islâmico, e, especialmente, do mundo árabe. Não teria sido possível sem a cooperação tácita de sociedades que, nas palavras de Bush, ''se opõem ao terror, mas toleram o ódio que gera o terror''. Embora a estratégia americana de longo prazo deva procurar superar as causas legítimas desses ressentimentos, sua política imediata deve deixar claro que um desafio terrorista ou um ataque sistêmico contra a ordem internacional gera consequências catastróficas para seus perpetradores e também para aqueles que os apóiam, tácita ou explicitamente.
A campanha no Afeganistão constituiu um primeiro passo importante nesse sentido. Mas, se permanecer como a iniciativa principal na guerra contra o terrorismo, ela corre o risco de se enfraquecer e virar nada mais do que uma operação de busca de informações sigilosas, enquanto o resto da região pouco a pouco volta ao padrão anterior a 11 de setembro, sendo os radicais encorajados pela manifestação de hesitação americana, e os moderados, desmoralizados pelo fato de o Iraque continuar como potência regional agressiva, sem nada que o detenha.
A derrubada do regime iraquiano e, no mínimo, a eliminação de suas armas de destruição em massa teriam consequências políticas potencialmente benéficas, também: a chamada rua árabe pode concluir que as consequências negativas do jihad pesam mais do que quaisquer possíveis benefícios. Isso incentivaria o surgimento de uma abordagem nova na Síria, ampliaria as forças moderadas na Arábia Saudita, multiplicaria as pressões em favor da evolução democrática no Irã, deixaria claro para a Autoridade Nacional Palestina que os EUA estão falando a sério quando dizem que querem eliminar tiranias corruptas, e, por fim, proporcionaria um equilíbrio melhor na política petrolífera no interior da Opep.
Ao mesmo tempo, a intervenção no Iraque precisa ser concebida como parte de um contínuo cujo êxito final, em última análise, depende tanto da estratégia que a precede quanto daquela que a segue. A responsabilidade especial que cabe aos EUA, na condição de país mais poderoso do mundo, consiste em trabalhar em prol de um sistema internacional que seja fundamentado em mais do que o poderio militar _que, na verdade, se esforce para traduzir o poder em cooperação. Qualquer atitude diferente dessa vai acabar por nos isolar, pouco a pouco, e nos esgotar. Mesmo quando os EUA agem sozinhos em questões que afetam sua segurança nacional, como o Iraque, é de nosso interesse nacional fazer nossa ação ser acompanhada de um programa de reconstrução posterior à guerra, transmitindo ao resto do mundo a idéia de que nossa primeira guerra antecipada e preventiva foi imposta pela necessidade e que buscamos defender não apenas nossos interesses, mas os do mundo.
Por essa razão, o objetivo da mudança de regime deve ser subordinado, na política americana declarada, à necessidade de eliminar as armas de destruição em massa iraquianas, conforme o previsto nas resoluções da ONU. A restauração do sistema de inspeções existente antes de os inspetores serem expulsos por Saddam é claramente insuficiente. É preciso propor um sistema de inspeção extremamente rígido que consiga impor uma transparência substancial das instituições iraquianas. Como são tão sérias as consequências de simplesmente deixarmos a diplomacia se esgotar, é preciso fixar um limite de tempo. Assim, os argumentos pela intervenção militar terão sido apresentados no contexto da busca por uma abordagem comum.
Nesse ponto, também, os aliados dos EUA serão obrigados a enfrentar a opção da qual, até agora, vêm se esquivando: entre sua oposição interna ou o distanciamento e separação dos EUA. Dissociar-se das ações americanas não salvará os aliados das consequências da abdicação num mundo de terrorismo e armas de destruição em massa, nem do distanciamento de um aliado de meio século.
É preciso prestar atenção especial ao contexto político e psicológico com relação ao mundo árabe. É preciso uma explicação do porquê de as armas iraquianas de destruição em massa impedirem a solução de todos os problemas importantes na região _não em categorias ocidentais de segurança, mas em termos relevantes aos tumultos e reviravoltas na região. É por isso que é tão importante aliar a pressão militar a um programa de reconstrução econômica e social do qual os aliados e os regimes árabes moderados devem ser convidados a participar.
Ao mesmo tempo, a administração deve rejeitar o canto da sereia segundo o qual, antes da intervenção no Iraque, é preciso encontrar uma solução para a questão palestina. Não é verdade que a estrada para Bagdá passa por Jerusalém. É muito mais provável que a estrada a Jerusalém passe por Bagdá. O presidente comprometeu sua administração com um programa de criação de um Estado palestino no prazo de três anos. Ele não deixou margem a dúvidas quanto a sua determinação em fazer esse cronograma avançar. Mas o cronograma não deve ser usado para adiar decisões que não podem esperar.
A complexidade do ambiente internacional deve afetar o desenho das operações militares. Se a guerra se mostrar inevitável, não será hora de fazer experiências. Quanto mais tempo se prolongarem as operações militares, maior será o perigo de distúrbios na região, do distanciamento de outros países e de isolamento dos EUA. Tudo indica que o Iraque esteja muito mais fraco do que estava na Guerra do Golfo, de 1991, e os EUA, várias vezes mais forte. Mas o planejamento deve ser baseado na disponibilidade visível de uma força avassaladora, capaz de enfrentar todas as contingências, e não na expectativa de um colapso iraquiano em pouco tempo. Depender principalmente do poderio aéreo e das forças de oposição locais é perigoso demais, pois não deixa margem para erros ou equívocos de cálculo. Além disso, pode colocar essas forças locais em posição política predominante, excluindo outras opções políticas antecipadamente. Assim, será necessário um envio conspícuo de forças e poderio americanos à região, para dar respaldo à diplomacia com vistas à eliminação das armas de destruição em massa e para dar margem para uma vitória rápida se a ação militar mostrar ser a única opção viável. Além disso, esse deslocamento de forças pode motivar líderes iraquianos a considerar a possibilidade de derrubar Saddam do poder.
Em última análise, porém, a política americana com relação ao Iraque será julgada pelo tratamento político dado à fase que se seguir às operações militares. Precisamente em função da natureza estabelecedora de precedentes dessa guerra, seu resultado, muito mais do que a maneira como entramos nela, é que vai determinar a maneira como as ações americanas serão vistas em nível internacional. E poderemos encontrar muito mais países dispostos a cooperar na reestruturação do que na guerra, mesmo porque nenhum país quer que os EUA ocupem uma posição exclusiva numa região tão central para o fornecimento energético e a estabilidade internacional. Pode ser essa a maneira de fazer o vínculo entre a ação americana unilateral e o sistema internacional.
A intervenção militar vai fazer os EUA enfrentarem a questão de como preservar a unidade e garantir a integridade territorial de um país que é um componente essencial de qualquer equilíbrio no golfo. Com certeza é correta a resposta convencional de que se deve buscar uma solução federal na qual os xiitas, os sunitas e os grupos étnicos curdos do Iraque possam conviver sem que qualquer um deles exerça hegemonia. Mas qualquer planejamento teria de levar em conta os meios para impedir que a autonomia se transformasse em independência, o que, no caso dos curdos, colocaria em risco o apoio da Turquia à fase militar. E tudo isso teria de ocorrer no contexto de um governo com participantes capazes de resistir às pressões exercidas por remanescentes do velho regime ou de países vizinhos, decididos a desestabilizar o sistema emergente.
A intervenção militar deve ser tentada apenas se estivermos dispostos a sustentar tal esforço pelo tempo que for necessário. Afinal, em última análise, a tarefa consiste em traduzir a intervenção no Iraque em termos de aplicabilidade geral a um sistema internacional. A iminência da proliferação de armas de destruição em massa, os perigos enormes que ela envolve, a rejeição de um sistema viável de inspeções, a hostilidade manifesta de Saddam, todos esses fatores se somam para gerar o imperativo da ação preventiva antecipada. Mas não atende aos interesses nacionais americanos estabelecer a ação preventiva antecipada como princípio universal que possa ser aplicado por qualquer país. E estamos apenas no início da ameaça de proliferação global. Sejam quais forem as visões relativas ao Iraque, os países do mundo precisam confrontar a impossibilidade de permitir que esse processo corra solto, sem sofrer qualquer restrição. Os EUA fariam uma grande contribuição a uma nova ordem internacional se convidassem o resto do mundo e, especialmente, as principais potências nucleares, a cooperar na criação de um sistema para lidar com essa ameaça à humanidade numa base mais institucional.
Henry Kissinger, 79, é cientista político norte-americano de origem alemã. Foi conselheiro de Assuntos de Segurança Nacional e secretário de Estado durante os governos Nixon e Ford, de 1969 a 1976. Em 1973 ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter negociado o fim da Guerra do Vietnã.
Tradução de Clara Allain
Publicidade
As Últimas que Você não Leu
Publicidade
+ LidasÍndice
- Alvo de piadas, Barron Trump se adapta à vida de filho do presidente
- Facções terroristas recrutam jovens em campos de refugiados
- Trabalhadores impulsionam oposição do setor de tecnologia a Donald Trump
- Atentado contra Suprema Corte do Afeganistão mata 19 e fere 41
- Regime sírio enforcou até 13 mil oponentes em prisão, diz ONG
+ Comentadas
- Parlamento de Israel regulariza assentamentos ilegais na Cisjordânia
- Após difamação por foto com Merkel, refugiado sírio processa Facebook
+ EnviadasÍndice