O ex-presidente dos Estados Unidos Dwight Eisenhower uma vez elogiou Walt Disney por seu "gênio como criador de folclore". O folclore, definido de forma ampla, é uma tradição oral que se estende ao longo das gerações. Ele conta às pessoas quem elas são, como chegaram aqui e como devem viver no futuro. A empresa que Disney criou se autoproclamou guardiã dessas tradições para os americanos, criando novos contos e (mais frequentemente) habilmente reembalando os antigos para atrair um novo século.
Começou com o Mickey Mouse, mas à medida que sua empresa completa cem anos, o legado da Disney —avançado em centenas de filmes, curtas-metragens e programas, mercadorias licenciadas em massa, avanços técnicos maravilhosos, parques temáticos gigantescos ao redor do mundo— foi a produção de uma linguagem compartilhada moderna, um conjunto de pontos de referência instantaneamente reconhecíveis por quase todos, e um incentivo a sonhar em voz alta sobre um futuro utópico.
Walt Disney era um homem que olhava para trás e para frente: falando na abertura da Disneyland em 1955, ele proclamou: "Aqui a idade revive memórias afetuosas do passado, e aqui a juventude pode saborear o desafio e a promessa do futuro". Mas o que acontece quando essa promessa é quebrada e os pontos de referência são isolados? Quando sua empresa enfrenta dificuldades nas bilheterias como um estúdio comum e enfrenta ventos culturais como qualquer artista?
Um senso de otimismo governava o ethos da Disney, baseado em mitologias caseiras. As lições de suas histórias eram simples, inspiradoras e distintamente americanas: acredite em si mesmo, acredite em seus sonhos, não deixe ninguém fazer você se sentir mal por ser você mesmo, seja seu próprio herói e, acima de tudo, não tenha medo de fazer um desejo a uma estrela. Contos de fadas e lendas muitas vezes são inquietantes, mas uma vez lançados sob a luz da Disney, eles se tornaram suaves e doces, suas lições mais sombrias e menos reconfortantes reengenhadas para se adequar ao ideal da Disney. Era uma visão distintamente pós-guerra do mundo.
Começando com "A Pequena Sereia" em 1989 e terminando com "Tarzan" e "Mulan" uma década depois, os animadores da Disney lançaram sucesso após sucesso, agradando críticos e público com filmes como "A Bela e a Fera", "O Rei Leão" e "Aladdin". Para as crianças dos anos 90, cada novo lançamento era um grande evento. Nos anos anteriores a "Shrek" e "Minions", a Disney dominava a animação mainstream, e assim você e seus amigos falavam sobre ver "o novo filme da Disney", e todos sabiam o que você queria dizer.
Provavelmente não é coincidência que o fim da sequência de sucesso tenha coincidido com o início do boicote evangélico à empresa, liderado pela American Family Association de direita, Focus on the Family e a Convenção Batista do Sul. Eles estavam protestando contra a decisão da empresa de estender benefícios aos parceiros do mesmo sexo dos funcionários e permitir que grupos externos realizassem "Dias Gays" nos parques temáticos.
A Hyperion, a editora de propriedade da Disney, havia publicado livros como "Heather Tem Duas Mães", e Ellen DeGeneres, cuja sitcom era exibida na subsidiária da Disney, ABC, havia se assumido lésbica. O boicote durou oito anos, menos eficaz do que os oponentes da empresa poderiam ter esperado (uma pesquisa constatou que apenas cerca de 30% dos membros da organização batista o observavam).
Mas agora o estúdio fazia parte das guerras culturais, uma fragmentação ao longo de linhas ideológicas que redesenharia a vida pública americana de novas maneiras. As crianças nos cinemas não puderam ver na época, mas aquele momento foi o fim de algo que mal tivemos tempo de conhecer: uma monocultura, uma era de clareza de marca para o Rato.
Em 2006, diante de outro estúdio de nome conhecido gerando novas lendas, a Disney adquiriu a Pixar. Em 2009, escassamente um ano depois de "Homem de Ferro" fazer sua estreia, a empresa adicionou a Marvel Entertainment à sua lista. Três anos depois, a Lucasfilm e, assim, "Star Wars" se juntaram à família. Então, em um movimento hercúleo, a Disney comprou a 20th Century Fox —um dos outros antigos e grandiosos estúdios de Hollywood— e a rebatizou de 20th Century Studios. O que conta como "o novo filme da Disney" nesse contexto?
Todas essas novas franquias significaram coisas ótimas para os cofres da empresa. Mas o século 21 trouxe mudanças que fundamentalmente remodelariam o lugar da Disney na cultura americana, bem como sua capacidade de criar novos mitos que atravessam gerações. A monocultura se fragmentou em grande parte, graças à internet, ao streaming e à era digital.
Na web, as divisões já profundas da guerra cultural se tornaram mais nítidas e arraigadas. O ideal que a Disney promovia —um mundo onde "as pessoas podem se unir", como disse o CEO na época, Bob Chapek, em 2022— parecia mais distante do que nunca. "Minha opinião é que, quando alguém caminha pela Main Street e entra nos portões de nossos parques, eles deixam suas diferenças de lado e olham para o que têm como uma crença compartilhada na magia, esperanças, sonhos e imaginação da Disney", explicou Chapek. O que, neste ponto, soa muito como um desejo em uma estrela.
A questão do folclore é que ele muda à medida que o futuro se desenrola. Cada nova geração enfrenta desafios e, portanto, precisa de novas maneiras de contar histórias antigas. No entanto, a Disney, tendo recontado histórias como produto comercial, é única em sua resistência em evoluir sua linguagem. Você pode brincar no quintal da Disney —desde que compre a mercadoria autorizada da Disney, vá aos seus parques oficiais e não ultrapasse os limites. As leis de direitos autorais foram estendidas para proteger a propriedade intelectual da empresa. Se você violar as regras —por exemplo, pintando murais do Mickey Mouse nas paredes de sua creche— a empresa pode processá-lo. Esses limites sobre como os fãs podem interagir com as histórias e personagens que amam preservam uma linguagem rígida ditada de cima para baixo. Mas também impede que aqueles que desejam falar a linguagem comum participem de sua evolução.
As observações de Walt Disney na abertura do primeiro Disneyland, citando tanto a nostalgia quanto o futuro, ajudam a esclarecer por que as últimas ofertas de sua empresa parecem ser os suspiros de uma cultura presa em uma espiral de morte. As chamadas refilmagens em live-action, recreações laboriosamente fiéis de clássicos animados, têm pouco a oferecer em termos de reinterpretar o folclore. Elas parecem, verdadeiras ou não, como produtos de uma imaginação estagnada.
O mesmo acontece com "Wish", o filme mais tradicionalmente animado do estúdio, da equipe criativa por trás de "Frozen" e sua sequência muito menos agradável. "Wish" é explicitamente projetado para servir como uma homenagem centenária da Disney a si mesma: apresenta um personagem que está completando cem anos e está repleto de referências a tudo, desde "Cinderela" e "Bambi" até "Zootopia". "Wish" é desanimador de assistir, uma tentativa de nostalgia que não possui o charme de seus predecessores e sem uma única música memorável. Parece genérico, como se fosse gerado por uma IA treinada no catálogo da Disney. Nada que você lembraria, nada que moldaria sua visão de mundo.
A Disney ainda é a empresa de entretenimento mais dominante em Hollywood, mas não parece mais invencível. Talvez a mudança em direção ao entretenimento como conteúdo, um fluxo interminável de coisas empurradas por um conjunto de tubos para sua sala de estar, seja a culpada. A escassez dá espaço para respirar, permitindo que a antecipação cresça e a criatividade floresça.
Esses mesmos fatores mudaram todo o cenário de Hollywood —na verdade, de toda a indústria do entretenimento. Mas por um tempo, a Disney parecia acima da confusão. Como Bob Iger, o CEO da Disney que saiu em 2021 e depois retornou em 2022, observou no mês passado em uma entrevista ao DealBook, o estúdio dominou a bilheteria por anos, graças à sua formidável propriedade intelectual: o MCU, histórias de "Star Wars", remakes live-action, sequências da Pixar e "Avatar: The Way of Water" arrecadaram números enormes.
Mas há armadilhas comerciais nesse tipo de sucesso, e os fracassos relativos do estúdio este ano —"Indiana Jones e o Disco do Destino", "The Marvels", "Wish"— destacam esse aspecto. "Chegamos ao ponto em que, se um filme não fizesse US$ 1 bilhão na bilheteria global, ficávamos desapontados", disse Iger. "Isso é um padrão incrivelmente alto, e acho que precisamos ser mais realistas."
Para mim, no entanto, o ano morno da Disney levanta questões mais existenciais do que financeiras. Por muito tempo, com algumas exceções ("Frozen", "Moana", "Encanto"), a Disney tem fornecido menos pontos de referência culturais ubíquos do que costumava. A abundância de conteúdo, somada às muitas telas pequenas que oferecem alternativas atraentes ao entretenimento na tela grande, estão prejudicando a capacidade que o estúdio tinha de capturar a imaginação de gerações e fronteiras e propor sua própria maneira de ver o mundo.
A visão de juventude de Walt Disney saboreando "o desafio e a promessa do futuro" é difícil de encontrar nos reboots, prequels, histórias de origem e missões paralelas de vários episódios. Iger disse naquela entrevista que "temos que entreter primeiro. Não se trata de mensagens." No entanto, a empresa que ele lidera sempre foi sobre mensagens, transmitidas ao longo das gerações em histórias amadas. A questão é se a Disney ainda pode garantir que as pessoas estejam ouvindo.




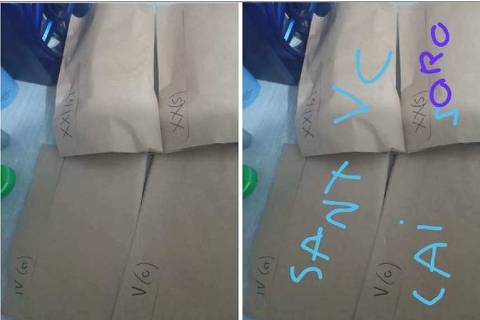

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.