Peguei o livro "Jiboia" (Aboio, 2023), da escritora e jornalista Cecília Garcia, como se cobra fosse. Senti de longe o picado dessas histórias: de bicho, de gente, de rua. De vida e de morte. As palavras com que Cecília desenha o mundo em "Jiboia" são preciosas: uma realidade fantástica das coisas que vivem à nossa frente e a gente esquece de ver.
Os 16 contos desse livro nos convidam a virar a esquina e olhar a fresta de vida e de morte mesmo em meio ao turbilhão da cidade. Como em uma fotografia, Cecília amplia os pedaços mais importantes da paisagem. Afinal, como ela mesma vai dizer em conto homônimo ao nome do livro: "é preciso encontrar a escama da escama. Ou aceitar que não há escama alguma".
Comprar pela capa faz muito sentido nesse caso. A ilustração de Beatriz Garcia, irmã e parceira da autora no Bestiário Brasileiro, nos instiga a descobrir que bicho é esse que olha nos olhos do leitor. Descobrimos esse bicho-palavra logo no primeiro conto, A mãe verde: a primeira de várias finitudes do livro.
Em "Jiboia", a forma como a autora costura as palavras faz delas todas um tecido. É quase palpável: tão luminoso quanto alguns animais marinhos à noite, mas que podem também ser tão opacos quanto outros bichos que precisam se esconder. A palavra ganha vida e vira o que precisa ser para sobreviver, existir. E está aí algo que me faz querer ler um livro até o fim: a vida que encontramos nas palavras, mesmo quando estas falam de morte.
A morte, inclusive, atravessa quase todas as 86 páginas. O mais incrível é que esse livro não se pretende um livro sobre morte, luto ou afins. Mas é, essencialmente, porque trata de vida na sua gênese. E tudo que carrega muita vida, traz pedaços generosos de morte. Afinal, nada é tão vivo que não possa morrer.
Como alguém que olha para a morte em seus diferentes aspectos, honestamente acredito que nada melhor do que trazer o tema para o dia a dia para torná-lo mais próximo. Sem medo, sem tabu.
Como em "Cerol na Galinha", o terceiro conto do livro, a morte é vermelha e está descendo o asfalto, como acontece em muitas periferias e favelas pelo Brasil afora. Com as mãos e o pescoço lambuzados de cerol, Cecília reconstrói a manchete dos noticiários pelo olhar de um menino. Sem pretensão, ela denuncia sem ser inquisidora. Afinal, a pipa é liberdade, e não pescoço pendurado sem vida. Mas as palavras dessa autora cortam também como cerol. Sem rodeio ou metáfora cafona, o "outro lado" tão exigido pelo jornalismo vem da forma mais profunda e cortante possível, em um conto-manchete não sensacionalista:
"Quando se corta a cabeça da galinha, a galinha ainda anda. Meio dinossauro desajeitado, ela pinta tudo ao seu redor, respingando nas plantas, às vezes no azulejo, no avental de quem cortou e se afasta em respeito ou covardia à morte contínua. É uma triste força zumbi, a da galinha. O menino queria muito que o motoqueiro fosse galinha, mesmo que por pouco tempo, mesmo que fosse pra assustar gente enxerida, mesmo que fosse pra morrer depois (...) Seriam amigos e com humor empinariam pipas à luz de um sol que não teria importância se fosse avermelhado que nem a morte".
É emocionante ver esse livro nascer. Em 2017, rascunhamos em papel de boca num bar do centro de São Paulo ideias e sonhos e planos de parir palavra. Me senti sortuda: pela amizade e pela confiança literária que crescia na vontade de fazer nascer um livro. Diante da solidão da escrita, sempre foi confortante saber que essa escritora estava caminhando em uma rua paralela.
Quando cheguei em casa e vi a "Jiboia" se espalhando pelo quintal (o carteiro realmente jogou pelo portão), lembrei dos medos divididos por Cecília. Escrever dói. Roland Barthes já falou sobre a morte do autor a partir do momento que dá vida à palavra no papel: "desde o momento em que um fato é contado, para fins intransitivos, e não para agir diretamente sobre o real, finalmente fora de qualquer função que não seja o próprio exercício do símbolo, produz-se este desfasamento, a voz perde a sua origem, o autor entra na sua própria morte, a escrita começa".
A gente não planeja a reação que teremos em frente à morte. O autor faz a palavra nascer e morrer muitas vezes. Em meio ao processo de escrita e reescrita de "Jiboia", Cecília também viveu um outro luto: o fim da vida do pai, que morreu antes que o livro nascesse.
Vida-morte-vida se apresentou cíclica. Aprendeu com um amigo: toda morte é revolução. Com certeza, cada pequena morte apresentada no cotidiano desse livro também gera micro ou macro revoluções. E como a própria autora diz no conto O fogo frio das crianças, "nenhum de nós sabe o que é isso, nenhum de nós tem o músculo do coração preparado para o mistério.
"Perdi meu pai recentemente, e um amigo me falou uma frase que grudou: toda morte é uma revolução. Há uma comoção tão grande, um deslocamento tão agudo de perspectiva, que mesmo que você fique imóvel, ao redor tudo rodopia, se aloca em lugares inesperados. Encarar essa revolução como inevitável, e escrever sobre ela, falar sobre ela, nos ajuda a estar dentro dessa comoção de uma maneira presente, dentro a dor, dentro a luz, dentro o nascimento".
Quem estiver pelo Rio de Janeiro no sábado (16) pode conhecer a autora pessoalmente na Livraria Janela, situada na Rua Maria Angélica 171 B, Jardim Botânico, no Rio. E quem quiser conhecer a obra, é possível pedir um exemplar no site da Aboio.
Nós batemos um papo com a autora e jornalista Cecília Garcia para entender como a finitude pode aparecer nos mais distintos momentos do nosso cotidiano, sem que a gente perceba, ou que perceba tanto a ponto de fazer literatura e imortalizar os fins, assim como ela bem fez em "Jiboia". Confira!
Quando você começou a escrever? (Você lembra mais ou menos idade, circunstâncias, consegue lembrar por que escrevia?)
Escrever formalmente lá pelos 11 ou 12 anos. Meus pais tinham acabado de comprar um computador e me animou muito a possibilidade de escrever histórias bem fantásticas na máquina, histórias cheias de magia, do impossível, com o barulho retumbante dos dedos no teclado.
Quando eu comecei a assistir desenhos japoneses (anime) lá por essa idade também, eu entrei no universo do fanfic, que são histórias criadas por fãs a partir de um universo amado. Aí comecei a escrever mesmo, regular e religiosamente, quatro, cinco horas por dias. Tive uma adolescência em grande parte solitária, e escrever e publicar as histórias era um jeito ainda que virtual de estar no mundo, de conhecer outras pessoas produtoras de história.
Agora, histórias eu conto desde sempre. Tem gravações minhas com 2, 3 anos, narrando histórias pra minha irmã e, de novo, sempre com pinceladas do surreal, muitos vampiros, tempestades intermináveis, legumes gigantes. Inventar mundos foi sempre meu jeito de estar neste, tão terrível e belo.
O que o verbo escrever significa pra você? Qual a importância dele na sua vida?
Escrever diz de uma maneira de habitar este mundo, os mundos que vivem nesse mundo, humanos e não humanos. Não consigo dizer que gosto de escrever, ou que é terapêutico e prazeroso. Tem a ver mais com respiração, com fazer porque assim organizo ou bagunço o que sinto, e inauguro novos territórios, novos seres, por eles me apaixono e deles me despeço com fúria.
Escrever é muscular, eu sempre fico cansada depois, como correr ou subir uma ladeira. Mas como correr ou subir uma ladeira ou respirar, vou continuar a fazer até não poder mais.
Seu livro de estreia, "Jiboia", traz diversos contos que dialogam com a ideia de finitude. Não a finitude de gente apenas, mas de situações, lugares, e até do mundo, pensando na natureza. Como foi tratar esses temas? Eles se relacionam com sua forma de ver a vida?
Quando comecei a juntar as narrativas do Jiboia, pensei que elas tinham como fio condutor pequenos apocalipses, fins de mundo para os personagens, e a inauguração de novas histórias, o renascimento. Tem algo do horror aí, da proximidade galopante do fim, mas também da fresta que deixa antever a luz, e de passar por ela, aceitando não sair ilesa.
Muitas vezes assistimos filmes ou devoramos livros que falam sobre perspectivas apocalípticas, mas acredito que os apocalipses já aconteceram, estão acontecendo, é só pensar nas populações tradicionais, nas consequências sociais e biológicas do racismo, do capitalismo, do ecocídio, do Negroceno, para trazer a perspectiva da ecologia decolonial do Malcom Ferdinand. Então quis escrever a partir da perspectiva deste fim e do que brota nele. Porque algo sempre brota.
Seus contos trazem algo muito bonito que eu tenho chamado de fotografia ampliada da realidade. Qual é o ponto de partida para escrevê-los?
Que bonito esse conceito, e penso que dialoga exatamente com a maneira que o conto nasce para mim. Uma cena, e dela arvora uma história, para trás ou para frente, linear ou circular, árvore frondosa ou seca. É um desdobramento de algo real, que questiona também o que é real. Está na ordem do incontrolável, o que para mim é bem difícil, porque adoro controlar as coisas, mas o conto nasce à revelia e eu vou junto.
O conto que abre o livro traz uma cena que chega a horrorizar, mas também vem carregado de verdades e representação do que acontece em muitas famílias. Como é esse trabalho de mesclar o fantástico ao real? O inimaginável à concretude de coisas difíceis de serem vistas em nossa sociedade?
No horror, no terror, o que assusta um grupo de pessoas não comove outras: uma casa assombrada, a violência policial, uma floresta queimando, um homem te seguindo na rua, são experiências que têm pesos diferentes para pessoas diferentes.
Para mim, o primeiro conto tem o que me evoca o horror, o confinamento doméstico, a conversão de uma religião prolífera, ligada à natureza, para uma desértica, masculina, colonial. Então sim, o fantástico amplia o medo real, a fratura nossa, a nossa possibilidade imaginativa, de produzir coisas tenebrosas no campo do dia a dia, e ainda viver e achar que o terror é um fantasma pálido. Ele é, mas não só.
Que tipos de narrativas te inspiram? Além dos livros, também oralidades?
Poxa, tanta coisa. Mas vou trazer três grandes contadores de história: Octavia Butler, por sua invenção de mundos a partir das potências e virulências do nosso, e da sua generosidade acessível com a escrita, ainda que estejamos falando de extraterrestres ou vampiros. Evoco também o Apichatpong Weerasethakul, um dos meus cineastas favoritos, com um ouvido imenso para histórias fabulosas da Tailândia e que faz filmes onde não há como escapar do fantástico, ele é palpável como uma parede. E também a Ursula K. Le Guin, por sua generosidade de coletora e por sua habilidade de construir histórias dentro da ruínas, com personagens que se recusam a desaparecer ou a aceitar as coisas como estão postas.
A gente fala abertamente de morte aqui no blog. Seus contos são atravessados por muitos tipos de morte. Como falar disso de forma honesta e sem rodeios como você fez no seu livro?
Continuo pensando esses fins, até mesmo a morte, como possibilidades de reinvenção. Perdi meu pai recentemente e um amigo me falou uma frase que grudou: toda morte é uma revolução. Há uma comoção tão grande, um deslocamento tão agudo de perspectiva, que mesmo que você fique imóvel, ao redor tudo rodopia, se aloca em lugares inesperados. Encarar essa revolução como inevitável, e escrever sobre ela, falar sobre ela, nos ajuda a estar dentro dessa comoção de uma maneira presente, dentro a dor, dentro a luz, dentro o nascimento. Nessa ordem do incontrolável, mas do que vai chegar, compartilhar a ideia da morte, trazê-la para dentro, humaniza esta experiência.


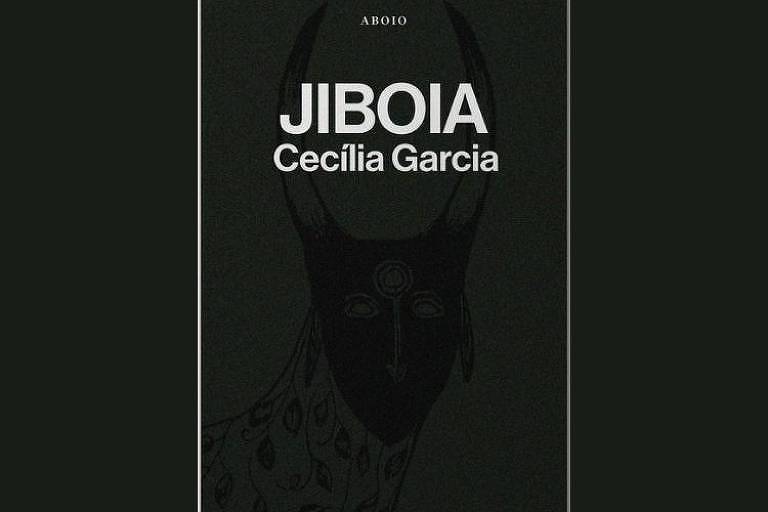





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.