Deparei-me neste ano com um trabalho artístico e político que me marcou. Marcou justamente por me trazer à mente lembranças de quando eu era só um pivete. Batizado de Museu dos Meninos, o projeto do artista Maurício Lima reúne em seu acervo videodepoimentos de jovens negros do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
Na visita virtual guiada, Lima conta as motivações que o levaram a criar este espaço para a memória dos que não são bem-vindos no amanhã, pois continuam sendo vítimas de assassinato em massa por todo o país diariamente. Este tipo de ação, espero eu, deverá inspirar outras quebradas a preservarem suas memórias. Com uma pergunta simples, os 30 entrevistados expressaram nas respostas as complexidades de serem quem são, com os corpos que são, e no lugar onde estão. “O que é futuro?”
Enquanto ouvia —e via— Igor Santos, o poeta Yan Pereira, Wandeson Corrêa e os demais organizados em três coleções, produzidas em 2019, também me ouvi. Lembrei-me de minha juventude na periferia da zona leste de São Paulo. Pensei: e se a mim, na época de moleque e dos demais com os quais convivi, tivessem-nos feito a mesma pergunta? Hoje, no presente que ontem seria imaginado como futuro, consegui me responder. É o que escrevo nas linhas seguintes.
Sabia ele, nos seus dias arruinados, que nada seria do futuro se não conseguisse, ali, encolhido, aguentar a dor toda. Segurou a respiração, impedindo o peito de subir rasante para o alto da camiseta de gola mordida. Conteve-o para, mais uma vez, evitar o medo diante de seus olhos. Todos os dias era isso: “será que de hoje não passo?”, “será que me passam?”. Fosse na escola ou fora dela, desde o início, assim. Todo dia era o fim.
Seus ouvidos já haviam decorado o depoimento choroso das mães perdidas de filhos para a boca do crime, dos pais afogados no álcool cuja salvação era a amortecência dos enterros em balcões; dos velórios de bar; das viúvas de bar; dos longos testamentos pendurados em contas cuja régua jamais era passada. Fechava-se a tampa do caixão com a mudança, por falta de aluguel, para qualquer canto que coubesse o despejo. CEP novo, perigo antigo.
Todo dia era um atravessar de rua suicida. A pressa dos carros –a fugir ou a perseguir– não olhava para os dois lados. Era sempre adiante, no toque. Cabia a ele, o menino, ao ir pegar cigarro com o novo fiador de boteco, cuidar de si. O peso do maço era pouco, o das garrafas de cerveja, mediano, mas o que afundava seus dedos magros eram os bolsos sempre sem fundo e sem troco. Nem de bala, nem de nada. Era o fim.
Olhar para o céu no entardecer custava quase nada. Costas na calçada, uma rachadura no branco algodão das nuvens e lá estava o índigo infinito. Para ele, minúsculo em si, era como voar ao contrário, cair para o alto, leve —o corpo— de uma alma já pesada. Só o sossego que não podia ser, precisava ficar atento, alguém podia passar correndo por cima dele e, assim, fazê-lo para sempre pequeno. A simplicidade de sobreviver com medo e achar formas de continuar com um pé aqui, outro lá. Magia de meninos. Dos meninos crias do barro, do mato seco, das pedras, um dia do asfalto. Na sua estrada de tijolos alaranjados, não saber o que ia ser era, com certeza, o fim.
Saía ele de casa, olhava ao redor, o pavor que a sirene causava, geral na esquina, toda vizinhança olhando, mas ainda era dia. Ainda era claro. Escuro era ele e seus amigos. Anoitecidos, na penumbra é que a perseguição acontecia. O enquadro que não ia para a parede da sala. Durante o dia parecia surreal demais ser caçado, mas ardeu o chute nas pernas, então foi real. Não tinha sido sonho. Quem sonha de pé levando grito na cara? Só assim para acordar para a vida. Era assim que se crescia em seu lugar: com pernas sendo ceifadas pela botina dos outros. Dos homens. E se reclamasse o menino, era o fim.
O estrondo das panelas batendo, dos berros, dos desentendimentos, das páginas de uma vida prematura que nascia de tempestades cotidianas, tudo o compunha. Ele, que era tantos outros e com tantos outros se encontrou pelo caminho. Quietos, sentados na frente das casas, até que a morte os separasse ou o balde de água da vizinha que queria lavar seu quintal. Indesejados, dentro e fora de casa, do útero, nasceram eles, assim, ele e os outros, filhos que vieram ensinar aos seus pais que a vida resiste, persiste, e que infelizmente iria se fazer todo dia vítima do seu próprio desejo de conseguir, mais uma vez, da morte fugir. Sobreviventes, os meninos que nunca experimentam da vida a profundidade da infância inocente. Estão à superfície dela e se não estivessem, era o fim.
Miúdo demais, com a moleira exposta, com a canela seca, com os dedos tortos, com os pés ossudos, os dentes discordantes, olhos grandes e opacos, cabelos embrenhados, e a cor dos que não passam em branco. Era ele. A memória do menino é o que deu —e dá— aos cantos nunca vistos o privilégio de não serem esquecidos. A memória dos meninos não falha, está ali para ser parte do lugar, da origem, da marca e da margem que contorna seus centros, suas bases, o equilíbrio necessário para viver na corda bamba dos sem futuro —que são o futuro.
A memória dos meninos é a memória da gente. Se não fosse, era o fim.





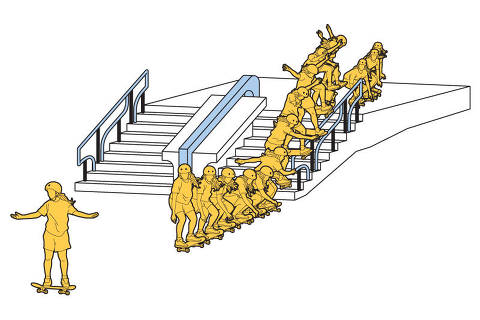
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.