[RESUMO] Autor analisa sentimentos que acompanham o futebol desde que surgiu seu antepassado medieval, no século 14. Ele lembra que o nacionalismo, apesar dos exageros retóricos destes dias, não representa a força preponderante nesse esporte.
É inevitável: os bordões que darão o tom na cobertura da Copa do Mundo remeterão de forma inequívoca a um ufanismo que se renova de quatro em quatro anos.
Da "pátria de chuteiras" à própria noção de "seleção nacional", tudo evocará uma ideia —o nacionalismo— que não acompanha o futebol desde o nascedouro e, apesar dos exageros retóricos destes dias, tampouco representa a força preponderante nesse esporte. E é bom que não represente.
O antepassado medieval do futebol surgiu no século 14 como uma manifestação tribal espontânea na qual os jovens buscavam testar força, velocidade e habilidade. Essas disputas, a princípio mais individuais do que coletivas, aconteciam sobretudo no interior das aldeias, mas não demorou para que elas envolvessem (e opusessem) povoações vizinhas.
Os eventos passaram a provocar tantos distúrbios que, na Inglaterra e na França, motivaram vários interditos monárquicos —muitos dos quais sem sucesso. Foi somente em meados do século 19 que estudantes ingleses, bem de acordo com o espírito da época, criaram regras claras e estritas para aquelas competições, agora coletivas.
Seu tribalismo se reforçava na rivalidade entre grupos no interior de cada colégio ou entre diferentes colégios de uma mesma região. Cada uma dessas novas e pequenas coletividades esportivas tendia a usar o nome da instituição a que pertencia ou do local em que seus integrantes nasceram.
Para estimular a identidade tribal, cada grupo adotou um totem figurado na sala em que se reunia e na roupa usada durante as disputas. Por um processo antropologicamente bem conhecido, desenvolveram-se rituais próprios, com cânticos, heróis, troféus, mitologia.
Caído no gosto popular devido à simplicidade e à intensidade da competição proporcionada pelas regras de 1863, o "football" extravasou dos colégios para bairros, fábricas, associações profissionais. Aos poucos e em paralelo, começaram a surgir grupos maiores —um ou dois por cidade, mais do que isso no caso de Londres.
O tribalismo de todos eles continuou intacto: como o recrutamento de jogadores e adeptos dava-se em zona geográfica bem delimitada, o perfil sociológico e cultural dos envolvidos era relativamente homogêneo.
Esse restrito parentesco artificial vindo de épocas bem anteriores, no entanto, não podia ficar imune ao avanço de outro bem mais amplo e que ganhava terreno no século 19. Os indivíduos nascidos no vasto território colocado sob um mesmo governo, falantes de uma mesma língua e grosso modo seguidores dos mesmos costumes, partilhavam por isso tudo o sentimento coletivo de pertencerem a uma mesma nação, de formarem um único e grande "club", uma associação cimentada por uma história comum.
Assim, era inevitável que logo se realizassem partidas internacionais de futebol. Como o jogo na sua versão moderna nascera na Inglaterra, a primeira disputa entre nações ocorreu em Londres: o país-sede enfrentou a vizinha Escócia, em novembro de 1870, vencendo-a por 1 a 0.
A retribuição deu-se dois anos mais tarde, em Glasgow (0-0); com alternância do país anfitrião, aconteceu um encontro anual até 1989 (salvo durante a Segunda Guerra Mundial), e depois mais algumas partidas sem periodicidade fixa.
Em 1883-1884, organizou-se um campeonato entre as nações britânicas, cuja disputa se repetiu quase ininterruptamente (exceção feita aos períodos de guerra) durante exatos cem anos.
Fora da Grã-Bretanha, logo no começo do século 20, Uruguai e Argentina se enfrentaram. Logo depois foi a vez de Áustria e Hungria. A partir daí, os encontros internacionais foram se tornando mais frequentes e nasceram rivalidades futebolísticas que refletiam e alimentavam as rivalidades geopolíticas.
O passo seguinte foi a criação de uma federação internacional. Fundada em 1904 por oito países europeus (sem a Inglaterra, que aderiria dois anos depois), a Fifa conta hoje com 211 filiados.
Anos depois, sequência natural dos fatos, instituiu-se uma competição mundial. Como se sabe, a Copa do Mundo começou em 1930 e é realizada a cada quatro anos, nos intervalos dos Jogos Olímpicos, ressurgidos na sua versão moderna em 1896.
Atualmente, há quem defenda a Copa de dois em dois anos. Argumenta-se que o modelo quadrienal pertence a um tempo em que o futebol não era efetivamente global, em que os mesmos jogadores podiam participar do mundial de seleções e da Olimpíada, em que os meios de comunicação e transporte não tinham a agilidade de hoje.
Também se sustenta que o intervalo de quatro anos não é adequado ao acelerado ritmo histórico atual. O modelo tradicional acompanha com atraso as mudanças táticas e a efetiva hierarquia futebolística: o campeão de uma Copa pode não ter a melhor seleção do mundo no ano seguinte.
Escamoteando-se interesses financeiros, afirma-se que Copas mais frequentes poderiam diminuir as desigualdades futebolísticas entre os países no plano do profissionalismo, da estrutura e do nível de jogo. Ademais, dado que cada competição é ocasião de encontros, realizá-la mais amiúde seria uma forma de reunir culturas e povos em torno de uma paixão comum.
Esse arrazoado, de um lado, tem a vacuidade do politicamente correto: por que caberia à Copa do Mundo nivelar as condições do futebol em todos os países se seu objetivo, e razão de sua popularidade, é justamente medir forças, comparar, definir o melhor? Além disso, não fica evidente como promover a competição em intervalos menores melhoraria as condições de países futebolisticamente desfavorecidos.
Atribuir à Copa um propósito multiculturalista é ingênuo: torcedores-turistas durante um mês assistindo a partidas de futebol e bebendo em bares com gente de outras nacionalidades tanto pode aproximar quanto acentuar as diferenças. Mais ainda, acontecendo de dois em dois anos, quantas pessoas teriam disponibilidade de tempo e recursos econômicos para se deslocarem a destinos distantes e nem sempre atraentes?
De outro lado, trata-se de argumentação autoritária, pois no fundo propõe o desaparecimento de Eurocopa, Copa América, Copa Africana e Copa Asiática, além de provocar certo esvaziamento da Olimpíada.
O ponto essencial, contudo, é outro. Se o torneio fosse bienal, excluído do calendário o tempo das eliminatórias —mesmo os adeptos da igualdade total reconhecem a impossibilidade de acolher a todos—, dos amistosos preparatórios e da própria Copa, pouco sobraria para as competições nacionais (campeonatos e taças) e continentais (Liga dos Campeões, Libertadores, Liga Europa, Copa Sul-Americana), ou seja, aquelas que fazem viver os clubes, que revelam jogadores e treinadores, que mantêm acesa cotidianamente a paixão do torcedor.
Quem na atual estrutura se mobiliza por uma Copa —pois a seguinte ocorrerá somente quatro anos depois— seguramente estaria menos motivado se ela se tornasse trivial. Copa do Mundo é como diamante, vale pela sua raridade.
Se fosse banalizada, perderia muito de seu interesse: várias seleções teriam a mesma escalação em edições seguidas, a imprensa não reservaria tanto tempo para o evento e os patrocinadores não estariam tão sedentos de associar seus nomes a ele.
Ainda assim, alguém poderia perguntar: antes de terminar um torneio nacional ou continental, os torcedores já não estão de olho no próximo? Não é verdade que o encadeamento das competições alimenta a esperança de coisas melhores na temporada seguinte?
Ora, pensar assim é desconsiderar a diferença entre sentimento tribal e nacional. É adotar a atitude inconsistente de uma certa imprensa que insiste, contra toda a evidência, em querer transformar o tribalismo em nacionalismo.
Por exemplo, no último mundial de clubes, dizer que "o Grêmio é Brasil" revela desconsideração das rivalidades tribais. Nenhum torcedor do Internacional, ou mesmo do Corinthians, do Flamengo, do Santos e do São Paulo (vencedores da mesma competição), apoiou o tricolor gaúcho. Pelo contrário, todos ficaram contra ele. Puseram seus sentimentos tribais acima de um hipotético sentimento nacional no qual não se viam representados (pois a tribo não era a sua).
O fenômeno não é explicável somente pelo fraco patriotismo brasileiro. Ele se verifica, ainda que com outras intensidades, em todo o mundo do futebol. Os países latino-americanos, de história mais recente e Estados mal aparelhados para expressar o sentimento nacional, vivem oscilações fortes entre o tribalismo dos clubes (na maior parte do tempo) e o nacionalismo das seleções (quando das Copas do Mundo).
Nos países europeus, de identidade forjada ao longo de uma extensa história, o nacionalismo no futebol não precisa preencher lacunas do nacionalismo "tout court", ocupando então papel complementar; o protagonismo cabe ao tribalismo.
Por exemplo, na velha Inglaterra, orgulhosa de suas glórias políticas, econômicas e culturais acumuladas ao longo de séculos, a comunidade do Liverpool proclama-se "uma ilha dentro da ilha".
Se a nação inglesa espera que o Estado crie boas condições materiais para seus cidadãos, a tribo dos reds espera que o clube possa "tornar as pessoas felizes", segundo a célebre máxima de Bill Shankly, treinador da equipe de 1959 a 1974.
Enquanto os outros grandes clubes da Inglaterra privilegiam a conquista do título nacional, o Liverpool valoriza as competições europeias (não por acaso, aliás, a cidade votou maciçamente contra o Brexit).
Enquanto boa parte dos ingleses tende a reagir aos eventos de forma fleumática, os seguidores do Liverpool manifestam-se de maneira mais emotiva. Enquanto o conservadorismo e o elitismo definem muito do país, a cidade e o clube de Liverpool são de caráter popular e de esquerda.
A preponderância do tribalismo sobre o nacionalismo fica bem exemplificada na recente final da Liga Europa entre Atlético de Madrid e Olympique de Marseille. Nos respectivos países, poucos pretenderam que aqueles clubes recebessem para a ocasião adesão maciça de outros torcedores. Tratava-se de assunto tribal, não nacional.
Uma charge do jornal francês L'Équipe entendeu bem a questão. Torcedores com a camisa do Paris Saint-Germain comemoram, e a legenda explica com ironia que eles enfim tinham o que festejar numa decisão europeia: a derrota do rival marselhês (o clube parisiense, apesar dos altos investimentos, mais uma vez fracassou no plano continental).
Esse forte substrato tribal também ajuda a entender por que não se deve interpretar certo desamor pela "canarinho" como resultante de um distanciamento físico. É verdade que os jogadores atuam majoritariamente em clubes estrangeiros e que a seleção se apresenta mais no exterior do que aqui. Mas o argumento só procede em parte.
Tão exportadores de futebolistas quanto nós (em termos proporcionais) são Argentina, Colômbia, Espanha, França, Portugal e Uruguai, além de alguns países africanos. Se a quantidade de amistosos do Brasil realizados no país caiu de quase a metade na segunda parte do século 20 para apenas um quinto neste começo do século 21, os dados não são muito diferentes em relação a outras seleções sul-americanas.
As europeias jogam mais vezes em casa, porém não o fazem por maior nacionalismo futebolístico, e sim porque seus jogadores vivem naquele continente, e os palcos dos amistosos estão quase sempre próximos.
Por sinal, se a Copa da Rússia não tem mobilizado patrocinadores como a Fifa esperava, é menos pelos problemas de corrupção do que por certo recuo no interesse geral pelo futebol nacionalista.
Décadas atrás, a Copa do Mundo era ocasião privilegiada para assistir a partidas memoráveis e ver grandes jogadores reunidos num mesmo time. Entretanto, desde a lei Bosman, de 1995, a situação mudou. A livre circulação dos atletas favoreceu a constituição de verdadeiras seleções internacionais agregadas sob bandeiras tribais.
Não é necessário esperar quatro anos para ver os nomes mais talentosos atuando lado a lado; basta acompanhar os principais campeonatos nacionais europeus e suas competições continentais.
Percebe-se então que a hierarquia está diretamente ligada à internacionalização dos times. Os estrangeiros são 8 na equipe-base do campeão inglês e do francês, 7 no campeão alemão e no italiano, 6 no espanhol.
Pensemos nas duas recentes decisões das copas europeias. Na Liga Europa, o vencedor Atlético de Madrid alinhou 8 estrangeiros, e o derrotado Olympique de Marseille, 3. Na Liga dos Campeões, contando as substituições, o Real Madrid contou com 5 espanhóis, e o Liverpool, com 5 ingleses. Nesses finalistas, 3 dos treinadores eram estrangeiros: argentino no Atlético, francês no Real, alemão no Liverpool.
Muitos jogadores só podem mostrar sua qualidade nessas tribos internacionais que são os grandes clubes, dado que suas seleções nacionais são fracas. É o que comprova a recente final da Liga dos Campeões.
No Real, Keylor Navas, apesar do bom desempenho da sua Costa Rica na Copa de 2014, talvez não passe da fase de grupos neste ano; Gareth Bale (autor de dois gols decisivos, um deles magnífico) não irá à Rússia, pois seu País de Gales só se classificou uma vez, em 1958. No Liverpool, os holandeses Van Dijk e Wijnaldum ficarão de fora da Copa, pois sua seleção fracassou nas eliminatórias.
Aliás, os dois maiores astros que entraram em campo na final europeia têm melhores condições de brilhar nas suas respectivas tribos do que poderão fazê-lo na Rússia: o português Cristiano Ronaldo e mais ainda o egípcio Mohamed Salah não encontram companheiros à altura nas suas seleções nacionais.
Enfim, o nacionalismo futebolístico tem limites mais estreitos do que o tribalismo. E essa é uma boa notícia
Se em Portugal, na década de 1960, Eusébio foi declarado "patrimônio nacional" e não pôde ser transferido a um clube estrangeiro, é porque isso servia aos interesses autoritários e nacionalistas do ditador António de Oliveira Salazar. Se na década de 1970 a seleção brasileira realizou cerca de 70% dos amistosos em território nacional, é porque a ditadura militar pretendia tirar dividendos políticos disso.
A própria Copa do Mundo nasceu sob o signo do nacionalismo. A primeira, em 1930, foi no Uruguai porque o país queria comemorar o centenário de sua independência. A Itália acolheu a segunda, em 1934, para exaltar a grandeza da nação e do Estado fascista. A de 1938, na França, teve como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, que se avizinhava e estava no espírito de todos.
Nas edições realizadas em Estados autoritários, o futebol serviu de instrumento de propaganda do regime. De forma direta ou indireta, o resultado da competição foi falseado, como na Itália de Mussolini (1934) e na Argentina de Videla (1978).
Verificando o índice de democracia no mundo em 2017, não é difícil imaginar que vários governos tentarão instrumentalizar a participação na Copa de 2018. Nela estarão só 9 democracias plenas; as chamadas democracias imperfeitas constituem o grupo majoritário (no qual se inclui o Brasil), com 17 países; os regimes híbridos, na fronteira da democracia e da ditadura, terão 2 representantes; por fim, os autoritários serão 4, entre os quais está a anfitriã.
Adeptos convictos do nacionalismo em todos os assuntos costumam lembrar que, na Copa de 1998, apesar dos prolongados litígios geopolíticos entre Estados Unidos e Irã, os jogadores deram-se as mãos antes da partida e atuaram de forma limpa todo o tempo. O exemplo procede, mas também é evidente que o episódio futebolístico não pôs fim ao problema entre os países envolvidos.
No sentido oposto, seria possível lembrar a guerra entre El Salvador e Honduras, em meados de 1969, que partiu de questões fronteiriças, mas foi desencadeada pelos jogos entre os dois países durante as eliminatórias para a Copa do ano seguinte.
O futebol nem gera nem esvazia discordâncias profundas: no máximo pode refleti-las, seja no plano do tribalismo, seja no do nacionalismo.
Alguns afirmam que o tribalismo futebolístico quebra a unidade nacional. Esta, no entanto, em qualquer país, além de ser sempre relativa, é mais um construto do que um dado natural. De resto, certos grupos rejeitam as mesclas sociais e reivindicam para cada minoria o direito exclusivo de falar de si mesma, de sua etnia, sua cultura, sua religião, sua orientação sexual.
Ora, porque escapa à pasteurização do nacionalismo e à fragmentação do multiculturalismo, o tribalismo futebolístico é democratizante, é fator de equilíbrio social. Sob a bandeira de qualquer clube reúnem-se pessoas de diversas origens geográficas e étnicas, de diferentes condições econômicas, de variados níveis culturais, de distintas opções ideológicas, religiosas ou sexuais.
Essa diversidade em pequenas unidades não esconde, é claro, a existência de um mínimo denominador comum a todas elas dentro de um território historicamente definido. Para expressar esse nacionalismo, o futebol precisa da Copa, que por sua vez vive graças ao nacionalismo. De um lado, o sentimento patriótico que o torneio instiga é seu grande poder de atração; de outro, é o risco latente que sempre o acompanha.
É fato que paixões violentas podem surgir tanto de sentimentos tribais como de sentimentos nacionais, mas estes últimos são mais difíceis de serem controlados devido ao seu alto grau de institucionalização e seus amplos recursos materiais e humanos.
Assim, não se pode esperar que a Copa do Mundo —ao contrário do que pensava seu criador, o francês Jules Rimet— seja instrumento de pacificação entre países de boa vontade. Basta que seja uma disputa esportiva limpa dentro e fora do campo.
Quanto àqueles que sonham com a realização mais frequente de Copas do Mundo, vale lembrar o alerta de Goethe: nada é mais difícil de suportar do que uma longa série de dias agradáveis.
Hilário Franco Júnior, historiador, professor aposentado da USP, é autor de "Dando Tratos à Bola - Ensaios sobre Futebol" e "A Dança dos Deuses - Futebol, Sociedade, Cultura".


























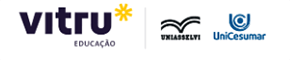





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.