Quando Sérgio Abranches cunhou a expressão “presidencialismo de coalizão”, ele não estava sugerindo um modelo ou algum tipo de estratégia a ser adotado ou não por um partido para ganhar eleições e governar. Ele estava fazendo uma descrição do modo de funcionamento de nosso sistema político.
Os fatos são conhecidos. Presidentes precisam do Congresso para governar. Quando Temer perdeu sua base parlamentar, a reforma da Previdência escorreu pelo ralo; quando Dilma perdeu sua base, foi-se seu governo.
O Congresso é fragmentado, muito mais do que se poderia imaginar, à época da transição para democracia. Presidentes são eleitos por partidos minoritários. Em 2014, o partido com maior bancada fez pouco mais de 13% da Câmara.
Nossa dispersão partidária provém menos da heterogeneidade social brasileira ou de nossa diversidade de visões de mundo e mais da acomodação de redes de clientela política. Somos um sistema fracionado, mas não necessariamente heterogêneo.
Em um quadro como este, estamos condenados a governos de coalizão. Foi assim na era FHC, foi assim na era Lula e mesmo no rápido e instável governo Temer. Foi assim que reformas importantes para o país foram aprovadas no Congresso, algumas delas recentemente.
Não passa de futilidade teórica sugerir que estaríamos melhor sob um modelo de “presidencialismo hegemônico” ou coisa parecida, em que um partido decidisse, sabe-se lá como, governar com minoria ou à revelia do Congresso, batendo tambor em nome de uma intocada pureza ideológica.
É evidente que essa retórica fica bem para quem eventualmente não teve a capacidade de formar alianças, ou não tem pretensões sérias de governar. Acho graça dos que governaram, no passado, precisamente com o centrão, MDB incluído, e hoje constroem sua retórica no repúdio à velha política. Ok, faz parte do jogo, mas é de fato engraçado.
Quem desejar governar, terá de organizar uma coalizão. A pergunta a ser feita é: antes ou depois das eleições? Uma segunda pergunta, óbvia, é: com base em que programa? Será uma aliança para fazer a reforma da Previdência ou para recriar a CPMF, derrubar a PEC do teto e fazer a reforma trabalhista dar marcha a ré?
Essas são as questões reais da política brasileira. Coalizões são instrumentos para dar efeito a programas de governo. Os partidos do centrão, respeitadas exceções, funcionam como tigres de papel. Dispõem de alguma estrutura e tempo de televisão, mas programa, nenhum. São máquinas políticas de gosto duvidoso à espera de migalhas de poder e um polo politicamente hegemônico.
Nossa história recente mostrou que há, de fato, no Brasil, dois centros ativos na política brasileira. Eles ainda são representados, a despeito de toda conversa sobre o fim de um ciclo, pelo PT e pelo PSDB, seus economistas, formuladores e intelectuais.
Partidos como o Novo e o PSOL poderiam representar inovações importantes. É interessante imaginar como estaria nossa democracia, caso finalmente polarizada entre um partido verdadeiramente liberal e um partido verdadeiramente socialista, se é que estas coisas existem. Estaríamos melhor do que estamos hoje? Talvez tivéssemos, finalmente, um debate político-ideológico perfeitamente nítido. Talvez debate nenhum.
De toda sorte, não é este o caso. Os votos do PSOL e do Partido Novo não somam mais do que 3%, em todos os levantamentos, mas é evidente que isto pode mudar nos próximos anos.
De minha parte, tento fugir da turma que anda eufórica, como dos que andam nervosos com a aliança que se anuncia entre o centrão e Geraldo Alckmin. Vejo nela simplesmente uma decorrência das regras do jogo que desenhamos na política brasileira. Vejo nela também a percepção de gente essencialmente pragmática sobre as chances reais de Alckmin ir ao segundo turno. E por fim a chance dos eleitores conhecerem a coalizão que eventualmente pode governar o país antes, e não depois, das eleições.
Se quisermos de fato mudar o modo de negociação e formação de alianças, na política brasileira, será preciso mudar as regras do jogo. Algum avanço foi obtido, no ano que passou, com a introdução da (muito tímida) cláusula de barreira e da proibição de coligações nas eleições proporcionais. São fragmentos de uma reforma política há muito prometida, e que provavelmente terá que ser feita mesmo desse jeito, aos pedaços.
Uma agenda de reformas para valer envolveria três movimentos: a migração para o sistema distrital, puro ou misto; a eliminação dos instrumentos patrimoniais de cooptação, a começar pelo fatiamento do orçamento federal nas emendas individuais; e um processo cirúrgico de redução não apenas do tamanho, mas da vulnerabilidade política do Estado.
Sinais positivos foram dados, nos últimos anos, com iniciativas como a lei de governança das estatais, a PEC do teto e o fim do imposto sindical. E movimentos na contramão, como a criação do super fundo de financiamento eleitoral com dinheiro do contribuinte.
No fundo, vai aí uma guerra cultural sobre visões de país. Precisamos decidir se desejamos viver em uma democracia de captura, com sua combinação infernal de regalias públicas, subsídios, politização de agências reguladoras e déficit fiscal crônico, ou avançar na direção de uma República.
Não é uma decisão que se toma de uma vez por todas, em uma democracia. É um longo caminho a seguir, feito de muitas decisões, em regra difíceis e impopulares. Vai daí, quem sabe, meu estranho desejo de que tenhamos, nos próximo anos, um governo impopular, no país, mas que saiba fazer as coisas andarem pra frente.




























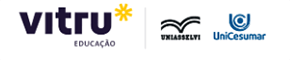





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.