A dificuldade de acesso a medicamentos de alto custo é uma das principais causas da judicialização da saúde, que custa ao Estado cerca de R$ 7 bilhões ao ano. Na visão de Daniel Wang, doutor em direito pela London School of Economics e professor da FGV São Paulo, esse é um cenário insustentável.
Para ele, há uma falácia no raciocínio de que, nesses casos, a disputa acontece entre dinheiro e saúde, pois o serviço de saúde é mantido com recursos limitados. “A disputa não é dinheiro versus vida, é vida versus vida, saúde versus saúde”, afirmou nesta terça-feira (3), em um dos debates do Seminário Doenças Raras.
Organizado pela Folha e patrocinado pelo Grupo Pardini e pelos laboratórios Sanofi e Pfizer, o evento foi realizado no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. A mediação foi realizada por Cláudia Collucci, repórter especial da Folha.
Para Wang, a alta dependência da judicialização produz desigualdades e ineficiência no sistema de saúde atual, espremendo o orçamento da área. Ele citou um estudo do TCU que apontava que, de R$ 1 bilhão gasto com a judicialização em 2017 pelo Ministério da Saúde, 56% eram destinados à compra de apenas dois medicamentos.
“Os sistemas de saúde precisam pensar em custo-efetividade; quando não buscam isso, oferecem menos do que poderiam.” A declaração foi de acordo ao tom da mesa —na avaliação dos debatedores, o acesso a novos tratamentos deve levar em conta a eficiência dessas tecnologias antes de absorvê-las.
Como exemplo disso, Wang citou a Inglaterra, que estabelece dois critérios específicos para aquisição de remédios para doenças raras: um teto para cada paciente e outro para o gasto total do Estado com determinado medicamento.
“A jurisprudência [no Brasil] dá valor quase absoluto à caneta do médico, o que traz uma série de problemas”, afirmou. “Muitas vezes, a concessão de tratamentos é completamente sem critérios.” O Judiciário, disse, ainda resiste a levar os custos em consideração.
Renata Curi, advogada especializada em direito e saúde da CuriE Consultoria, também ressaltou esse aspecto. Ela citou um estudo da Anvisa que apontou que, na média, 3% dos medicamentos incorporados do exterior melhoravam significativamente o quadro dos pacientes.
“Ou seja, a gente tinha uma quantidade enorme de medicamento que era mais do mesmo. Muda a embalagem, a posologia, a cor, a estratégia de marketing, mas havia uma aprovação de drogas que não contribuía para a saúde do paciente.”
Uma das soluções que ela propôs para ampliar o acesso dos pacientes com doenças raras à medicação foram os contratos de risco compartilhado, introduzidos na lei brasileira no ano passado.
Esses contratos estabelecem uma relação entre o Estado e a indústria farmacêutica, na qual o preço do medicamento é determinado a partir dos resultados concretos observados na saúde dos pacientes. Caso os remédios não funcionem, o Estado não é obrigado a pagar as empresas.
“É uma ideia juridicamente muito antiga, mas é uma novidade na área da saúde”, afirmou Curi. Ela considera os contratos de risco compartilhado —que envolvem o Estado, o setor privado, os centros de referência e as associações de pacientes— mais democráticos do que as vias normais para conseguir remédios especializados, que com frequência dependem da judicialização.
Curi também citou como benefícios desse modelo a produção de “dados do mundo real” —ou seja, resultados de como os medicamentos atuam fora das condições controladas dos laboratórios—, a aproximação do governo com as associações de pacientes e o aprimoramento do sistema de precificação de novas tecnologias. Ela admitiu, porém, que, em função da complexidade desse tipo de contrato, ele deve ser utilizado em regime de exceção.
Gustavo Mendes Lima Santos, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), concordou com o raciocínio básico por trás desse modelo.
“Saber que a gente, como governo, compartilha com a empresa o risco de o produto não funcionar e ter de arcar com isso faz mais sentido do que o governo simplesmente fornecer, pagar e deixar a responsabilidade para o médico e o paciente”, disse.
Ele ressaltou que os medicamentos para doenças raras desafiam a proposta básica do órgão, de determinar se os riscos compensam os benefícios. “São pacientes limitados para fazer os estudos clínicos, existe dificuldade para o tratamento, e a pesquisa nem sempre se esgota no momento da regulação do produto”, explicou. Para além disso, quando o medicamento é judicializado ou importado sem registro, é improvável que a Anvisa consiga acompanhar propriamente seu uso.
Daniel Wang, da FGV, afirmou estar preocupado com o quanto a judicialização pode afetar a implementação dos contratos de risco compartilhado no Brasil.
“Se estou negociando com um monopólio, meu único poder de barganha é dizer não. No caso do SUS, essa opção não existe”, disse. “A opção é comprar via judicialização ou comprar via incorporação. O poder de barganha do SUS em demandar melhores acordos de compartilhamento de riscos e melhores preços desaparece. Todas essas ideias podem ser derrubadas porque existe sempre o caminho da judicialização.”
“Cada vez que o gestor elege uma tecnologia, nega outra para um grupo de pacientes”, comentou Renata Curi, da CuriE, sobre o mesmo tema.

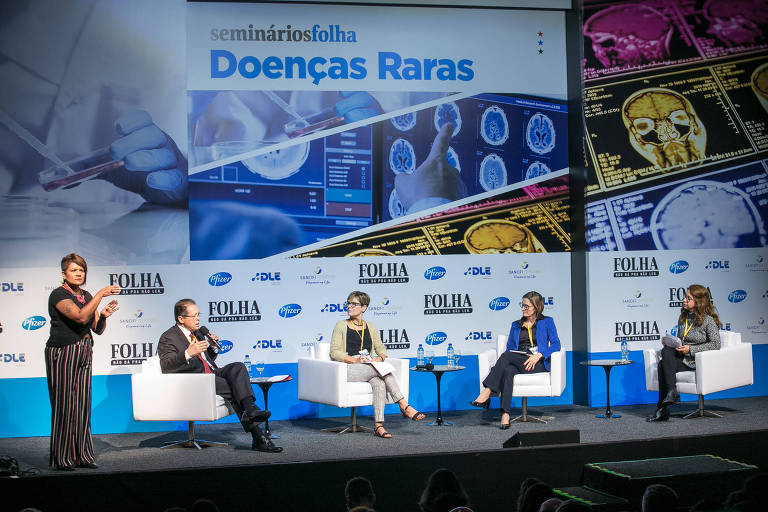




Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.