Foi o som das sandálias se movimentando de forma repentina sobre o piso de cimento liso que chamou a atenção de Paulo. O movimento frenético dos pés em fuga, as cadeiras caindo, os saltos sem nenhum grito, nenhuma palavra, lhe deram a certeza de que algo grave ia acontecer.
Estivera a noite toda tão concentrado na sinuca que não percebeu os dois atiradores. Quando tirou os olhos do feltro verde puído, achou o homem com a escopeta calibre 12 em posição de tiro. Teve tempo de ver o primeiro tiro acertar um rapaz que fugia. Ouviu mais um, dois, três. “Eu me joguei debaixo da mesa de sinuca”, relembra Paulo (ele pediu para ter o nome real omitido), seis meses após aquela noite de janeiro.
A carga do primeiro tiro atingiu o braço. Tentou fingir-se de morto, mas mudou de ideia. Correu. “Quando pisei na calçada senti aquele tranco, parecia uma bomba, voei. Na queda quebrei o braço”. Imóvel, agora com um tiro nas costas e o rosto no chão, ouviu o homem se aproximar.
Fechou os olhos e esperou o impacto. O tiro falhou. Ouviu o engatilhar outra vez. A segunda munição tampouco disparou. Os homens, como vieram, se foram. Em silêncio.
Paulo teve sorte. Ficou 40 dias internado, passou por cirurgias, precisou retirar um pedaço da coxa para enxertar no braço parcialmente dilacerado. Há poucas sequelas.
Jamais foi ouvido pela polícia, e o ataque nunca foi investigado. Ainda assim, ele, seus colegas que estavam no bar, a polícia e qualquer pessoa que viva na extensa periferia da área metropolitana de Belém, sabe exatamente o que aconteceu naquela noite às margens do rio Tucunduba.
Paulo, como centenas de jovens paraenses, fora alvo de um típico ataque de milicianos que disputam o controle do tráfico de drogas com o Comando Vermelho nos bairros pobres da capital paraense. Tem sido assim nos últimos anos. Belém assiste ao crescimento de grupos de policiais, ex-policiais e agentes de segurança pública que se unem para cometer crimes e dominar regiões da capital paraense.
O avanço das milícias por aqui só tem paralelo no Rio. Em nenhum outro estado brasileiro organizações criminosas comandadas por policiais e ex-policiais estão tão organizadas, estruturadas e dominam áreas tão vastas. “Nos últimos anos, eles proliferaram com incrível rapidez e passaram a atuar de forma ativa no tráfico de drogas”, diz o promotor da Justiça Militar paraense Armando Brasil.
Segundo investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do estado, os milicianos dominam o transporte alternativo em várias regiões, a venda de gás em diferentes favelas, a oferta de serviços de TV a cabo, a venda e transporte de produtos contrabandeados e serviços de segurança.
Além disso, controlam parcela considerável do tráfico de drogas local, rivalizando com as facções criminosas. “Aqui os policiais apreendem ou roubam drogas de grandes criminosos para distribuírem a uma rede de pequenos traficantes controlada por eles”, diz o chefe da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, Carlos André Costa.
Não há consenso entre investigadores, autoridades e especialistas que estudam a violência sobre as razões que levaram o Pará, estado com características distintas do Rio, ser onde o modelo das milícias prosperou. Mas há pistas.
As polícias do Rio e daqui são as mais violentas do Brasil. No Rio, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), as forças de segurança do Estado deixaram um rastro de 8,9 mortos para cada grupo de 100 mil habitantes em 2018. Mataram 1.534 pessoas no ano passado. “Não há notícia em todo o mundo de uma polícia mais violenta que a do Rio de Janeiro, nem as forças de segurança da América Central matam tanto”, diz Samira Bueno, diretora-executiva do FBSP.
O Pará, quarto estado mais violento do país, segue o Rio de perto. Em 2018, as polícias do estado mataram mais de 600 pessoas —ou 7,2 para cada grupo de 100 mil habitantes. Em cinco anos, as mortes cometidas por policiais no Pará cresceram mais de 300%. No Rio, a expansão beira 200%. “Não é possível ser categórico, mas há indício de que uma polícia violenta seja a semente para as milícias”, diz Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo.
Assim como mata, a polícia paraense é também uma das que mais morre. Só em 2018, 45 policiais perderam a vida, quase todos fora de serviço. O Pará sempre foi um estado violento, mas a chegada das milícias é um fenômeno novo. “Sempre houve esquadrões da morte com policiais, mas é só a partir de 2014 é que vamos ver esse tipo de organização envolvendo policiais e ex-policiais”, diz o geógrafo da Universidade Estadual do Pará Aiala Couto, que estuda o crescimento da violência em Belém.
A explicação para isso, afirma, pode ser o processo de profissionalização pelo qual passou o crime no estado, com a chegada de facções no final da década passada. Hoje, Belém pertence ao Comando Vermelho. O PCC foi expulso da capital paraense e controla o sul do estado.
“O CV, ao contrário do PCC, é mais belicoso, sempre teve atitude de enfrentamento contra a polícia, isso talvez tenha feito os policiais se unirem e, unidos, perceberam que podiam lucrar —além de fazer um combate direto— sem as fardas”, diz André Costa, secretário adjunto de inteligência.
Costa também vê a decisão do governo paraense de permitir aos PMs levar suas armas para casa como determinante para expandir as milícias. “A partir de 2013 eles ganham esse direito, em 2014 surge a primeira milícia, e em 2015 a coisa começa a se espalhar.”
Desde então, parte das chacinas que tornaram Belém uma das capitais mais violentas é cometida com armas exclusivas das forças de segurança, como as pistolas .40.
Foi assim em maio deste ano, quando 11 pessoas —nove delas sem passagens pela polícia— foram mortas em um bar no bairro do Guamá, área próxima ao centro de Belém e em constante disputa entre o tráfico e as milícias.
Após uma rápida investigação, a Polícia Civil chegou aos autores. A chacina fora encomendada e realizada por ao menos quatro PMs, que, como de costume, usaram suas armas de serviço no crime.
“Até a munição era da PM, os policiais estavam usando balas compradas para treinamento, com carga menor de pólvora, mas letais”, diz o promotor da Justiça Militar Armando Brasil.
Paulo jamais pensou na hipótese de uma munição com menos pólvora desviada do paiol da tropa de choque da PM paraense ter sido a causa do que ele chama de milagre. Atribui a sobrevida aos desígnios divinos. “Deus me deu outra chance e agora não me desviarei mais”, diz ele.
Em todo caso, decidiu não andar mais pelas ruas de paredes pichadas com a sigla do Comando Vermelho de seu bairro depois que a noite cai. “Os milicianos continuam por aqui.”
Morte de cabo da PM detonou proliferação das milícias
Maria Auxiliadora do Socorro, de 62 anos, ainda viu o neto ser abordado pelos homens vestidos de preto a bordo das motos que cortavam as vielas do bairro Terra Firme na noite do dia 4 de novembro de 2014.
Sentira algo e foi até a esquina onde o neto estava. Nervosa, abriu a Bíblia. Eclesiastes capítulo 8, versículo 10: “Assim também vi os ímpios, quando os sepultavam; e eles entravam, e saíam do lugar santo; e foram esquecidos na cidade, em que assim fizeram; também isso é vaidade”.
Ela diz que começou a ouvir os tiros antes de terminar a leitura. Foram seis. Um atingiu a mão de Eduardo, o neto de Maria. Os demais, a nuca. Eduardo, 17, foi a primeira das 13 vítimas da Chacina de Belém, marco no ciclo de violência que a cidade passaria a enfrentar. Ao longo daquela noite e da madrugada seguinte, motoqueiros encapuzados mataram jovens aleatoriamente nas periferias.
Horas antes, Antônio Figueiredo, o cabo Pety, fora assassinado em Guamá. Integrante da tropa de elite da PM paraense, Pety foi o primeiro militar a criar uma milícia com controle territorial em Belém. “Ele esteve duas vezes no Rio atuando junto à Força Nacional e essa passagem por lá o influenciou”, diz o promotor Armando Brasil. “Sua mulher pensa o mesmo, que após ele retornar tudo mudou.”
Pety foi morto pelo Comando Vermelho em uma disputa pelo controle dos bairros pobres de Belém, desencadeando a proliferação de milícias. “Ali é o início, e os governos do Pará foram omissos com a reação dos policiais e a expansão dessas organizações criminosas”, diz o deputado estadual Carlos Bordalo (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Bordalo foi relator da CPI que investigou a chacina.
O sargento Silvano Oliveira da Silva, vereador pelo PSD em Belém, era amigo do cabo Pety e serviu com ele na Força Nacional, no Rio. Admite que o amigo se envolveu em relações ilícitas, mas não que existam milícias em Belém.
“O que há é grupo de extermínio. Mas esse negócio de milícia é invenção do PT”. Silvano elegeu-se na esteira do discurso de endurecimento da polícia. “Tem que matar, o grupo de extermínio é a revolta do policial contra o sistema injusto. Após a morte do Pety, 12 bandidos foram mortos.”
Ele e o deputado federal Delegado Éder Mauro (PSD) são citados como incentivadores da violência policial no estado. Ambos já foram investigados e nunca foram indiciados pelo Ministério Público, que afirma jamais ter encontrado indícios de elo com milícias.
Para Maria Auxiliadora, a tragédia não acabou naquele novembro de 2014. Dois anos depois, outro neto foi atingido por um tiro em ação similar. Neste mês, ele passou por nova operação para reverter a colostomia feita após ser baleado. “Nunca investigaram nada, mas dizem que foi a milícia. Nem quero mais saber, quero que esse sobreviva.”


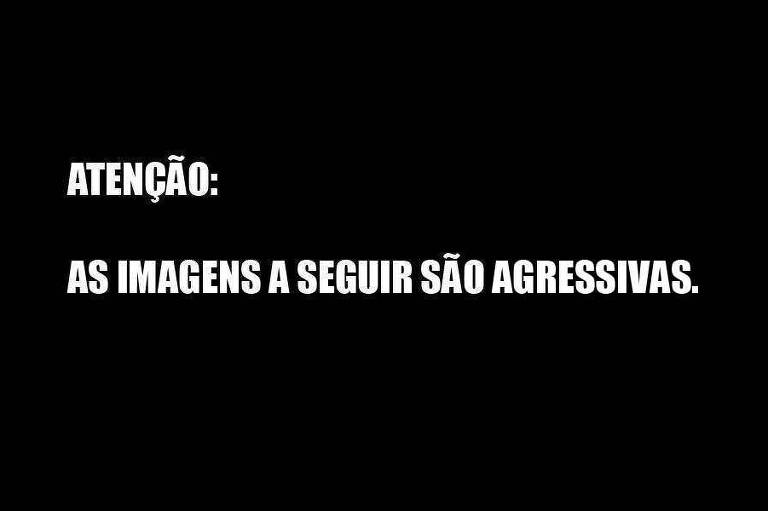

)



































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.