O intenso processo de miscigenação que deu origem à população brasileira de hoje acabou produzindo paradoxos quando o assunto é desigualdade racial.
De um lado, as fronteiras entre grupos sempre foram imprecisas e porosas, e a própria relação entre ancestralidade genética e aparência física muitas vezes é contra-intuitiva: não é difícil encontrar tanto pessoas brancas quanto negras com DNA de origem europeia. Por outro lado, a visibilidade das características associadas a diferentes raças, como a cor da pele, continua sendo o principal motivo para atos conscientes e inconscientes de discriminação.
Aparências diferentes acabam por criar barreiras à interação entre pessoas que tendem a se perpetuar por gerações, mesmo quando as distinções genéticas são pequenas ou inexistentes. No Brasil, essa desigualdade é desfavorável aos que se autodenominam negros.
Como mostra o recém-lançado Ifer (Índice Folha de Equilíbrio Racial), todas as 27 unidades da Federação e regiões do país são marcadas por múltiplas disparidades que restringem o acesso de pretos e pardos a oportunidades em educação, renda e saúde que permitem aos brancos terem melhores condições de vida.
Parte da explicação para os paradoxos associados à desigualdade racial vem do fato de que os traços físicos considerados típicos de indígenas, europeus e africanos são, muitas vezes, resultado de processos bastante recentes na escala de tempo da evolução dos seres humanos.
O exemplo mais marcante, do ponto de vista moderno, é a cor da pele. O Homo sapiens e seus ancestrais mais próximos surgiram na África tropical e, assim que perderam os pelos espessos que caracterizam os demais primatas, desenvolveram pele escura.
Nos trópicos, a pigmentação mais intensa funciona como um filtro solar natural, protegendo o organismo dos efeitos nocivos dos raios ultravioleta do sol sobre o folato, nutriente importante para a saúde da mãe e do feto durante a gravidez (é por isso que se recomenda que grávidas consumam ácido fólico).
Alguns dos H. sapiens africanos começaram a se espalhar para os demais continentes a partir de 70 mil anos atrás, alcançando locais onde a luz solar podia ser bem mais fraca.
Com o passar do tempo, a vida em ambientes pouco ensolarados passou a favorecer os indivíduos com mutações no DNA que lhes conferiam pele mais clara. Esse tipo de tez facilita a produção de outro nutriente-chave, a vitamina D, cuja formação é estimulada pela luz solar.
Tudo indica que mutações associadas à pele clara surgiram há relativamente pouco tempo (entre 20 mil anos e 10 mil anos) e de forma independente nos grupos que deram origem a habitantes do leste asiático e europeus.
“Um estudo recente com latino-americanos mostrou que a cor de pele clara nas regiões miscigenadas das Américas não se deve somente aos europeus, mas também porque algumas mutações em indígenas, vindas de populações da Ásia, contribuem para esse tom de pele”, diz Tábita Hünemeier, geneticista da USP (Universidade de São Paulo).
Isso ajuda a explicar porque muitos brasileiros têm dúvidas sobre como declarar sua cor de pele. A aposentada Marli Paes Landim, 59, por exemplo, relata que se autodenominava branca, seguindo os passos de seus familiares do lado paterno.
Porém, segundo ela, seu avô materno era “caboclo do sertão da Bahia, com traços indígenas e africanos” e a mãe tinha a pele mais clara, “o que se chamava de mulata na época”.
“Me declarei branca a vida toda, embora não me visse como tal. Só recentemente mudei para parda porque também não me vejo como negra. Sou uma miscelânea de raças e cores”, diz ela, que vive em São Paulo.
A colonização europeia no Brasil e em outros locais do continente acabou colocando em contato grupos que tinham desenvolvido mutações genéticas de forma mais ou menos separada ao longo de algumas dezenas de milhares de anos. No cotidiano do Brasil colonial, porém, as distinções raciais, por mais que fossem visualmente marcantes, eram compreendidas de um jeito complicado e fluido.
Quando pessoas de origem não europeia ascendiam socialmente, a própria percepção da ascendência delas tendia a mudar, diz Roberto Guedes Ferreira, historiador da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro).
Ele lembra um episódio de 1816 envolvendo o britânico Henry Koster. Recém-chegado a Pernambuco, o estrangeiro perguntou a um empregado se um capitão-mor era mulato. A resposta foi: “Era, porém já não o é. Pois, senhor, capitão-mor lá pode ser mulato?”.
Essa relativa permeabilidade, porém, não deve ser vista como sinal de uma miscigenação que se deu sem violência.
As análises de DNA coordenadas por pesquisadores como Sergio Danilo Pena, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), revelam contribuição majoritária dos europeus para o genoma dos brasileiros de hoje, que vai de 60% no Nordeste a 80% no Sul.
A parcela indígena é minoritária (de 20% na região Norte a 7% no Sudeste) e a africana ocupa faixa intermediária, sendo mais importante no Nordeste (cerca de 30%).
Mais significativos que essas porcentagens gerais, porém, são os dados dos chamados marcadores uniparentais, ou seja, que rastreiam apenas a herança genética do lado materno ou paterno.
Esses marcadores mostram que a linhagem paterna dos homens brasileiros é europeia em 80% ou mais dos casos, com contribuições muito menores de homens de origem africana –e quase nunca de homens indígenas.
A discrepância é tamanha que fica muito difícil interpretar os dados sem imaginar que homens indígenas e africanos, muitas vezes escravizados, tinham dificuldade para encontrar parceiras, enquanto europeus e seus descendentes monopolizavam, em grande medida, as mulheres de outras origens, muitas vezes pela força. A assimetria foi reforçada a partir de meados do século 19, com o incentivo à imigração europeia.
“Branca como a neve, sou filha de nordestinos, mineiros e paulistas, descendentes de portugueses com indígenas, pardos, negros, judeus e franceses. O fato é tão claro como a cor da minha pele”, relata a aposentada Maria Dulce de Queirós Campos, 68, que vive no Rio de Janeiro.
Para ela, nem os descendentes de europeus que imigraram para o Brasil podem se declarar brancos. “Qual a real ascendência deles? Mouros? Árabes? Negros? Nunca mudei minha declaração de cor porque minha pele é bastante branca, o que não significa absolutamente nada. Todo brasileiro nato é produto de ampla miscigenação.”
Como percebido pela aposentada, a frequência dessa ampla miscigenação “embaralhou” os diversos genes associados à cor da pele e a outras características físicas na população brasileira, de tal modo que, após algumas gerações, esses traços visuais começaram a ficar desacoplados da ancestralidade.
Com isso, embora pessoas que se definem como pretas de fato tendam a carregar uma herança genômica africana mais pronunciada, é comum que haja pouca diferença entre autodeclarados pardos e brancos em regiões como o Norte e o Nordeste, segundo indicam os trabalhos de Pena e seus colegas.
Isso não significa, porém, que a semelhança genética seja sinônimo de igualdade. Outro achado dos estudos genômicos sobre a população brasileira é que existe um impacto considerável do que os especialistas chamam de acasalamento assortativo ou casamento seletivo. Grosso modo, o termo se refere à tendência de as pessoas terem filhos com quem se parece com elas, inclusive fisicamente.
A presença desse fenômeno faz com que, apesar das diferenças genéticas relativamente modestas, as diferenças raciais, e o preconceito associado a elas, acabem se perpetuando no país, como revela o Ifer.
Desenvolvido pelos economistas Sergio Firpo, Michael França e Alysson Portella, do Insper, o índice mostra que, em alguns aspectos e regiões do país, as desigualdades entre brancos e negros –que, na classificação censitária oficial reúne pretos e pardos– têm, inclusive, aumentado.
O Ifer mensura o quão distante a população negra está de situação em que sua participação em estratos de elite seja equivalente ao seu peso populacional. Essa medida é feita em três dimensões: ensino superior completo e presença no topo da distribuição de renda e da pirâmide etária.
Os resultados do indicador em sua série atual, entre 2012 e 2019, mostram que, das três esferas, apenas a alta escolaridade tem registrado significativa redução da disparidade racial. Em renda e sobrevida, o hiato entre brancos e negros vem crescendo.
A complexidade e as contradições das misturas no país ainda se refletem, fortemente, no cotidiano dos brasileiros, a começar pela associação entre cor da pele e status social e profissional.
“Sou negro. Me reconheço como tal desde a adolescência. Não obstante, constantemente tenho que lutar para que a autodeclaração seja aceita em órgãos públicos”, diz o professor de História Caio Cândido Ferraro, 35, de Atibaia (SP).
Para ele, no Brasil, ainda prevalece a leitura de que é inaceitável que um homem de cabelo liso não se reconheça como branco.
“Como se devêssemos fugir para a branquitude, nos agarrando a ela ao menor sinal de descendência/dependência europeia. No entanto, ao negro de pele clara (ou ao pardo) é relegado o tratamento policial adequado ao cidadão negro, bem como as piadas racistas, disfarçadas no banal ‘mas você nem é negro!’.”
































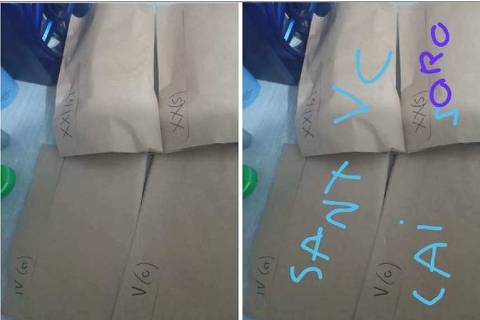
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.