Aos 27 anos, o médico Alexandre Fagundes sonha em voltar a ter autonomia. Em junho de 2020, após um acidente grave de carro no Rio Grande do Sul, por má sinalização na pista, ele sofreu um traumatismo cranioencefálico grave (TCE) e está na segunda internação na Rede de Reabilitação Lucy Montoro, em São Paulo.
Usa cadeira de roda, tem dificuldade de fala e de memória, mas vê avanços no processo de reabilitação. "Já tenho maior controle do tronco." Um sonho? "Voltar a andar, jogar tênis e me especializar em psiquiatria."
Após seis anos e dois meses do grave acidente de carro que sofreu em Canoinhas (SC) e de um longo processo de reabilitação, que envolveu fisioterapia, fonoaudiologia, atividades físicas e cognitivas, o engenheiro elétrico Kaio Fuck, 31, diz que voltou a ter uma vida normal.
Trabalha, dirige, sai com os amigos. Das sequelas deixadas pelo trauma cranioencefálico, persistem convulsões eventuais, que são controladas com medicação. "Nasci de novo em 28 de janeiro de 2017", diz. Não é exagero. No trajeto de 15 minutos até chegar ao hospital público mais próximo, Fuck sofreu oito paradas cardíacas.
Estabilizado, foi transferido para o Hospital Albert Einstein (SP), submetido a uma neurocirurgia e ficou três semanas na UTI. Quando saiu, não andava, usava fraldas e falava poucas palavras... em inglês.
Os traumatismos cranioencefálicos (TCEs) graves representam hoje o principal motivo de morte prematura e de incapacidades física, psicológica e social de adultos no Brasil e têm crescido entre os homens jovens.
Nas cinco unidades da rede Lucy Montoro, ligada ao governo paulista, os casos tiveram alta de 52% entre 2020 e 2022 (de 27 para 41). Os homens representam 87% dos pacientes, com maior incidência na faixa etária entre 21 a 30 anos (30%).
Embora haja muita subnotificação dessas lesões no país, as estatísticas apontam que são cerca de 131 mil internações por TCEs, com os jovens entre 20 e 29 anos respondendo, em média, pela maior fatia desse volume (21%).
Artigo publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, a partir dados do DataSUS, mostra que as despesas públicas com tratamentos saíram de US$ 23,5 milhões (R$ 123,7 milhões), em 2008, para US$ 52,8 milhões (R$ 278 milhões) em 2019. A projeção para 2020 foi de um gasto de US$ 54,5 milhões (R$ 287 milhões).
Desses valores, mais de 80% são com custos hospitalares. Os dados não incluem despesas ambulatoriais, de reabilitação, de medicamentos, de tratamento domiciliar, de cuidadores, de transporte e de dias não trabalhados pelo paciente ou por familiares.
Devido aos impactos dessas lesões nos custos e na vida das pessoas, especialistas da área têm defendido que é o momento de o país rever suas políticas públicas de saúde na prevenção, tratamento e reabilitação desses traumas.
Segundo a médica emergencista Andrea Pereira Regner, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (RS), o Brasil viveu um retrocesso nos últimos anos em relação à prevenção de traumatismos cranioencefálicos causados por acidentes de trânsito e armas de fogo.
Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou eliminar os radares nas rodovias federais, mas esbarrou na Justiça. Ainda assim, houve afrouxamento da fiscalização pela Polícia Rodoviária Federal e, como consequência, o número de acidentes com mortes nas estradas voltou a crescer após sete anos em queda.
"A gente sabe que tem impacto no aumento de traumas quando se afrouxa a fiscalização de velocidade, libera 'pardal' [radares]. A segunda causa de morte no trauma é a violência interpessoal, e a gente percebe uma escalada", diz ela.
Em janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro (PL) flexibilizou, por meio de decretos, as regras de acesso a armas e munições no país. Civis passaram a ter permissão para comprar em quantidade e calibres antes não permitidos, e o Brasil vem batendo recordes em registros e importação.
Regner coordenou um estudo recente em que acompanhou 437 pacientes com TCE grave e um dado impressionou a equipe. Enquanto na literatura internacional a proporção é de dois a três homens vítimas de traumas para cada mulher, no Brasil foram oito homens para cada mulher.
"Pensa no impacto disso em 15 anos. A gente vai ter dificuldade com o corpo masculino que está perdendo capacidade laboral. O TCE grave é o que mais leva à perda de anos de vida", afirma.
Os acidentes com veículos automotores lideram as estatísticas de TCEs graves no Brasil e no resto do mundo. Por aqui, as motocicletas estão à frente dos carros. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito mostraram que, somente em 2021, o número de acidentes foi de 632.764, o equivalente a 72 registros por hora.
A médica lembra que mais de 90% dos pacientes de TCE grave terão algum grau de sequela incapacitante. "Além do custo direto do atendimento do SUS, temos o custo da perda de produtividade dessas pessoas, da necessidade de suporte social [INSS]."
Segundo o neurocirurgião Feres Chaddad, professor e chefe de neurocirurgia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e da BP (Beneficência Portuguesa de São Paulo), hoje há gargalos em toda a linha de cuidado dos traumas cranioencefálicos, a começar no atendimento primário.
"Esses pacientes precisam chegar imediatamente a um hospital que tenha recursos para tratar politraumatizados. O Samu é um grande avanço, mas muitos pacientes ainda são levados a postos de saúde que não têm estrutura para atendê-los e acabam morrendo."
Ele diz que há hospitais do SUS com UTIs neurológicas e equipes especializadas, mas muitos sofrem com a falta de materiais, como cateter para aferir pressão intracraniana, e de estrutura para esses atendimentos.
A superlotação nessas unidades é frequente, o que faz com que as cirurgias demorem muito para acontecer, piorando o prognóstico. "São pacientes de longa permanência, acabam congestionando o pronto-socorro, as enfermarias e as UTIs."
No estudo realizado pela médica Andrea Regner, 91% dos pacientes foram levados ao hospital pelo Samu e tiveram acesso a leitos de UTI. Esse cuidado integrado reflete na redução da mortalidade. Enquanto a taxa de mortalidade nas UTIs por TCEs no país chega a 70%, no grupo avaliado foi de 30%.
O acesso à reabilitação é outra dificuldade. Linamara Rizzo Battistella, professora titular de fisiatria da USP e idealizadora da rede Lucy Montoro, lembra que quanto mais cedo o paciente estiver em um programa adequado de reabilitação, melhor será a resposta e o desfecho. "A reabilitação não começa quando o indivíduo tem alta do hospital, e sim quando chega ao hospital."
Segundo ela, o ideal seria que, após a alta de um centro de reabilitação, esse paciente continuasse sendo acompanhado na atenção primária à saúde para manter os ganhos funcionais. "A manutenção do atendimento na atenção primária faz com que a pessoa consiga retomar uma situação de autonomia adequada."



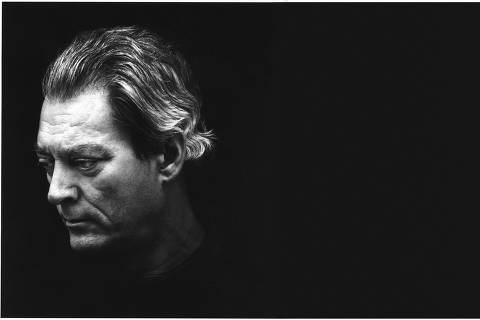

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.