A invasão do Congresso dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 foi uma tentativa de golpe de Estado com participação do então presidente Donald Trump, afirmou o comitê que apura o episódio no Parlamento. Mas, para organizações da sociedade civil que se reuniram para fazer frente ao republicano, "golpe" era uma palavra proibida.
Quem conta é Michael Podhorzer, articulador político conhecido nos bastidores de Washington e que trabalha com a AFL-CIO, maior federação sindical dos EUA. Ele é considerado um dos responsáveis por articular movimentações de sindicatos, entidades de direitos civis e conselhos comunitários para resistir às iniciativas de Trump de tentar reverter a eleição de 2020 perdida para Joe Biden —cenário apontado como semelhante ao do Brasil de hoje e os ataques ao sistema eleitoral por Jair Bolsonaro (PL) e parcelas relevantes de seus apoiadores.
A primeira proposta dos americanos foi justamente não colocar multidões nas ruas com cartazes de "não vai ter golpe". A esquerda, em certa medida, estava preparada para isso, após os atos antirracistas em massa que tomaram as ruas de diferentes cidades meses antes, em protesto contra o assassinato de George Floyd, homem negro asfixiado na abordagem de um policial branco em Minnesota.
"Muita gente da sociedade civil organizada queria sair para protestar ou reagir de alguma maneira. A coisa mais importante que fizemos foi garantir que isso não acontecesse", diz Podhorzer.
É um raciocínio pouco intuitivo, mas, na visão do veterano articulador, reagir às provocações de Trump seria um sinal de falta de confiança no próprio processo eleitoral americano. "Nós tínhamos certeza que a transferência de poder aconteceria, como de fato aconteceu, e precisávamos mostrar confiança de que Biden seria empossado", afirma.
"Colocar uma multidão nas ruas transformaria o caso em uma disputa de esquerda versus direita." Segundo o ativista político, nesse cenário haveria ainda o risco de o então presidente mobilizar as forças de segurança contra os manifestantes, alegando buscar "a pacificação do país".
Assim, de acordo com ele, foi possível forçar alguma normalidade —"não importando o nível de loucura que Trump estivesse falando". Diz Podhorzer: "Uma coisa com a qual pessoas com tendência a ditadores contam é a reação. Se as pessoas não reagem, basicamente dizem ‘Você perdeu e sabe que perdeu’. Elas praticamente riem de quem se acha poderoso demais".
A decisão de evitar as ruas foi sacramentada depois de uma reunião por videochamada entre ativistas de diferentes áreas horas após a invasão do Capitólio, em um dos momentos mais tensos da história recente americana. As estratégias, porém, vinham sendo traçadas havia meses, desde que Trump começara a atacar o sistema eleitoral do país.
O então presidente indicava que se recusaria a conceder a vitória ao adversário democrata, como o fez, e repetiu, como ainda o faz, que houve fraudes e que ele foi o verdadeiro eleito quando o país foi às urnas. A Justiça americana nunca encontrou qualquer indício disso.
Evitar o uso da palavra "golpe" vinha também em uma estratégia de esquivar-se de palavras agressivas aos ouvidos de pessoas de outras esferas políticas, que vinham se incomodando com os pedidos de fim da polícia após a morte de George Floyd.
Podhorzer afirma, porém, que só foi possível "ignorar" Trump dado o alto nível de confiança que os americanos têm em suas instituições —o que ele diz não saber se é possível transpor para o Brasil caso haja tumultos políticos após as eleições presidenciais de outubro.
Não havia receio, por exemplo, de que militares de alta patente tomassem o partido de Trump; no Brasil, parte do alto escalão das Forças Armadas indica ter comprado os argumentos de Bolsonaro de que as urnas eletrônicas não são seguras. "The Divider: Trump in the White House" (o divisor: Trump na Casa Branca), livro prestes a ser lançado nos EUA, conta que o então presidente se mostrava profundamente frustrado com seus chefes militares, a quem considerava insuficientemente leais e obedientes.
Figuras como o general Mark A. Milley, que foi chefe do Estado-Maior Conjunto, agiram dentro do governo para assegurar que as Forças Armadas atuassem como baluarte contra um presidente cada vez mais fora de controle, segundo a obra.
Outro fator essencial para o sucesso na resistência silenciosa a uma tentativa de Trump de roubar as eleições foi o apoio do empresariado à manutenção da ordem no país, segundo Podhorzer. "Isso é o que eu acho que pode ser mais perigoso no Brasil", diz, referindo-se ao apoio que Bolsonaro tem em parte do mercado.
Nos EUA, a rara aliança entre sindicatos e empresariado se tornou pública já na noite da eleição, quando a AFL-CIO divulgou um comunicado conjunto com a Câmara Americana de Comércio —maior grupo de lobby empresarial do país—, e outras instituições, pedindo respeito à contagem de votos. Em novembro, Trump chegou a recorrer à Suprema Corte pedindo que se interrompesse a contagem na Pensilvânia e transformou em bordão a frase "Parem de contar!"
"É imperativo que se dê às autoridades eleitorais espaço e tempo para contar cada um dos votos de acordo com as leis aplicáveis", dizia o texto. Guardadas as devidas proporções, um pouco na linha de recentes cartas em defesa do Estado de Direito no Brasil.
Tímida, essa foi uma das poucas manifestações públicas do setor. Nos bastidores, porém, a movimentação foi muito mais intensa, e CEOs de grandes empresas passaram a mandar recados para Trump de que não o apoiariam caso levasse a cabo um golpe.
Para os envolvidos nas articulações da época, o fato de isso ter se dado de maneira privada, não em público, teria convencido o republicano de que as manifestações eram sérias. Os recados teriam sido passados por emissários, sobretudo advogados com bom trânsito entre nomes importantes do partido.
Um ano depois da intensa articulação política que decidiu "não fazer nada" —ao menos não em público—, Podhorzer vê sucesso na operação, já que Trump não conseguiu roubar a eleição. Mas ele afirma ter dúvidas sobre a possibilidade de reproduzir a estratégia no Brasil, caso apoiadores de Bolsonaro decidam causar distúrbios no país após uma eventual derrota dele para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Ele defende que tanto Trump quanto Bolsonaro não serão automaticamente esquecidos da esfera pública. "Nos EUA, Trump representa uma mudança muito mais profunda que acontece há pelo menos 15 anos na sociedade", diz, referindo-se ao aumento da angústia e do ressentimento com a classe política, sobretudo após a crise de 2008, e à radicalização.
"Essas coisas não existem por causa de Trump. É o contrário, Trump é produto disso. É por isso que há muitos Trumps nas estruturas governamentais do interior do país", acrescenta, sem citar nominalmente figuras que seguem uma linha ainda mais agressiva que a do ex-presidente, como o governador da Flórida, Ron DeSantis. "Isso não vai embora do dia para a noite."





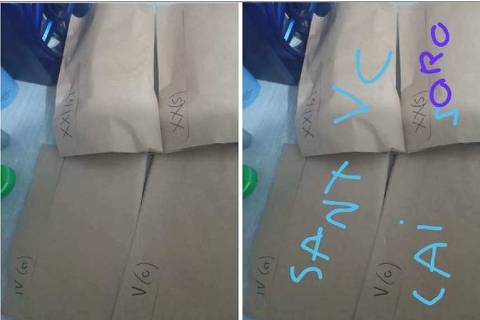
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.