Não acredito muito nas definições das gerações que se sucederam desde o começo do século passado. Por exemplo, considero que os baby boomers (ou seja, os filhos da explosão demográfica no fim da Segunda Guerra Mundial) são os que nasceram entre 1946 e 1956 no máximo —enquanto, em geral, chamam-se baby boomers os nascidos entre 1946 e 1964.
É que, para mim, um verdadeiro baby boomer é quem esteve na idade da razão na segunda metade dos anos 1960, para entender o que estavam sendo o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e, claro, 1968 na França e na Europa.
Ou seja, baby boomer é quem sabe que viveu durante as únicas revoluções (relativamente) bem-sucedidas do século 20.
Outro traço crucial é que os verdadeiros baby boomers foram filhos da greatest generation (a maior geração), ou seja, das mulheres e dos homens que cresceram nas dificuldades econômicas da Grande Depressão de 1929 e que lutaram na Segunda Guerra Mundial.
Claro, minha simpatia vai para os que lutaram contra o fascismo e o nazismo. Mas incluiria na maior geração muitos dos que lutaram do outro lado, excluindo os burocratas sinistros e os criminosos de guerra. Pois o que define a maior geração são as dificuldades dos anos 1930 e a coragem de ir à luta para fazer o que parecia ser a coisa certa.
Mais uma observação: os membros da maior geração não se gabavam, não se vangloriavam e pediam a mesma reserva a seus filhos. Esse aspecto fazia o charme e a graça dos adultos que me criaram: ninguém contava vantagem —aliás, ninguém contava nada de seus “feitos”. O que sei dos meus pais como resistentes antifascistas não aprendi deles —foi à força de consultar arquivos.
Esses pensamentos surgiram quando me ocorreu que, à primeira vista, Trump e Bolsonaro talvez fossem os últimos (ou quase) governantes baby boomers. Pois é, só à primeira vista. O pai de Trump apenas especulou durante a Segunda Guerra. E, na mesma época, em geral, o envolvimento brasileiro (a Força Expedicionária Brasileira) foi generoso, mas insuficiente para criar aqui uma maior geração.
Que seja por isso ou por outra razão, o fato é que Trump e Bolsonaro têm algo em comum, que é o pecado capital aos olhos da maior geração e que parece os excluir da categoria dos baby boomers: eles não param de se gabar. Por isso, aliás, os dois me envergonham.
Quando Trump fala de si (o que é frequente), parece que está querendo nos vender um apartamento: ele não para de se maravilhar por estar fazendo “such a fantastic job”, um trabalho tão sensacional.
Quanto a Bolsonaro, nunca me esqueço do momento inaugural em que, recebida a faixa presidencial, ele apontou para ela com os dois dedos, abrindo um grande sorriso para alguém na plateia: olha o que eu ganhei.
Desde então, os momentos vangloriosos se multiplicaram.
Alguns comentadores não gostaram que Bolsonaro fosse treinar tiro ao alvo recentemente. Eu não tenho nada contra isso. O que me inspira vergonha é um homem de 65 anos, no fim do treino, apontar com o dedo para seus melhores tiros no alvo, triunfante: olha o que acertei. Se fosse uma criança de oito anos, chamaria a atenção do moleque ou da menina. Nunca mais faça isso —olhe seu resultado e medite sobre seus erros, por pequenos que sejam. Esse tiro escapou, aqui sem querer tentei antecipar o recuo, aqui a mão tremeu. Tudo em silêncio.
A jactância irresistível reaparece nas declarações sobre o “físico de atleta” que protegeria Bolsonaro do coronavírus ou na necessidade de tirar a máscara, uma vez infectado, para mostrar que ele está muito, muito bem.
Não é preciso ter aprendido a arte da modéstia com um membro da maior geração. Mas também não é preciso ceder incansavelmente à insegurança narcisista de uma criança de oito anos.
Em 1963, bem tarde na vida, interno no Colégio Ballerini de Seregno, na Itália, aprendi a usar uma bicicleta. Treinava nos recreios, junto com um menino, justamente de oito anos. A gente ensaiava um pouco de tudo. Por exemplo, de vez em quando, abríamos os braços e tentávamos dirigir a bicicleta só com a inclinação e os joelhos.
Até aqui tudo bem. Mas um dia, o menino que treinava comigo viu chegar a mãe dele, que tinha feito uma visita à secretaria do colégio. Todo feliz, abriu os braços e chamou: “Olha mãe, sem mãos”. Bem naquela hora, a roda dianteira bateu numa pedra e meu jovem amigo se espatifou com a cara no chão. Quebrou dois dentes.

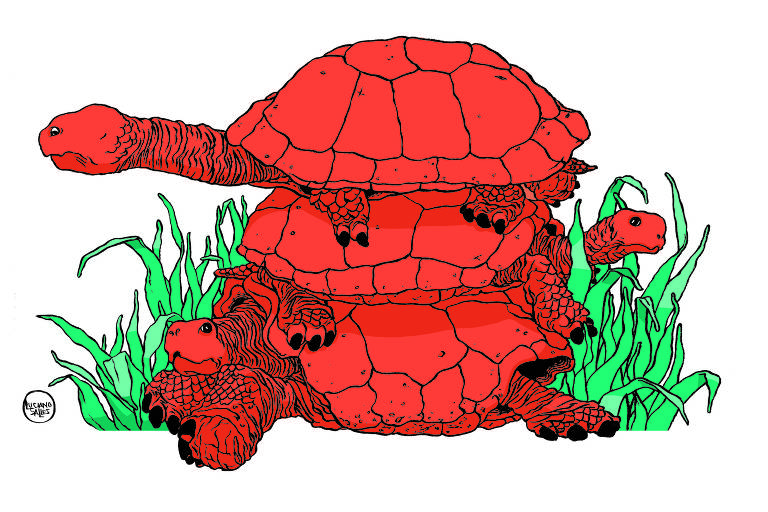






)























Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.