Enquanto não decido em quem votar, neste largo leque brasileiro que vai de um ectoplasma militar da década de 1930 até a voz de Antônio Conselheiro na cadeia (preciso reler "Os Sertões", de Euclydes da Cunha, porque depois do desastre da era Dilma, parece que o século 20 começa a chegar ao país), leio livros e vejo filmes, em busca da civilização.
O amigo vizinho me recomendou "Vocês, os Vivos" (2009), do sueco Roy Andersson. "Rende uma coluna", garantiu ele. Metódico, fui conferir todos os filmes do cineasta (não são muitos), começando pelo começo: "Uma História de Amor Sueca" (1970).
Sinto uma atração especial por 1970; por obsessão pessoal, acho que tudo que acontece hoje, no Brasil e no mundo, veio daquela passagem turbulenta. O filme é a história da iniciação amorosa de um menino e uma menina, contada com delicadeza, numa sucessão de cenas isoladas.
Os pais são "quadrados" mas são, enfim, gente boa. A história é embebida de um otimismo suave. Um mundo caipira descobre a motocicleta (sem usar capacete). Sim, os suecos são liberais. Ninguém leva cascudo em casa, mas há uma cena de bullying entre colegas.
A onisciência se esvai; o olhar é apenas um conjunto de impressões, e a cadeia narrativa, com causas e consequências, começa a se esgarçar.
Em 1975, Andersson lançou "Giliap". Aqui o prazer da cena isolada começa a desmontar a solidez narrativa; ninguém tem mais a leveza das crianças, mas se imagina que sim; e se sente a influência deletéria da nouvelle vague francesa.
O problema é que uma figura em silêncio durante dois minutos sob a câmera parada não funciona sem Paris ao fundo.
O tédio de um francês é uma pose estudada, um pôster charmoso; o de um nórdico é uma terrível angústia metafísica. Nada tem pé nem cabeça; trata-se de um ornitorrinco estético que, aos trancos, se quer levar a sério.
Em seguida, o cineasta ficou 25 anos sem filmar longas, enriquecendo com a publicidade, uma decisão sábia; as últimas duas décadas do século 20 foram artisticamente miseráveis no mundo inteiro.
Nesse período, o simpático porra-louca dos anos 1970 oficializou-se e entronizou-se na pretensão, uma vez que tudo, de fato, passou a ser permitido, numa escala industrial.
A poetização escapista do mundo e os direitos subjetivos, mimados até o último traço do kitsch, passaram a ser a régua universal de referência.
Ou falava-se de si mesmo como se o mundo não existisse, ou do mundo como objeto do qual não fazemos parte. (Na literatura brasileira, foi o duradouro vácuo entre o fim dos clássicos do século 20, que se esgotaram na década de 1970, e a renovação contemporânea.)
Em "Canções do Segundo Andar", do ano 2000, aparece um novo Andersson, agora perfeitamente maduro.
A câmera parada já não serve como manifestação de performance subjetiva mais ou menos aleatória, mas como instrumento rigoroso de composição pictórica; o filme todo se faz por uma sequência de quadros praticamente autônomos, esquetes visuais de impacto.
O humor e o grotesco como que perdem suas fronteiras próprias: um velho nazista à morte, demente, numa cama de bebê, um jovem com a corda de enforcado no pescoço, espancamentos públicos sob o olhar de indiferença de pessoas numa fila. Tudo é expressão de pesadelos nítidos e exatos que se contemplam.
Se fosse escritor, Andersson seria um contista, um Dalton Trevisan do gelo. Como acontece às vezes com o cinema fortemente autoral, quando maduro (o caso clássico é Fellini), já não distinguimos um filme do outro; a obra se transforma em linguagem.
Chego enfim a "Vocês, os Vivos", de 2007, e o vizinho tem razão: é o melhor filme dele, com a unidade narrativa mais sólida. A música —uma banda de coreto, em que a tuba é o personagem principal— é um fio que vai ligando as cenas.
Sente-se o eco de influências simultâneas, nas composições rigorosas: figuras obesas de Botero sob angústia beckettiana, solidões de Edward Hopper submetidas ao humor de Jacques Tati e ressonâncias de crítica social que se congelam, inúteis, no prazer da perfeição estética. Transparece um certo niilismo publicitário, que continua presente, desde o título, em "Um Pombo Pousou num Galho Refletindo sobre a Existência", de 2014, que tem a sombra da morte como figura central. Quase meio século depois de 1970, pressente-se a nostalgia do perdido narrador.
(Não sei se rendeu uma boa coluna, mas foi um prazer descobrir Roy Andersson. Obrigado, vizinho!)

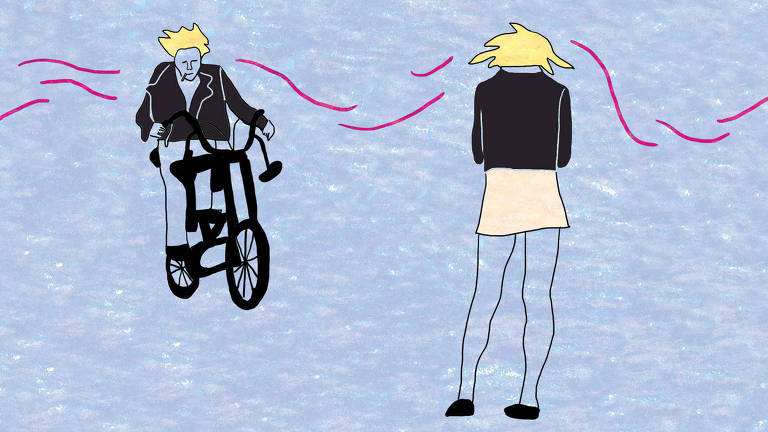



































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.