Com algumas séries de TV —penso em “Peaky Blinders”—, não resisto: vejo todos os capítulos, um por dia, até o final.
Não mais do que um. Mantenho a sanidade nesse aspecto. Como em tudo, o prazer depende de alguma renúncia e, especialmente, da rotina. A horinha do seriado tem de ser a mesma; precisa ser algo como um prêmio, ainda que nosso comportamento não o mereça.
“Peaky Blinders”, como acho que já comentei aqui, tinha seus defeitos e as temporadas variaram bastante de qualidade. Foi boa o bastante para que eu não desistisse no meio.
Mesmo assim, quando a série finalmente acabou (será?), dei graças a Deus. Precisava de um descanso de tantas navalhadas, porres de gim e atracadouros sórdidos na escuridão industrial inglesa de 1920.
Depois de algumas semanas a esmo, tive a sorte de pegar “Designated Survivor” já no meio. Desconfio que me cansaria muito se tivesse acompanhado desde o início as atividades de Tom Kirkman (Kiefer Sutherland), o obscuro ministro de Desenvolvimento Urbano que, de uma hora para outra, vira presidente dos Estados Unidos.
Uma grande explosão tinha acabado com todos os que o antecediam na linha sucessória. Sem ser filiado a partido nenhum, Kirkman é um americano decente, sem experiência com as tramoias de Washington, cioso de manter os compromissos que assume com sensatez e espírito público.
É bom para variar. Um pouco como “The West Wing”, acho que a série dá alguma ideia de como funciona o Executivo americano, o que faz cada tipo de assessor —o porta-voz, o “chief of staff”, o pessoal da segurança interna— e quais os problemas que caem na mesa do presidente.
Tudo seria mais convincente se os autores da série não precisassem recorrer a uma premissa “estratégica”, por assim dizer.
Kirkman enfrenta interesses nojentos da indústria farmacêutica, dos grupos de supremacia branca, dos planos de saúde privados. São, evidentemente, aqueles representados pela direita republicana.
O personagem que ocupa a Presidência tem tudo para pertencer ao Partido Democrata. Mas é claro que a série não poderia mostrá-lo como um Obama ou um Biden melhorado: pareceria pura propaganda política.
Apesar do seu truque “neutralista”, a série da Netflix ensina um bocado de coisas. Há alguns trapalhões na equipe do presidente americano, mas impressiona a quantidade de recursos, materiais, humanos e tecnológicos, à sua disposição.
O grau de eficiência geral talvez seja exagerado, num roteiro que não pode perder tempo; mas é que também se carrega a mão na quantidade de emergências excruciantes em cada episódio.
Um detalhe, nas rápidas discussões políticas de “Designated Survivor”, me fez pensar sobre Trump e Bolsonaro. Ponho aqui como simples hipótese.
O presidente Kirkman tem uma cunhada que é transexual. Prometeu levá-la a um comício em Nova York: não era má ideia, porque por lá isso daria votos. Mudam os planos de viagem, e eles vão parar no Texas.
A marqueteira Lorraine Zimmer (Julie White, excelente) põe as mãos na cabeça. No Texas, uma transexual no palanque prejudicaria qualquer candidatura.
Seu raciocínio é o seguinte: o eleitorado tolerante não sairá de casa para votar num candidato pró-LGBTQ. Mas o eleitorado radical sai de casa para votar contra um candidato assim.
Minha hipótese seria a seguinte. Em países onde o voto é facultativo, apostar no extremismo pode ser bom negócio. Você não precisa da maioria absoluta dos cidadãos. Uns 25% ou 30% mobilizados podem dar a maioria no sistema distrital, garantir o total de votos num estado e decidir o Colégio Eleitoral americano.
A estratégia de Bolsonaro vinha sendo calcada nos gurus da extrema direita americana. Funciona nos seus namoros com o golpismo —invadir o STF e o Congresso, por exemplo. Com isso aparentemente afastado do horizonte, imitar Trump começa a fazer menos sentido.
Ele se elegeu, provavelmente, de modo acidental. Os partidos de oposição ao PT estavam desacreditados; houve a facada; o país entrou em surto; a caixa de Pandora se abriu, e muitíssimos demônios continuam à solta.
Mas o voto obrigatório prescinde de uma militância extremada. Depende mais do desempenho que da ideologia. Pode ser que, como sempre, eu esteja errado.
Mas o futuro eleitoral de nossas aberrações talvez se garanta menos com os “gabinetes do ódio” e mais com os “pacotes de bondade” que o Tesouro público possa oferecer.

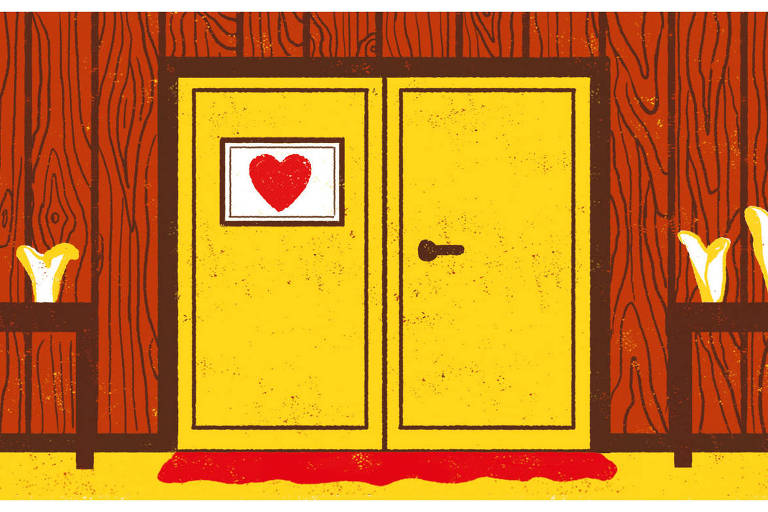
































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.