Dezoito corpos deitados no chão, cada um dentro de um caixão aberto. Cada um com o nome da vítima e uma descrição: estudante, ferroviário, mecânico, dona de casa. Trinta anos depois, a cena se tornou o símbolo da Chacina de Vigário Geral.
A chacina começou por volta das 23h da noite de 29 de agosto de 1993. Cerca de 30 homens, encapuzados e armados, entraram na favela da zona norte do Rio de Janeiro; arrombaram casas, pediram documentos e atiraram contra os moradores. Ao todo, 21 pessoas foram mortas. Entre elas, oito membros de uma família evangélica, assassinados dentro da própria casa.
As primeiras vítimas foram sete amigos que estavam em um bar jogando cartas e comemoravam a vitória da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O grupo de extermínio, formado em sua maioria por policiais militares, atirou uma granada dentro do estabelecimento. Depois, fuzilou o local para não haver sobreviventes.
Os demais mortos foram assassinados a esmo pela rua. Um deles era um mecânico, baleado enquanto segurava a marmita que levaria para o trabalho. Nas fotografias, a comida de Edmilson José Prazeres da Costa, 23, aparece caída ao lado de seu corpo.
O sociólogo e poeta Caio Ferraz foi quem organizou os corpos das vítimas do massacre. Ele chamou os parentes das vítimas e impediu que os cadáveres fossem levados pelos bombeiros antes de serem identificados e os colocou lado a lado em praça pública. Queria, em suas palavras, mostrar que ninguém era bandido.
Um mês antes da matança em Vigário Geral, oito jovens foram mortos na Chacina da Candelária, no centro do Rio. Apesar da brutalidade, a morte dos garotos, de 11 a 19 anos, foi minimizada por parte da população, que os julgava como ladrões e "pivetes" por serem moradores de rua.
"A sociedade já condena e dá o atestado de óbito com a causa da morte: pobreza. Essa seria a mesma justificativa com a chacina de Vigário Geral", diz Ferraz, que era morador da comunidade.
O pensamento de Ferraz é endossado pelo desembargador José Muiños Piñeiro Filho, que foi o promotor de ambos os casos. Na época, ele acompanhava as cartas dos leitores à imprensa para entender o pensamento da população. À frente das investigações do Ministério Público, Muiños sentia uma comoção muito maior em relação à chacina de Vigário Geral do que a da Candelária.
Havia um preconceito sobre os jovens mortos no centro do Rio que era usado como justificativa para os assassinatos. O mesmo não aconteceu com Vigário Geral, conta Muiños, pois a sociedade conseguia se enxergar naquelas vítimas.
"Um profissional do meio jurídico me disse na época: 'Estou acompanhando o seu trabalho [na Chacina da Candelária], queria dizer que cumpra sua missão, mas não se exceda, não precisa se esforçar muito mais, porque, afinal, não se perdeu grande coisa'. Isso foi muito marcante para mim", diz o desembargador.
A fotógrafa Luciana Whitaker cobriu o massacre na época e foi a Vigário Geral ainda na madrugada do crime, logo depois de ele acontecer. Encontrou os mortos na posição que foram executados.
A mãe da família evangélica, Jane da Silva do Santos, 54, segurava uma Bíblia; ela estava abraçada a sua nora, Rúbia dos Santos, 18, dentro de um dos quartos da casa. Já na sala, uma das filhas de Jane, a adolescente Luciene, foi morta no sofá. Ela faria 16 anos no dia seguinte ao crime.
"Não tinha como dizer que eram criminosos. Você entrava na casa da família e encontrava essa menina no sofá. Ela parecia estar dormindo, mas estava manchada de sangue", lembra Whitaker.
Segundo a investigação, o grupo de extermínio, conhecido como "Cavalos Corredores", agiu por vingança pela morte de quatro policiais na véspera da chacina. Eles tinham ido à comunidade para extorquir dinheiro de traficantes locais, mas morreram em confronto com os criminosos. Em resposta, seus colegas de farda fizeram o massacre, escolhendo as vítimas aleatoriamente.
Ao todo, 52 pessoas foram denunciadas pela chacina, mas apenas sete policiais militares foram inicialmente condenados. Hoje, só um ainda cumpre a pena em regime semiaberto. Um oitavo réu escapou antes de ser julgado, passou 20 anos foragido e, como o crime prescreveu, não deve à Justiça.
O fotógrafo Zeca Guimarães registrou os cadáveres alinhados no chão para serem identificados. Foi a coisa mais horrível que já viu na vida, conta o jornalista.
"Nunca fui numa guerra, mas eu imagino que ali tenha sido talvez até pior. Eles saíram matando as pessoas e ninguém esperava por isso. Eu queria que quem visse a minha foto chegasse o mais próximo possível da minha sensação", diz.
Nas fotos de Guimarães é possível ver o entorno. Parentes, amigos e vizinhos das vítimas olham para elas com tristeza, indignação e espanto. Em uma das imagens, um homem aparece tentando fechar os olhos de um dos jovens assassinados.
Caio Ferraz conta que foi questionado se não estaria expondo ainda mais as vítimas. "Esconder os corpos não ia ajudar. Iria levantar a dúvida da sociedade se aquela família não tinha algum envolvimento com o crime. O paradoxo da foto seria deixar passar o que aconteceu", diz Ferraz.
Passadas três décadas desde as duas chacinas, ainda é frequente a criminalização de vítimas de violência em áreas periféricas —especialmente em casos envolvendo policiais, como foram os dois massacres.
Um dos casos mais recentes é o do adolescente Thiago Menezes Flausino, 13, morto em ação da polícia na Cidade de Deus no início de agosto. Ele foi chamado de criminoso em uma publicação da Polícia Militar nas redes sociais.
A corporação foi acionada na Justiça e precisou apagar a postagem, que já tinha quase um milhão de visualizações. A família de Thiago também fez uma investigação por conta própria para tentar mostrar que o filho não tinha ligação com o crime.
"Uma fala recorrente das famílias é ‘quero provar a inocência do meu filho’", diz o ouvidor-geral da Defensoria Pública, Guilherme Pimentel. "Quando isso acontece com uma família na Lagoa [bairro de classe alta do Rio], a sua memória é preservada e sua imagem, respeitada. Mas quando é uma pessoa na favela, ela é vilipendiada."



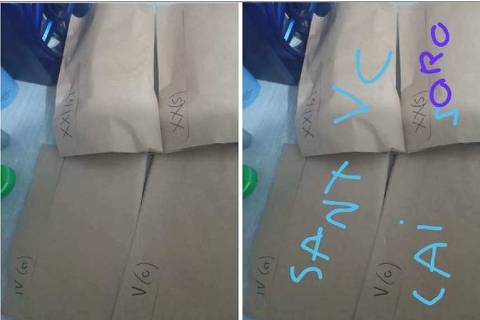

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.