No meio do bate-papo com a curadora que orienta os inquilinos de uma residência londrina voltada a jovens artistas, o pintor e desenhista carioca Maxwell Alexandre, 28, abandona o jeitão relaxado, quase blasé.
É logo depois de ela dizer, assertiva: “Você precisa tirar fotos melhores do seu trabalho”. O puxão de orelha desconcerta o rapaz, que agita o dedo indicador sobre a tela do tablet em que mostrava o seu portfólio. “É sério? Mas olha esta... e esta... perceba o enquadramento, a composição.” A curadora reitera a ressalva.
Incensado no circuito brasileiro por uma obra que oscila entre as glórias e as danações na Rocinha, onde ele nasceu, Maxwell não gosta que lhe digam o que fazer ou pensar.
Na contramão das doutrinas neopentecostais que arrastam fieis no asfalto e no morro (dentre os quais, a sua mãe), ele criou a Igreja do Reino da Arte, que tem n’A Noiva o seu ícone maior. A ela, “ajuda dos procrastinadores, socorro dos hereges”, são endereçadas súplicas para que se desdobre em “marchande, crítica, curadora, galerista”, ajudando a “acessar o Divino”.
Pela liturgia dessa nova crença, orações são as pinturas, cultos são os vernissages, procissões são os cortejos para transportar obras do ateliê na favela para o local das mostras, geralmente na zona sul do Rio —em uma das andanças recentes, o artista se fez batizar em uma piscina de plástico no meio da rua.
Antes do sacramento pagão, Maxwell já se desviara das escrituras familiares ao descartar uma carreira no Exército (como queria o pai) e ao entrar na faculdade de design em vez de achar um trabalho que ajudasse a pagar as contas (como desejava a mãe). Hoje, pouco fala com os parentes.
A altivez (alguns dirão impertinência) também o fez desafiar as regras de participação em uma exposição aberta a artistas desconhecidos.
O único pré-requisito era inegociável: os trabalhos tinham de passar pela porta da Carpintaria, antena da galeria Fortes D’Aloia & Gabriel, no Jockey do Rio.
Maxwell chegou com uma pintura de quase 3 m x 5 m e um estratagema: enrolá-la debaixo do braço. Saiu com seu nome conhecido pelos marchands. Era agosto de 2017.
Pano rápido para dezembro de 2018. Nos últimos dias de uma residência de um mês na Fundação Delfina, em um bairro grã-fino de Londres, o artista cumpre intensa agenda de encontros com galeristas, visitas a museus e conversas com curadores.
Mas rechaça a velocidade da rua, a profusão de estímulos (“isso me bloqueia”), os infindáveis “você tem de ver isso”. Na visita à Royal Academy, uma das mais tradicionais escolas de belas artes do Reino Unido, ignora as explanações do tour agendado especialmente para ele.
Só fica mesmo à vontade na quietude do quarto na Delfina, onde gosta de ouvir raps de Baco Exu do Blues, Djonga e de seu conterrâneo BK.
“Não é rebeldia. Só não aprendo assim, como na escola”, diz, sobre sua nonchalance pública —e cantarola “não tema o novo, o novo mundo, nova desordem”, verso de BK.
“Aprendo empiricamente, colocando as coisas no meu trabalho. Pela experiência, não pela palavra da história, que a elite usa como marca de distinção. O conhecimento pode passar pelo sentimento.”
Nesse filtro afetivo, há espaço para o cânone (branco) da arte moderna. Em uma galeria, ele se encanta diante de um “spread” (híbrido de pintura e escultura) de Robert Rauschenberg, precursor da pop art (“um milhão de insights”). Seu artista predileto é Lucio Fontana, o argentino-italiano conhecido pelos cortes que dilaceram grandes superfícies de cor.
Mas a constelação sentimental do carioca reserva posições privilegiadas a personalidades negras, como os cantores Frank Ocean, Kanye West e Solange Knowles (irmã de Beyoncé) e o jogador Neymar —um empoderamento que Maxwell se esforça em importar para as artes visuais.
“O negro precisa estar no Masp, na Pinacoteca”, afirma ele, que hoje tem obras nos acervos das duas instituições. “Não é só uma questão de dinheiro. Passa pelo poder, pela ocupação de espaços.”
No dia seguinte, a fala encontrará uma das demonstrações empíricas que o artista preza: no público da exposição de um celebrado arquiteto na Royal Academy, aponta ele, não há sequer um negro.
A esse abismo, suas pinturas respondem em chave ora lúdica (pela subversão de mascotes de guloseimas associadas à infância, mas nem sempre acessíveis à criançada do morro), ora inquisitiva (como na série “Pardo É Papel”, de título autoexplicativo).
Com a destreza do patinador profissional que foi por dez anos, Maxwell se equilibra entre a celebração do triunfo negro (Basquiat, James Brown e Nina Simone são alguns dos faróis que desfilam por suas criações) e o retrato de um cotidiano de “duras” da polícia, transporte superlotado, presença surda do tráfico e estigmas (como o que pesa sobre o uniforme dos alunos da rede pública em “Reprovados”).
“Ele é de natureza desafiadora, mas há um carinho ali”, resume Frances Reynolds, presidente do Instituto InclusArtiz, que financiou a residência em Londres.
Os próximos pousos de Maxwell incluem Lyon, onde ele realiza uma mostra individual em março de 2019, e possivelmente Palermo.
“Tinha medo de levar uma vida comum, crescer, casar, ter filhos”, diz ele, enquanto percorre a descolada Brick Lane atrás de uma bota nova. A vivência empírica e o passaporte carimbado terão se encarregado de desfazer o temor.
Maxwell Alexandre, 28 Pintor carioca nascido na Rocinha, estudou design na PUC-Rio. Menos de dois anos depois de se formar, passou a ser representado pela galeria A Gentil Carioca e tem obras vendidas a R$ 45 mil. Fez residência artística em Londres e prepara agora uma exposição individual em Lyon, na França
O jornalista viajou a convite do InclusArtiz
































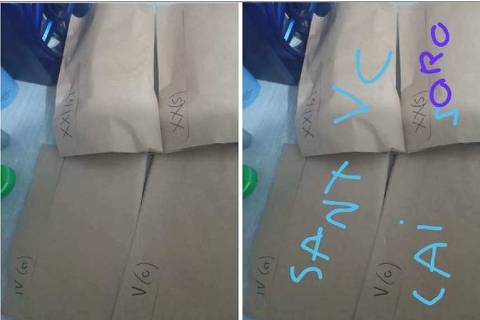

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.