Nas ondas rasas, que mal cobrem os pés da artista, conchas, cacos de cerâmica e uma bolsa de paetês são náufragos. É um mergulho no luxo, ou na volúpia, nas palavras dela, e nos destroços de um país que desconhece qualquer limite entre o paraíso e o inferno. Um novo retrato de Adriana Varejão, um dos nomes mais celebrados da arte nas últimas décadas, surge ancorado nesse contraste úmido e salgado.
O documentário sobre a artista visual que chega às telas da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo agora, "Entre Carnes e Mares", filme de Andrucha Waddington e Pedro Buarque, explora as profundezas de uma obra que se manifesta, acima de tudo, na própria superfície exuberante.
Varejão construiu os alicerces de sua estética sobre a fragilidade da pele, pesadelos azulejados, limpos, assépticos, que desvelam entranhas em convulsão na primeira oportunidade, cascas finas que perdem o prumo no choque com explosões repentinas de sangue.
Traduzindo, Varejão é a mulher por trás de pinturas, esculturas e instalações que mostram montanhas de carne de plástico que se agitam debaixo de finos azulejos de gesso, ou que brotam como erupção vulcânica para abalar a lisura enganosa dos mapas dos oceanos, vazam como poças sanguíneas no chão de saunas sem manchas, transbordam da cavidade ocular de mulheres que perderam os olhos.
Os olhos dos cineastas em questão não se descolam da pele dela no filme recém-lançado. Boa parte do trabalho se concentra em closes extremos nos olhos da artista, nas mãos a misturar tintas escuras em seu ateliê no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, nos recortes e desenhos que servem de tijolos construtivos para as obras. Chega a ser um tanto claustrofóbico, até alguns momentos de abertura do plano, que são mais ou menos felizes.
Poucos artistas hoje vivos no país foram tão originais, e ao mesmo tempo tão óbvios, apesar de estar na contramão do cânone, quanto Varejão. Original por notar, na superfície gasta de nossas cidades, igrejas e anseios modernizantes, uma violência ancestral que tudo orienta. Óbvio por escancarar sem dor nem espasmos o clichê de Lévi-Strauss, embalado por Caetano Veloso, de que tudo é construção, mas já parece ruína, ou vice-versa, dá igual.
"Entre Carnes e Mares", o filme, como o nome deixa explícito, disseca as ambições de uma artista que entendeu desde sempre o nosso modernismo como a mais brutal das armadilhas, uma condenação perpétua a esperar um futuro que nunca chega, e o nosso barroco entrecortado por fúrias coloniais como a nossa mais completa tradução.
Varejão ergue na encruzilhada da cruz riscada no cerrado que é Brasília, onde passou a infância, e no maremoto que via da janela na praia do Leblon em plena ditadura, já na juventude, uma obra cheia de fissuras, frestas abertas entre o idílio e as trevas. O trânsito entre os canais, vasos comunicantes, é um pilar de sua obra, que ela descreve como a sensação de ter o corpo engolido na rebentação das ondas no mar. Faz sentido.
Vertigem é uma palavra-sensação que Varejão repete ao longo do filme e em muitas das entrevistas que já deu. Seu choque diante de um painel azulejado de uma igreja barroca na Bahia, em que, por descuido ou destino, as peças caídas ao chão acabaram recolocadas a esmo na parede, criando um caleidoscópio-videoclipe, o glitch antes da estética do glitch, em pleno barroco paroquial, reflete a sofreguidão de um país às voltas com a própria —e máxima— desorientação.
É o retrato de um paraíso corrompido, afinal. Um ponto fraco do filme, neste sentido, é tentar dar vida na tela de cinema à obra inerte que é uma pintura, com animações estilo videogame criadas a partir de suas pinturas de saunas, labirínticos ambientes que lembram os cárceres de Piranesi ou as arquiteturas incongruentes, distópicas de Escher. É um excesso bobo diante da potência real dessas obras mais do que monumentais.
Varejão criou, nas suas saunas, pinturas de opacos ambientes quadriculados de azulejos do chão ao teto, uma ou outra banheira ou poça d’água ou sangue à vista, o mais visceral dos retratos da nossa angústia moderna. Nada grita mais alto que está morto do que uma parede cega, obediente ao grid modernista, ângulos retos et cetera e tal. Nada deixa mais claro que ainda está vivo do que o sangue que jorra, mesmo que de um ralo.
O contraste entre pulsões de vida e morte, a construção do monumento bem moderno diante da miséria de seus construtores, moldes rudimentares que plasmaram o esplendor fake do nosso projeto de nação em tempos de guerra cultural e ideológica, orbita como fantasma certo grau de beleza deslizante nas obras da artista.
Ela fala em antiarquitetura, uma engenharia às avessas. O filme tem outros buracos, as desnecessárias encenações de uma Varejão menina vendo revistas antigas ou uma adolescente brincando de jogos de tabuleiro, mas se redime com o que importa —a confissão, como numa catedral, de uma artista em plena consciência de seu projeto estético.
Adriana Varejão deixa à mostra as próprias vísceras. O poliuretano e o sangue fajuto que transbordam de suas ruínas carnívoras, moldadas a partir dos anjos e demônios das igrejas barrocas, dos bichos e flores das dinastias chinesas e seus trincados calculados nas cerâmicas, são um auto de fé. É uma artista que encena a própria devoção à carne de um país que se quis mais concreto e não passou do primeiro ato.




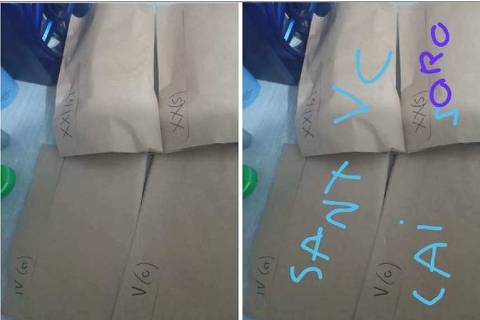

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.