A escola é um instrumento de formação humana e de cidadania. É nela em que se constroem também as primeiras experiências de relações sociais fora do ambiente familiar. Essa é uma questão significativa e, na maioria das vezes, determinante, para as periferias urbanas e rurais brasileiras, onde a aposta na educação torna-se o carro-chefe do sonho de fugir da pobreza e da fome para milhares de famílias.
E justamente esses dois fatores, a pobreza e a fome, ampliam-se diante de um governo tomado pelo culto à personalidade boçal de um presidente militar. Nesse mesmo Brasil, com mais de 14,4 milhões de desempregados, em que diversas instituições e movimentos sociais e populares lutam contra a fome, a educação não é vista como um espaço de promoção humanitária e cidadã. No governo Bolsonaro, há uma hostilidade generalizada, que inclui a pasta de Educação, mas que não se encerra nela, ao papel do Estado como agente que promove políticas públicas para ampliar o acesso de minorias sociais e raciais à ascensão sócio-econômica, à participação política e democrática. O Estado é usado como fortaleza de autodefesa do poder e do privilégio em relação a conquista pelas minorias do mínimo de dignidade e de presença em espaços que apenas a elite branca costumava estar.
A memória age aqui como um recurso simbólico. Neste caso, não há apenas um incômodo com a divergência, a princípio, quanto a práticas pedagógicas e um sistema educacional mais democrático e inclusivo. Existe um sentimento do dever, uma cruzada institucional em que o horizonte consiste em estabelecer um nacionalismo inverso: predatório contra si mesmo; violento contra a própria cultura; reacionário por natureza. Tudo remonta à memória de um todo inalcançável, justamente porque compelido pela existência de grupos que representam uma busca fracassada por pureza nacional e uma identidade nacional superior. É a prerrogativa de que, “para que o nós possa existir, eles devem ser extintos”, como diria o antropólogo indiano Arjun Appadurai.
É ainda o resultado da crença de que, da formação dos Estados-nacionais, nasce um único povo. Essa ideia age no centro do debate político, camuflando conflitos e relações violentas contra minorias políticas, sociais e/ou numéricas. A diversidade sexual e a discussão sobre gênero, as questões de classe e desigualdades econômicas, o multiculturalismo e a discussão dos problemas do racismo aparecem como inimigos da reafirmação de um Estado totalitário, elitista e militarizado.
De certo ponto de vista histórico, acreditou-se –e, ainda hoje, acredita-se– que grandes “democracias” liberais não poderiam produzir violências políticas, nem ser tomadas por grupos fundamentalistas religiosos, milícias, fascistas, neonazistas etc., que produziriam práticas de genocídio, como em países atravessados por guerras étnicas como heranças coloniais.
Então, se dissermos que o Brasil passa fome, dirão que nós é que comemos muito. Se nossas crianças morrem de tiros de fuzil, é porque eram bandidas e, logo, perigosas. Mesmo que morramos sem respiradores, leitos e vacinas, não existe doença. Se estamos desempregados, é porque somos preguiçosos. Se queremos estudar, devemos almejar apenas cursos técnicos, já que a universidade deve ser para poucos.
Marilena Chauí, em seu livro “Brasil: o mito fundador”, destaca o papel fundamental da tríplice relação entre Deus, a Natureza e o Estado. Os dois primeiros estão ligados à "origem” e à "essência" do povo e do território. O último funda a nação, sendo a afirmação da ação criadora de Deus e da Natureza.
Esse é um ponto fundamental para entender o que representa a disputa ideológica em torno das instituições de ensino. Primeiro, elas devem ser pautadas por uma ética e uma moral baseadas em um modelo de teocracia-cristã e regidas por uma economia dependente e liberal, representante de um todo, do dever e da origem. Em segundo lugar, elas devem ser aristocratas, impedindo assim que grupos indesejados (tais como pessoas negras, indígenas, pessoas trans, pcd’s etc.) possam conquistar qualquer nível de autonomia para construir lógicas raciais de fortalecimento e relações amistosas de grupo, disputando a interpretação da realidade através do processo histórico e criando novas práticas de bem-viver.
Nessa dinâmica complexa, apenas quem se descobre brasileiro acima de tudo poderá ser reconhecido pelos representantes de Deus acima de todos como um indivíduo que pertence ao povo, e por consequência, que fará parte de uma comunidade global de nações. Por isso, a atuação de movimentos negros e sociais, como a UNEfro Brasil, pela promoção de políticas de igualdade racial e mitigação das desigualdades, causa repulsa e ódio: para esses, não queremos ser brasileiros –mesmo que o Brasil nos trate como inimigos públicos.
Não há sutileza no enfraquecimento do papel das instituições de ensino, que passam a assumir, em níveis diferentes, dinâmicas sociais semelhantes às que o governo federal promove. A escola funciona como uma ferramenta: para os ricos e a classe média branca, intolerante, racista e reacionária, ela é sagrada e deve permanecer conservadora, flexível nas relações autoritárias e conceder privilégios; para a população negra e os pobres, ela deve ser meritocrática, técnica, moralizante, autoritária, excludente, conservadora, violenta e não deve ser totalmente gratuita.
O Atlas da Violência de 2021 aponta que entre os anos de 2009 e 2019 houve 623.439 mortes por assassinato e que pelo menos 53% (333.330) dos mortos foram jovens entre 15 e 29 anos. A catástrofe se aprofunda quanto mais mergulhamos nos dados: 77% desses mortos foram pessoas negras, e negros têm 2,6 mais chances de serem assassinatos do que pessoas não negras.
No Enem de 2020, segundo o Inep, 83% das inscrições confirmadas foram realizadas de forma gratuita, ou seja, por pessoas que eram ou pertenciam a famílias de baixa renda. A queda no número de inscritos neste ano, decorrente da decisão do governo de não conceder a isenção para quem não foi fazer a prova no ano anterior, ainda em período de pandemia, com recordes de desemprego, fome e evasão escolar, reflete justamente um fazer político antidemocrático e excludente para a população negra e os mais pobres, enquanto os números de mortes entre a juventude negra decolam.
O mesmo governo que assume a violência como método é aquele que fez o Enem deste ano ser o mais branco e elitista. Não há coincidência.
Podemos dizer que a maneira como um país trata a sua juventude nos apresenta uma anatomia de como o Estado pensa e constrói o futuro para os povos que vivem na nação. Sobre a juventude negra, o Estado nos faz pensar que viveremos eternizados no verso dos Racionais MC’s: “Da janela da classe eu olhava lá fora /A rua me atraia muito mais do que a escola”.
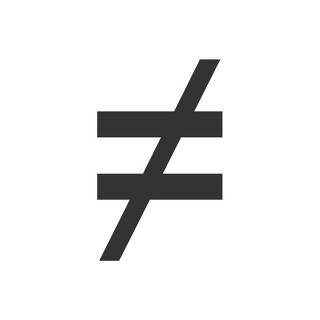




Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.