"Oppenheimer". É bombástico no sentido de ensurdecedor, frenético, arrasa-quarteirão, atordoante. Atira cacos e retalhos para tudo quanto é canto, produz um vazio imenso e deixa uma vaga de ecos opacos.
Poucas vezes se viu um filme no qual se fala tanto e tão rápido. O único instante de paz é quando a primeira bomba atômica estoura e o diretor Christopher Nolan corta o som. Que alívio.
O objetivo do silêncio súbito é enfatizar a beleza da explosão. O que gera um paradoxo: num filme contra armas nucleares, a única cena de paz ocorre quando uma delas é acionada. Quer brandura, nirvana? Aperte o botão vermelho e mande uns megatons na japonesada.
"Oppenheimer" passa num átimo de Picasso para Stravínski, Marx e Eliot; do alemão para o holandês e o sânscrito; de Harvard para Göttingen e Princeton; de Los Alamos para o Projeto Manhattan; do urânio para o plutônio; da fusão para a fissão nuclear —e não se entende coisa nenhuma das duas.
Nolan embaralhou a cronologia, coisa de lineares babacas, e foi além: pôs as sequências antigas em cores e as mais recentes em preto e branco. É uma mixórdia, ampliada pelas toneladas de decibéis da trilha sonora, composta com peças punk para serra elétrica, cuíca, bate-estaca e orquestra.
O filme se vende como biografia, mas é ficção. A história da maçã que Oppenheimer envenenou para matar um professor exigente é apresentada como anedota. Ocorre que ele só não foi expulso de Cambridge porque seu pai era riquíssimo e pôs panos quentes no incidente.
A frase mais conhecida de Oppenheimer é do "Bhagavad Gita": Krishna diz ao príncipe Arjuna que se tornou um "destruidor de mundos". Disse-a no fim da vida, com solenidade, num documentário da NBC.
No filme, ele a fala na cama, de olhos esbugalhados, ao penetrar uma beldade. É uma tara —de Nolan— que nem Freud explica.
"The Day After Trinity". De graça, na internet, o documentário de Jon Else traz dezenas de entrevistas com gente que trabalhou com "Oppie".
Comparado à centrífuga atômica de Nolan, tem a clareza de um LP de Sinatra.
Um entrevistado conta que a média etária na cidade-laboratório no Novo México era de 29 anos. Outro diz que grande parte das 6.000 pessoas que viveram ali veio da "esquerda moderada". No início, faziam bebida alcoólica no laboratório.
A juventude, o engajamento patriótico, os romances e a aventura coletiva de pesquisar em segredo para vencer os fascistas fomentaram a camaradagem. "Foi o melhor tempo de nossas vidas", diz um físico.
"Dr. Fantástico". Tem os temas de "Oppenheimer": nazismo, Guerra Fria, apocalipse. Só que Nolan lustra uma estátua de bronze, e Stanley Kubrick dissolve medalhões com o ácido do humor negro. Cientistas, militares e políticos são avacalhados pela atuação hilária de Peter Sellers em três papéis.
Indiretamente, "Dr. Fantástico" diz que a hecatombe nuclear é irrepresentável pelo cinema sisudo, sendo preferível a sátira. No filme seguinte, "2001: Uma Odisseia no Espaço", Kubrick investiu nas imagens tecnomitológicas da macromatéria, o universo. É nelas que "Oppenheimer" se inspira para conceber a micromatéria nuclear.
"Hiroshima, Meu Amor". De 1959, o filme de Alain Resnais faz da matança em Hiroshima o pano de fundo para um dia de transa entre uma atriz francesa e um arquiteto japonês.
O filme começa com seus torsos e braços entrelaçados, salpicados de areia e gotas brilhantes. Sem que o rosto apareça, o japonês diz: "você não viu nada em Hiroshima"; e a francesa fala: "eu vi tudo". Ao longo de minutos infindáveis e enfadonhos, repetem o diálogo uma dúzia de vezes.
A bomba atômica deixou marcas no corpo deles? Ou a cena mostra que o amor vence a morte? Outrora, indagações assim indicavam que o filme era "de arte". Revisto hoje, sobrou apenas a presunção, faustosa e falsa.
"Deixem Viver as Crianças". O melodrama de 1983 recria a vida de gente miúda numa periferia de Nagasaki pouco antes, durante e depois de a bomba aniquilá-la.
Keisuke Kinoshita, que já era cineasta na época, repete as efusões de milhares de melodramas baratos —mares de lágrimas, trovoadas de gritos—para encenar o flagelo inédito: 39 mil pessoas mortas antes de você terminar esta crônica.
O filme não convence por isso, por recorrer à velha pieguice para falar do novo, a morte em massa. Mas, ao adotar o ponto de vista de japoneses estraçalhados, tem uma dignidade que não aparece nos filmes ocidentais sobre o parto da era nuclear.

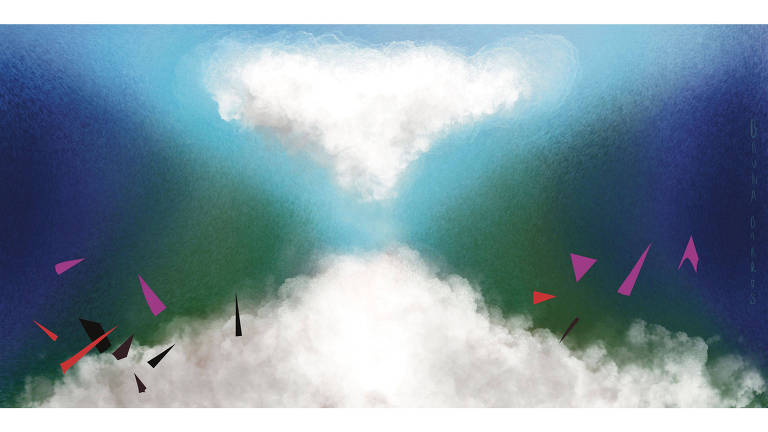





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.