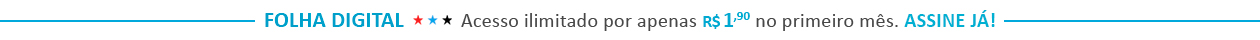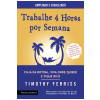'A artista é mulher e negra, mas arte é arte', diz Sônia Gomes
O ano em que completa 70 anos será corrido: Bienal do Mercosul em abril, retrospectiva no MAC de Niterói em junho e exposição individual no Masp em novembro.
Para Sônia Gomes, porém, não é tempo que falta. "A cabeça da gente vai muito além da capacidade Duas mãos? Precisava de mais, muito mais mãos", brinca em seu apartamento-ateliê, em Pinheiros (zona oeste de SP), para onde se mudou neste ano.
Na sala, cinco metros de seda pura cor de chantili se abrem para todos os lados, presos ao teto por uma roldana. O vestido de noiva guardado por 60 anos e doado à artista está sendo "desconstruído" para ser exposto em Porto Alegre, em abril.
Outras esculturas menores vão sendo terminadas nas paredes, em gaiolas ou na máquina de costura. "Não trabalho sob pressão", diz Sônia, que expôs pela primeira vez aos 46 anos. "Sempre gostei de arte, mas precisava cuidar da sobrevivência antes."
Órfã aos quatro anos da mãe, negra, foi criada pela família do pai, branco -de quem herdou um forte halo azul ao redor da íris castanha.
Em falta na infância, o afeto está na base da arte de Sônia, que já foi comparada à francesa Louise Bourgeois. Com vendas no exterior que no Brasil, ela diz que ainda há muito racismo no país.
"Fiquei superfamosa este ano na minha cidade natal, mas por causa do U2", diz, rindo. Com três obras compradas pelo baixista da banca irlandesa, Andy Clayton, ela foi convidada especial no show em outubro, no Morumbi.
★
Folha - É comum que as pessoas lhe mandem seus objetos, como este vestido de noiva?
Sônia Gomes - Algumas vão às exposições e veem o trabalho e o material que uso, e aparecem no meu ateliê caixas de coisas. São objetos do afeto das pessoas, que elas não querem descartar. Ficam guardadas na gaveta por anos. Então me encontraram.
Sabe algo da história desse casamento?
Não. Também tive essa curiosidade quando esse vestido chegou. O que será que aconteceu com esses amantes, será que estão juntos ainda? Ou separados? Alguém faleceu? Aí tive a resposta: o filho dela me mandou uma foto e disse que os pais eram aqueles do fundo. Vi que eles ainda estão juntos. Porque a gente fica mesmo com essa curiosidade.
Usa seus próprios tecidos nas suas obras?
Comecei assim, desconstruindo roupas. Sempre tive essa inquietude, não queria ir à loja, pegar uma roupa prontinha e usar. Procurava dar um toque meu. O negócio foi ficando tão maior que não dava para vestir. Tinha virado outra coisa.
Até que alguém lhe disse que aquilo era arte?
Eu não sabia bem o que estava fazendo. Sou do interior de Minas e sempre fiz coisas para mim, bijuterias, coisas que só eu que tinha coragem de usar. Um dia levei bolsas a uma loja de artesanato e não quiseram. Na loja comum, senti preconceito, como se dissessem "isso é coisa de negro". Nunca tive a pretensão de ser uma artista. Queria viver, sobreviver do que eu fazia, e não sabia o que era. Nem por isso deixei de extrapolar nas coisas. Continuava a fazer aquilo de que gostava e não o que o mercado sugeria que eu fizesse.
Quando o que fazia foi reconhecido como arte, sentiu-se mais livre?
Achei ótimo. Senti que a arte me buscou, me resgatou daquele lugar. Se não chegasse nesse patamar da arte, era o que eu gostava de fazer. Gosto da coisa manual. Quando estou fazendo, às vezes entro num estado de meditação. Precisava disso para viver. Não tenho religião. Uma vez me falaram no sagrado, fiquei até brava. Mas hoje faço isso como uma religião mesmo.
Qual é o aspecto religioso?
É um estado de transe, de meditação, de não pensar em nada, de comunicação com o cosmo. Às vezes termino um trabalho, olho para ele e choro. E penso "gente, quem fez isso?". Algo que está além. O processo é pensado, mas muito intuitivo, também. Sigo mais a intuição, e o material escolhe o que vai ser. Nunca sei o que vai ser.
E o que o material do vestido escolheu ser?
A primeira coisa de que senti necessidade quando o vestido chegou foi abri-lo. Eu não sabia bem o que procurava, sou aquela artista que primeiro faz e depois pensa. Se pensar antes, limita. O que quero dele é algo bem fluido, bem livre. É um trabalho com desenho, o volume da escultura e a cor da pintura. Transita nessas linguagens. Quero que o vestido fique no espaço e que a pessoa transite nele. Não vai ter costas nem frente, não vai ter direito nem avesso. A arte é essa liberdade, ela é livre. Algo que transcende. Não é preciso estudar arte, as pessoas mais simples são tocadas por ela e respeitam.
Neste ano foquei a galeria, e estava de mudança. Quando a Bienal do Mercosul me contatou, pensei em fazer uma peça com este vestido. Se não fosse o convite, ele ainda estaria guardado.
Esperando inspiração?
Não, esperando espaço. Quando começo a trabalhar, nunca fecho uma obra, vou fazendo vários, e este trabalho tem que ficar assim, aberto. De repente acordo e antes de tomar café tenho que trabalhar nele. Digo que a casa é um ateliê no qual eu tenho um quarto.
Mudou-se para São Paulo de vez?
Uai, São Paulo estava me chamando há muito tempo, e resolvi atender ao chamado. E acho que agora ela me abraçou. Gosto de cidade grande.
E necessito de vida, por isso vim para São Paulo. E precisava ser um lugar, com cachorro na rua, gente, comércio popular, tudo.
Tem até uma feira na minha rua, e eles consertam panela, gente! A panela está boa de jogar fora, mas eles colocam cabo, desamassam. Isso é maravilhoso! Porque a pessoa pode achar que essa comida só essa panela que faz. E então ela recupera a panela.
Sua arte também faz isso, pega o que foi usado e dá um significado novo.
Sim. E quando vejo aquele monte de panela, sinto que é o contrário da cultura dos Estados Unidos, em que tudo eles jogam fora. Não têm história, não. Tudo troca por um novo.
Vai ter obras suficientes para tantas exposições em 2018?
No MAC de Niterói, será uma restrospectiva. O curador, Pablo [Leon de La Barra, também curador de arte latino-americana do museu Guggenheim (MY)], deve coletar os trabalhos dos colecionadores e museus. No Brasil tem pouco trabalho meu, então não sei como vai ser.
Por que há mais obras suas no exterior?
As vendas são muito maiores lá fora. Por exemplo, fui convidada para a Bienal de Veneza, mas nunca pela Bienal de São Paulo. O Brasil é um país muito racista. Há poucos negros em galerias, embora haja artistas maravilhosos. O espaço não é o mesmo.
Sente esse racismo mesmo depois de ter exposto na Bienal de Veneza?
Sim. Na galeria em que estou, por exemplo, há só dois negros, eu e Paulo Nazareth. Levando em consideração que este é um país negro, deveria ser pelo menos mais equilibrado. Mas está havendo um movimento.
No cotidiano, sente também preconceito?
Em São Paulo não senti. Não sei se é porque o meu meio é mais de artistas, colecionadores. E São Paulo é uma cidade mais cosmopolita. Mas o meu sentido é o ver. Se vou a uma exposição, olho o público: negro só eu, às vezes. Sinto o preconceito aí. Se você vai a um restaurante e olha, os serviçais são negros e nas mesas só brancos. Não sou militante, nunca fui. Minha militância é mais silenciosa. Eu tinha necessidades mais urgentes, tinha que dar conta de mim para depois dar conta do outro. Acho que minha dor eu transformei em beleza e entrego para o mundo.
Acha que a questão racial está na sua arte?
Tem muito, apesar de nunca ter tido essa preocupação com rótulos: arte negra, arte popular, arte contemporânea. Mas essa questão está muito presente no trabalho: o fazer manual, as cores, as amarrações. Descobri isso depois. Onde eu busquei isso?
Onde?
Na vida. E talvez no sangue, na ancestralidade. Porque fui criada numa família branca, dentro de uma religião católica. Mas essa leitura está no trabalho. A artista é mulher e é negra, está explícito isso, e nunca quis sufocar isso.
Então essa identidade negra não tem uma referência familiar?
Minha mãe era negra, e fui criada com minha avó até os quatro anos, quando minha mãe faleceu. Minha avó, que era muito pobre, me levou para a casa do meu pai, que não era casado com minha mãe. Eles tinham condições de me manter, tinham posses. Saí de um casebre e fui para uma casa enorme. Mas mesmo assim eu queria voltar. Porque nessa casa não tive afeto. E na casa da minha avó eu tinha. É esse afeto que eu busco.
Muitos dos seus trabalhos falam sobre memória e sobre o tempo. Qual o peso que o tempo e a idade têm para a sra.?
Gosto de coisas que tiveram vida. Acho bonita a pátina do tempo, o que ele deixa no material. Esteticamente, acho bonito. O tempo cronológico, cada um tem o seu. Muitos artistas novíssimos já têm seu trabalho super-reconhecido, e o meu só agora. O tempo dele é esse. O meu é agora.
Hoje, numa época de aceitação e desconstrução de um monte de valores, a idade tem que entrar nisso. A pessoa que viveu mais não é para ser descartável. Enquanto há vida, há oportunidades, e temos que agarrar essas oportunidades. E a gente aprende o tempo todo. Aprendo com meu assistente, que é jovem. É uma troca. Acho pequeno dizerem que estou velha para isso, isso nunca me barrou.
Por que é o tecido o seu material de trabalho?
O tecido é muito plástico, sabe? Amo tecido. Nunca fui costureira, mas o tecido sempre me chamou. Gosto da história do tecido, da trama, do tear, e por acaso a cidade em que nasci, Caetanópolis, foi um berço têxtil. Convivi muito com a chita fabricada lá, achava lindo aquele estampado.
Mas acho que é bem pela raça. Quando adolescente gostava de fazer amarrações. Nunca quis ter filho, mas queria um só pra carregar como uma africana, amarrado nas costas ou na frente. Acho lindo aquilo. Tenho essa sedução pelo tecido.
O tecido é feminino?
Por mais que tentam desconstruir, bordar, isso é do mundo feminino. Não quer dizer que o homem não possa bordar, mas é muito do mundo feminino.
Não lhe incomoda o fato de o tecido ser mais perecível, de sua obra ser mais perecível?
Sim, já pensei sobre isso, mas isso é trabalho para os restauradores. Se não só vai ter escultura de metal, fica limitado. E a arte é livre. Que registrem, tirem foto, mas não posso deixar de fazer.
Olha a obra que o Bispo [Arthur Bispo do Rosário] deixou. Ele não se preocupava com nada. Nem com comercializar. E esta aí a obra dele. Ele fez para ir com ele, não fez pensando em ficar nesse mundo. Os restauradores é que vão ter que ver o que eles fazem [risos].
Faz suas próprias roupas?
Não. Quando era jovem tentei, porque não gostava de nada do que estava pronto nas vitrines. Na adolescência, talvez por rebeldia mesmo, sempre procurei ser diferente. Talvez já fosse o apelo da arte, de não querer nada muito massificado.
Eu não fazia minhas roupas, mas desconstruía. Minha primeira expressão foi através do vestir, mesmo.
Até hoje gosto de roupa, gosto de pano. Mas nunca tive recursos para ter roupas bacanas, então comprava no brechó e desconstruía.
Até entrei para uma aula de costura, mas durou um dia. Tinha que usar régua, fazer muita conta, e meu negócio é mais livre, é chegar na máquina e bolar.
Outro dia, na minha cidade, um primo falou: 'Sonia, A sra. está muito normal, de calça jeans, camiseta'. Eu respondi: 'É que agora está tudo no meu trabalho' [risos].
Antes desviava para a roupa.
Sim. Um professor dizia que eu era uma instalação ambulante, de tanto colar, pano na cabeça.
A sra. se formou em direito, não é?
Sim, por questão de sobrevivência. Sempre me interessei por arte, seja qual for, mas nunca me vi artista, porque nunca soube desenhar. Escola de arte era caro, eu não tinha condições. Por isso a arte veio mais tarde. Primeiro tive que buscar condições, para depois jogar tudo para o alto e fazer aquilo de que gosto, aquilo em que acredito.
A vida da gente é uma coisa só, temos que trabalhar com o que gostamos para ser bom, seja o que for. O resto é consequência.
Na Bienal de Veneza ou na galeria em São Paulo, como percebe as pessoas vendo sua obra?
Às vezes sinto essa resposta do afeto. Porque eles me entregam depois coisas para eu construir a minha poética. Sinto que gostam, eles vêm, me abraçam, me olham. Não precisa falar muito, é o sentir, mesmo.
Trabalha todos os dias?
Sim, é uma necessidade, e gosto de viajar trabalhando também. Nas viagens eu pesquiso, observo. O trabalho é brasileiro como eu. É o casebre com suas coisas bonitas, o erudito e o popular juntos.
A sra. não gosta dessa classificação arte popular ou erudita.
É difícil. Como diz o [curador do Masp] Adriano Pedrosa, arte é arte.
Gosto muito da "Poética do Espaço" [livro de Gaston Bachelard]; fala coisas em que me vejo, sobre o tempo, o lugar, o aconchego.
Lê o que escrevem sobre seu trabalho?
Leio. Não gosto de me ver, mas gosto de ler o que escrevem sobre o trabalho.
Alguma crítica de obra sua lhe vez vê-la de forma diferente?
Sempre traz algo novo, uma interpretação nova. Porque a obra guarda segredos demais. Isso de alguém ver coisas que nem eu mesma via Eu penso 'não é que tem isso mesmo?'.
Livraria da Folha
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade