Quando o comitê do Prêmio Nobel escolhe um escritor a quem entregar 10 milhões de coroas suecas, o que está em jogo não é apenas parabenizar uma pessoa por sua obra. Diferentemente de uma instituição como a Academia Brasileira de Letras, a Academia Sueca é relevante.
O Nobel literário informa editoras acerca dos livros que devem ser traduzidos; chama a atenção para autores ignorados; traz no embalo obras afins às dos eleitos. Dá um recado, enfim, a respeito do que se deve valorizar enquanto literatura.
Que recado teria o Nobel dado se tivesse escolhido, neste ano, outro dos nomes cotados? Um prêmio à canadense Anne Carson significaria valorizar a complicação de gêneros e estilos e o trânsito entre pessoal e ficcional e entre clássico e contemporâneo.
Se a academia houvesse (com razão) elegido a americana Jamaica Kincaid, teria privilegiado a capacidade da ficção de conjurar personagens e emoções por meio de palavras e de presentificar realidades sociais pela evocação de cheiros, cores, sons.
O que diz o Nobel ao premiar Annie Ernaux? Em ensaio de 1993 —seis anos após o inaugural "O Lugar" –, a autora afirmou que "a única forma de contar uma vida aparentemente insignificante, a do meu pai, sem trair (a classe social de onde vim e que era meu tema), seria construir a realidade dessa vida e dessa classe específicas por meio de fatos precisos, palavras ouvidas e valores da época".
Mais ainda ela sentiu que "a forma do romance era uma espécie de desonestidade", uma "traição da vida na literatura". São afirmações contundentes que, mesmo restritas à própria obra, expressam uma ideia de ficcionalização do vivido como um gesto impróprio, e da ficção como distorção nefasta da realidade.
Quando premia Ernaux, o Nobel destaca o valor do relato agudo de experiências íntimas de uma mulher e o quanto estas revolvem questões de gênero e de classe social (e do trânsito entre classes, que mexe com tanta gente).
Reconhece ainda o quanto esse desnudamento afeta leitores de um modo inédito, cuja pungência a ficção talvez não tenha sido até agora capaz de alcançar. Pelos mesmos motivos, contudo, o prêmio a Ernaux denota também uma incredulidade quanto à força da narrativa ficcional. Será ela justificada?
Estamos debatendo a autoficção há décadas, e o assunto sobrevive hoje por meio de aparelhos. A verdade é que autores trazem suas experiências aos romances, em maior ou menor grau, ao menos desde que estes assumiram sua forma moderna.
Repisar o adjetivo autoficcional como se ele se referisse à mais vanguardista das práticas narrativas tem hoje função meramente de marketing. Isso não quer dizer que o procedimento em si esteja esgotado: não estará enquanto houver romances.
Ele pode ser, inclusive, tematizado pela própria literatura, desde que se dê um passo adiante. O americano Ben Lerner, por exemplo, usa uma dicção que oscila entre técnica e lírica para girar o discurso autorreferencial contra ele próprio e questionar a capacidade de a experiência de um homem branco ressoar fora de sua bolha.
Como Lerner, Ernaux leva a escrita de si a um extremo, mas sua posição é inversa à dele, e ela atinge o coletivo a partir do fato íntimo. Afirmar que a autora "revolucionou a autoficção" significa dizer que ela operou essa revolução ao, paradoxalmente, tirar da autoficção (termo que Ernaux, aliás, recusa) a própria ficção.
É verdade que toda memória já é sempre um pouco inventada e que, ao dar forma textual a ela, um escritor escolhe o que cabe ou não incluir, complicando ainda mais sua relação com a realidade. O que importa em Ernaux e no Nobel, contudo, é o gesto manifesto de desficcionalização como legitimação da literatura.
Por que premiar esse gesto em 2022? Uma das explicações possíveis toca o esforço da intelectualidade em defender o factual, como proteção contra o avanço de negacionismos, fake news, verdades alternativas.
Questiono, porém, se tirar o ficcional do âmbito da experiência literária é uma atitude corajosa ou se ela é contraproducente. Afinal —e este é um ponto grave e menosprezado—, tanto quanto o factual, o ficcional está em disputa. Precisamos defender os dois.
A ficção presentifica, na imaginação, o que sem ela permaneceria fora de nosso alcance: outras possibilidades de existência (realistas ou esotéricas, nobres ou abjetas, grotescas ou sublimes et cetera).
Ao ler narrativas de ficção, vivemos num espaço perturbador em que somos nós mesmos e outros. Estamos aqui e lá, emprestando nossos corpos aos personagens, dando vida a eles.
Testamos o estranho; exercitamos gestos e sensações. A leitura de textos autobiográficos, em contrapartida, é atrapalhada pelo fato de que já existe lá alguém de carne e osso: assistimos à sua vida mais do que participamos dela.
A reflexão a respeito do ficcional como necessidade humana é urgente quando combatemos o apelo das histórias contadas por líderes populistas de extrema direita. Seriam essas narrativas uma forma de ficção? Hesitamos em responder: algo parece dizer que juntar ficção e fake news na mesma frase macula o primeiro termo. É preciso encarar, contudo, o impasse.
Afinal, essa sedução por narrativas mentirosas se dá não apenas pelo fato de que confirmam as crenças de quem as ouve, mas também por seu forte apelo emocional. Elas produzem na imaginação realidades outras, que ou são desejadas por seu público ou excitam nele paixões até ali entorpecidas pela chatice da vida cotidiana.
O problema é que essas ficções são apresentadas como fatos. O mundo dos negócios e o da política vem se apoderando mais e mais de teorias desenvolvidas no âmbito ficcional e acadêmico e transformando procedimentos narrativos em técnicas de convencimento.
Constroem-se assim, mediante o método que leva o nome em inglês de "storytelling", representações do mundo que respondam às ideologias próprias àqueles que as criam. Envolvido em histórias sedutoras, o público baixa a guarda da racionalidade e acredita que está diante de uma realidade mais interessante do que imaginava.
O romance de ficção ascendeu, no século 19, sob a percepção de que teríamos emergido de um passado ingênuo, e que uma mentalidade "desencantada" —não mais informada pela religião, e sim pelo conhecimento racional e científico— havia tornado possível que os leitores reconhecessem o caráter ficcional dos textos, mesmo daqueles mais realistas, que não trouxessem elementos maravilhosos ou sobrenaturais.
A velha noção de ficção não mais se sustenta, se é que um dia já se sustentou. Hoje, parece claro que não vivemos em um mundo desencantado —e prova bem isso o fato de estarmos aqui sob o risco de reeleger um patife de extrema direita que chafurda em mentiras tão eletrizantes quanto disparatadas.
A confusão entre ficção e realidade não é, no entanto, exclusiva da direita, e mesmo desencantados falham na compreensão das dimensões do ficcional. No anseio de promover leituras desmistificadoras, muitos atores sociais —de influenciadores a professores universitários— reagem ao que compreendem (com razão) como a imposição de um cânone literário de modo obtuso. Acusam de forma anacrônica e generalizante obras de séculos passados de propagarem ideologistas racistas, sexistas e outros; confundem trama e biografia do autor; fazem convergir falas de personagens com o discurso da obra.
Não é hora de dobrar a aposta em um recuo da ficção. Ler romances não nos ensina necessariamente a diferenciar o verdadeiro e o falso, e certamente não faz de nós pessoas melhores, como diziam os velhos humanistas. Mas investir na experiência ficcional é, sim, investir na imaginação produtiva e saudável, em detrimento da imaginação ressentida ou intoxicada, que produz os monstros muito concretos que nos ameaçam.
Temos visto, porém, o resultado da intuição contrária, como se, diante da impossibilidade de competir com a força de mobilização emocional das fake news, se investisse na estetização do fato, tornado mais interessante ao ser articulado no formato romanesco.
Ernaux leva essa questão às últimas consequências: os fatos, sem firulas, devem ser suficientes, diz a autora. Ela é bem-sucedida. Partindo da hipertrofia do eu e atingindo a experiência coletiva, Ernaux opera um pequeno milagre. Mas milagres são raros, e talvez o radicalismo desficcionalizante da obra da autora seja o canto do cisne do boom da escrita autorreferencial.
A reflexão de fundo, porém, permanece: a ficção extrapola as salas de aula ou as cabeceiras dos leitores, chegando à vida cotidiana mais material, às eleições, às políticas públicas. O ser humano é alimentado pela imaginação, e esta tem no gatilho da ficção um de seus nutrientes mais ricos. Precisamos testar possibilidades, precisamos de outras realidades para entender a nossa; sempre buscaremos o ficcional em algum lugar.
Quando abrimos um livro, o desejo de ter à mão a realidade escancarada —somente, sempre e logo— talvez signifique que, por covardia, desilusão ou cinismo, estamos desistindo de outros mundos possíveis.






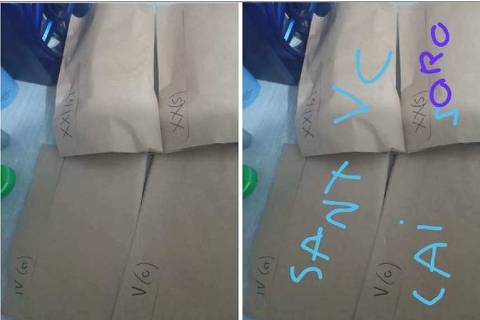

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.