[RESUMO] Autor analisa o recém-completado primeiro ano de mandato presidencial de Emmanuel Macron na França e discute a possibilidade de a experiência ser replicada no Brasil.
Emmanuel Macron chegou à Presidência da França com tanta força que, pouco depois de seu êxito eleitoral, muitos já o admiravam como modelo de uma nova tendência: um candidato jovem (ele fez 40 anos em dezembro), neófito nas urnas, líder de um novo movimento político (o En Marche!, em marcha).
Ao contrário de um mito popularizado no Brasil, Macron era tudo menos um outsider quando lançou a sua candidatura. Acumulava uma experiência de cinco anos na administração pública francesa, na qual chegou a ministro, e de quase uma década na política partidária, como membro do Partido Socialista.
Uma vez no comando do país, destacou-se por sua visão sobre o Estado e sobre a relação entre o Executivo e o Congresso. Preferindo se apresentar como “nem de direita nem de esquerda” do que de centro, ele redefiniu as regras do jogo partidário para impor a sua agenda de reformas.
Um ano depois de ter conquistado dois terços dos votos no segundo turno contra a líder de extrema direita Marine Le Pen, Macron continua sendo referência para diversos políticos das democracias liberais, incluindo o Brasil.
Por aqui, a emergência de um “Macron brasileiro” passou a ser vista como forma de atender um eleitorado cada vez mais segmentado e, ao mesmo tempo, atenuar as consequências da obsolescência programada das agremiações sociais-democratas.
Alguns políticos até tentaram forçar uma amizade com Macron. João Doria (PSDB), por exemplo, deslocou-se a Paris em setembro com o propósito de obter a bênção do presidente francês. Arrancou dois dedos de conversa numa sala repleta de outras pessoas, mas não convenceu.
Uma fonte diplomática descreveu o tucano para o jornal Le Monde como um “[Silvio] Berlusconi brasileiro, sem o bunga bunga”, numa alusão às festas lúbricas do populista italiano. Com efeito, Doria, sectário e inconsistente, revelou-se o anti-Macron por excelência.
Sua intuição, porém, estava certa: os acontecimentos recentes na França podem servir de roteiro para a tão desejada renovação política em outros países ocidentais.
Assim como ocorreu depois do sucesso eleitoral de Barack Obama nos Estados Unidos, inúmeros autodeclarados marqueteiros de Macron bateram à porta dos políticos brasileiros com a promessa de compartilhar os segredos da campanha vitoriosa.
Coordenador da base de dados utilizada para recrutar militantes pelo En Marche!, Guillaume Liegey passou por São Paulo em plena febre Luciano Huck e disse estar convencido de que o modelo poderia ser importado.
“Emmanuel Macron: les Coulisses d’une Victoire” (Emmanuel Macron: os bastidores de uma vitória, 2017), documentário de Yann L’Henoret, mostra os limites dessa promessa. A despeito do jargão empreendedor que permeava os discursos da campanha, exaltando a iniciativa individual e a abordagem “bottom-up” (de baixo para cima), todas as decisões passavam pelas mãos do candidato.
Numa das cenas, ele é visto redigindo um comunicado de imprensa sob o olhar bovino dos assessores mais próximos. O En Marche! (que depois das eleições foi rebatizado La Republique en Marche, A República em Marcha) é uma máquina desenhada pelo líder para servir a seu projeto, dificilmente replicável por um aventureiro.
O recém-completado primeiro ano de mandato confirmou a impressão, forjada na campanha, de que Macron é um político assumidamente elitista.
No livro “Un Personnage de Roman” (um personagem de romance, 2017), de Phillippe Besson, o presidente francês se refere a Napoleão para justificar sua preferência por se cercar de conselheiros superdiplomados: “Os marechais do império [que acompanhavam Napoleão] eram jovens e não eram homens do povo, eles tinham feito a escola da guerra”.
Referências à Revolução Francesa de 1789 e ao Primeiro Império Francês fundado por Napoleão em 1804 voltaram a ser recorrentes com Macron, que escolheu o Palácio do Louvre para fazer o discurso de vitória, recebeu o russo Vladimir Putin no Palácio de Versalhes e convidou o americano Donald Trump para assistir ao desfile militar da festa nacional de 14 de julho.
Esses eventos pomposos serviam para introduzir a primeira das três dimensões constitutivas do macronismo: a restauração da ordem republicana.
Esse aspecto se reflete no exercício de seu poder, que Macron define como jupiteriano —distante, sóbrio e altivo. Todo o contrário da autointitulada presidência normal de François Hollande (2012-2017), vista como um período de acabrunhamento da autoridade do Executivo, e da sórdida hiperpresidência de Nicolas Sarkozy (2007-2012), marcada por golpes sujos como os descritos no excelente “Sarko m’a tuer” (Sarko me matou, 2011), de Gérard Davet e Fabrice Lhomme.
Na sua busca por uma nova dinâmica, Macron formou uma equipe ministerial de estrelas ascendentes da política regional, líderes do setor privado e notáveis da sociedade civil, entre os quais se destaca o ativista ambiental Nicolas Hulot, eterno presidenciável reconvertido em consciência ecológica do atual governo.
Fiéis à regra de tolerância zero a vazamentos e declarações falastronas, os ministros se limitam a comunicados técnicos sobre metas e objetivos adornados de elogios ao soberano. Essa cortina de fumo desespera os jornalistas, que, incapazes de especular sobre as intrigas palacianas, recorrem às influências intelectuais do presidente.
Paul Ricoeur (1913–2005) tem despertado grande interesse. Macron assessorou o filósofo e redigiu estudos sobre seu trabalho, que tinha o intento declarado de buscar uma terceira via humanista entre o capitalismo liberal e o marxismo.
O conde de Saint-Simon (1760-1825) é outra referência notável. Teórico político e econômico, defendia a industrialização, aplaudia os produtores e abominava os rentistas. Para Pierre Musso, autor de “Saint-Simon et le Saint-Simonisme” (Saint-Simon e o saint-simonismo, 1999), a França está redescobrindo o pensamento industrialista sob o impulso de Macron.
Saint-Simon é essencial para entender a segunda dimensão constitutiva do macronismo: o papel da administração pública na organização do setor produtivo.
O presidente —liberal consciente de viver num mundo cada vez mais iliberal, onde o internacionalismo perde espaço para o nacionalismo— vem reforçando o caráter estratégico do Estado. Nacionalização e privatização, por exemplo, passaram a ser dois mecanismos de radicalidade equivalente.
Quando o estaleiro naval STX estava ameaçado de falir e ser adquirido por uma empresa chinesa, o governo Macron não hesitou em proceder a uma nacionalização temporária. A virtude orçamentária, por sua vez, é apresentada como necessidade para aumentar a despesa pública, componente essencial da ação estatal.
A melhoria da competitividade do setor empresarial e empreendedor, um dos fetiches do presidente, passa por um plano de investimento público em ciência e tecnologia estimado em 60 bilhões de euros.
A importância conferida ao Estado, no seu sentido simbólico, estético e instrumental, revela o enorme fosso que separa o atual governo francês do projeto de Estado mínimo defendido por alguns dos candidatos apresentados como “Macrons brasileiros”. Dificilmente João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB) se identificariam com o slogan de campanha de Macron: “libertar e proteger”.
Joaquim Barbosa (PSB), que chegou a ser pensado como candidato do novo centro brasileiro, é particularmente atento a questões francesas, devido a sua formação política e intelectual.
O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal deve se reconhecer em Macron. Ele também é um produto do ensino público francês (obteve três diplomas de pós-graduação na Universidade Panthéon-Assas - Paris 2), demonstra pouca estima pelos políticos profissionais, ignora cordialmente os jornalistas e parece indiferente à suposta falta de clareza de suas posições ideológicas.
Talvez ainda mais importante para compreender sua decisão de não disputar o Planalto, Barbosa partilha com o líder do En Marche! o mesmo diagnóstico sobre a política partidária. Logo após a vitória de Macron, o ministro aposentado ressaltou o desejo da velha nação francesa de inovar e destacou a revanche do francês eleito sobre os “velhos e carcomidos partidos políticos”.
De fato, a terceira dimensão constitutiva do macronismo é a vontade de desmontar o que o presidente francês considerava a verdadeira força inerte da República: o consórcio de poder formado pelo Partido Socialista, de centro-esquerda, e Os Republicanos, de centro-direita.
Macron sedimentou o seu preconceito contra as legendas tradicionais durante a sua fulgurante passagem pelo governo Hollande, ao qual chegou como assessor político depois de um rápido e intenso período na alta finança. O sentimento dos caciques, conhecidos na França como “elefantes”, era recíproco.
No livro “La Politique Est un Sport de Combat” (a política é um esporte de combate, 2017), um dos ex-assessores de Hollande, Gaspard Gantzer, relata que os líderes do Partido Socialista se referiam a Macron com palavras como “micróbio” e “jihadista”.
Segundo o “Chronique d’une Débâcle” (Crônica de uma debacle, 2017), de Jean-Christophe Cambadélis, ex-secretário-geral do Partido Socialista, quando Macron abandonou pela primeira vez o governo Hollande, em 2014, ele prometeu regressar e atacar “tudo com um picador de gelo”. Um mês depois, assumiria o Ministério da Economia. Mais dois anos e lançaria oficialmente sua candidatura.
Uma traição com método, segundo disse Hollande, seu fiador político e chefe à época.
A vitória de Macron teve impacto imediato e devastador no duopólio que organizava a vida política francesa desde os anos 1980.
No comando da Presidência, do Congresso e da grande maioria dos governos regionais e municipais até o ano passado, o Partido Socialista viu sua base parlamentar derreter de 295 para 44 deputados.
Atualmente, a agremiação se encontra em situação de falência técnica. Acabou de vender sua sede histórica e eleger um novo secretário-geral no mais completo anonimato.
Macron se atirou com a mesma ferocidade contra o partido Os Republicanos. Conforme relatado no livro do jornalista Michaël Darmon, “Macron ou la Démocratie de Fer” (Macron ou a democracia de ferro, 2018), o presidente recrutou os jovens mais promissores, capturou as principais bandeiras programáticas e condenou a agremiação política a uma morte mais lenta, porém mais dolorosa, que a dos socialistas.
A cerca de dois anos das próximas eleições municipais, a legenda é refém da contradição de apoiar as reformas de Macron e, ao mesmo tempo, afirmar-se como oposição ao atual governo para impedir a migração do seu eleitorado para a Frente Nacional, de Le Pen.
O colapso eleitoral dos dois principais partidos precipitou a adesão de seus quadros ao En Marche!, que se tornou um exército de mercenários e debutantes. Desprovido de coesão interna, e por isso facilmente maleável, o movimento tem se revelado o melhor aliado possível de um Poder Executivo que pretende avançar a tambor batente. “Será que Macron matou a política?”, interrogava-se Françoise Fressoz, editorialista do jornal Le Monde.
A velocidade dos acontecimentos na França deve ter impressionado outro francófilo da política nacional, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
As semelhanças entre o atual panorama brasileiro e o francês às vésperas da ascensão de Macron ajudam a entender por que o tucano tanto se empenhou em apadrinhar uma candidatura de ruptura, a ponto de traçar um paralelo entre o intérprete do filósofo Paul Ricoeur e o idealizador da Tiazinha.
FHC faz parte de uma geração de políticos ocidentais que está vendo seu legado desmanchar-se diante dos olhos. Bill Clinton, presidente dos EUA de 1993 a 2001, perdeu o lugar de ícone do Partido Democrata para Barack Obama. Tony Blair, premiê britânico de 1997 a 2007, encontra-se marginalizado dentro do Partido Trabalhista, que alçou ao poder um dos seus principais antagonistas dentro do campo progressista, Jeremy Corbyn.
Ao tentar lançar Huck para presidente, FHC buscava antes de tudo preservar o seu legado do esvaziamento anunciado do seu partido.
Nesta altura do campeonato, Ciro Gomes (PDT), tradicionalmente aliado à centro-esquerda, emerge como nome mais habilitado para pôr fim na alternância de poder entre PT e PSDB. Ele tem sido visto defendendo a reforma da Previdência e oferecendo a Vice-Presidência a legendas de direita.
Próximo de representantes históricos da ala moderada do PSDB, o ex-governador do Ceará tem potencial para se tornar o agente disruptivo do sistema partidário. Uma ironia para um político que sempre tratou as legendas como meros veículos para atingir seus objetivos.
É compreensível que as agremiações tradicionais relutem em apoiar candidaturas que, em última análise, dinamitariam o sistema que as sustenta. Atualmente, essa relutância é ilustrada pelas críticas da cúpula do PT às conversas entre Fernando Haddad e Ciro.
Essas manifestações só servem para adiar o inevitável. Por causa da sua transversalidade, termo utilizado em manifesto a seu favor publicado neste jornal, Haddad terá papel central na organização da centro-esquerda depois da eleição de 2018. A situação pode até chegar a se inverter, com o PT precisando mais de Haddad do que ele do PT.
Enquanto isso, na França, o governo Macron tem se aproveitado das incongruências do antigo sistema bipartidário para avançar com a sua agenda de reformas.
O presidente não recusa a ideia de que existem políticas públicas de direita e de esquerda, mas sustenta que o chefe de Estado deve ultrapassar essa dicotomia. Governar pelo centro, de acordo com Macron, é ter liberdade de movimento dentro do espectro ideológico tradicional.
Um princípio norteador ao qual aderiam, em surdina, os seus predecessores. Foi o presidente socialista François Mitterrand (1981-1995), aliado dos comunistas, que provocou a virada neoliberal de seu país há cerca de 30 anos. Foi o também socialista governo de coabitação do primeiro-ministro Lionel Jospin (1997-2002) que lançou a maior campanha de privatizações.
Os presidentes conservadores sempre chegaram ao poder depois de vencer a competição interna de candidatos tidos como mais próximos ao neoliberalismo, a única exceção sendo Sarkozy. Eleito com a promessa de roer a corda do Estado, ele sacrificou o rigor orçamentário no altar da crise financeira de 2008 e acabou se viciando em investimento público.
No jogo das contradições, entretanto, ninguém ultrapassou Hollande. Durante a campanha, ele chocou os eleitores com a promessa de uma “taxa Piketty” (em referência ao célebre economista francês) de 75% sobre a renda dos ultrarricos. Uma vez no poder, abandonou a proposta para lançar no lugar uma política de favorecimento de empresas acompanhada de uma polêmica reforma trabalhista.
Numa França onde os políticos transformaram o estelionato eleitoral em esporte nacional, a principal força de Macron é o fato de seu programa ter sido claramente explicitado durante a campanha.
Também por aqui a coerência programática deve ser elemento central da corrida presidencial. O Congresso saiu empoderado do processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT). Um fato agravado pela atitude do governo Michel Temer (MDB), que, para sobreviver, desdobra-se para atender as demandas do Legislativo, diluindo ainda mais o poder do Executivo.
É certo que o próximo presidente enfrentará dificuldades para impor a sua agenda a um Parlamento muito mal-acostumado.
Se nos basearmos na experiência de Macron, uma pequena mudança no calendário eleitoral poderia aumentar significativamente a capacidade do próximo chefe do Executivo federal de manter a coerência programática: realizar a eleição para deputado quatro semanas depois do segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto.
Introduzido na França em 2002, quando se reduziu o mandato presidencial de sete para cinco anos, o ajuste oferece a oportunidade de cada eleitor escolher o seu deputado em função do presidente eleito.
Num primeiro momento, essa alteração erradicou a famigerada coabitação —a convivência entre um presidente e um Congresso de campos políticos diferentes, que ocorreu sob François Mitterrand e Jacques Chirac (1995-2007).
Num segundo momento, permitiu a chegada de uma nova geração de políticos ao Legislativo. É dado adquirido que os ilustres desconhecidos que se candidataram pelo movimento En Marche! nunca teriam conseguido se eleger sem o entusiasmo suscitado pela vitória de Macron.
Hollande, em “Les Leçons du Pouvoir” (as lições do poder, 2018), atribui suas dificuldades à insubordinação da sua maioria parlamentar, que tentava capitalizar sobre cada comoção social. Na era Macron, os deputados se submetem à agenda determinada pelo presidente, e não o contrário.
Até pouco tempo atrás, as circunstâncias excecionais que permitiram a Macron chegar ao poder pareciam dificilmente replicáveis em outros países. Essa percepção está começando a mudar.
Na Espanha, a alternância no poder entre os partidos de esquerda e direita tradicionais parece condenada a terminar na próxima eleição. Algo ainda mais radical se desenha na Itália, onde, depois da derrota histórica do Partido Democrata no último pleito, os populistas anunciaram uma aliança governamental. Na Europa de leste, as democracias liberais construídas nos anos 1990 estão cedendo o lugar a regimes nacionalistas e antidemocráticos.
Nesse contexto, a bem-sucedida união de esquerda em Portugal surge como a exceção que confirma a tendência de esgotamento da social-democracia em toda a Europa.
Longe de inventar um novo universo ideológico, ou de quebrar os códigos do poder republicano, Macron agarrou a oportunidade para firmar uma nova relação entre o Executivo e o Parlamento por meio da destituição do poder das impopulares e vetustas agremiações tradicionais sem recorrer a alianças com os extremos. A revolução da dinâmica partidária explica por si só a fascinação global suscitada pelo seu governo.
No Brasil, muitos continuam acreditando na profecia de Lula, afirmada a este jornal, de que “a disputa deverá ser outra vez entre tucanos e PT”. Os barões da política francesa tinham previsão muito semelhante sobre a eleição presidencial poucos meses antes da vitória de Macron.
Mathias Alencastro é doutor em ciência política pela Universidade de Oxford e pesquisador do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento).
Jan Limpens é ilustrador e quadrinista.



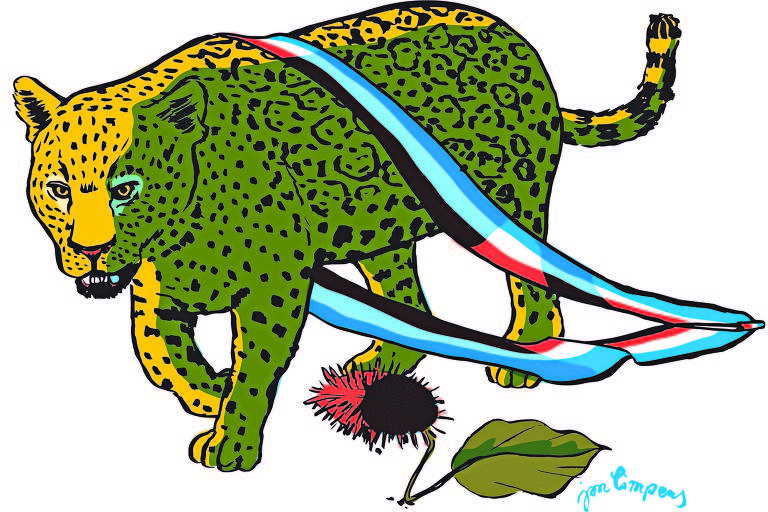






Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.