[RESUMO] Autor lembra amizade com Otavio Frias Filho, diretor de Redação da Folha de 1984 a 2018, cuja morte completa um ano nesta quarta (21). Define-o como um apaixonado pelo conhecimento, com autodisciplina intelectual enraizada, que não poupava ninguém do seu olhar clínico, menos ainda a si mesmo,
Quis o acaso que Otavio e eu trilhássemos trajetórias vizinhas, mas demorássemos a nos conhecer. Somos exatos contemporâneos: três meses apenas separam os nossos nascimentos nos idos de 1957. Filhos de famílias burguesas, pais severos, ambos estudamos em colégios católicos da elite paulistana sob o regime militar —ele no Santo Américo, eu no Santa Cruz. A experiência semeou em nós o gosto pelo estudo e nos fez irremediavelmente arreligiosos.
Ingressamos no mesmo ano na USP e cursamos em paralelo duas faculdades de humanas —ele fez direito e ciências sociais, eu fiz economia e ciências sociais. Participamos do ressurgimento do movimento estudantil e militamos em grupos de esquerda que refundaram os centros acadêmicos e tomaram as ruas contra a ditadura em meados dos anos 1970. Eram tempos sombrios, mas de sonhos profusos: a revolução prestes a eclodir a cada esquina. As paredes tinham ouvidos, mas os ouvidos não tinham paredes.
É altamente provável que, embora sem jamais nos darmos conta da existência um do outro, tenhamos assistido a aulas na mesma sala, participado de assembleias estudantis, corrido da polícia em passeatas e ido aos mesmos bares e eventos culturais. Além disso, como descobrimos mais tarde, tínhamos amigos comuns. Imagino quantas vezes não estivemos por um triz de entabular conversa e, caso isso tivesse ocorrido, se teríamos àquela altura ficado amigos, como foi o caso tantos anos depois (o aleatório das relações humanas sempre foi um tema predileto de Otavio). A timidez centrípeta compartilhada não ajudou.
Na década de 1980 nossos caminhos bifurcaram. Otavio tornou-se diretor de Redação da Folha no exato momento em que o jornal assumia um enorme protagonismo na luta pela redemocratização e na mobilização das Diretas Já, ao passo que eu me encastelava por quase dez anos na torre de marfim de uma universidade inglesa.
Foi somente em agosto de 1993, alguns anos após o meu retorno e graças a um inesperado convite de seu Frias, o pai de Otavio, para escrever uma coluna semanal de economia e passar a frequentar os almoços de sexta na Folha, que Otavio e eu afinal viemos a nos conhecer pessoalmente.
Foi um difícil começo. Recordo-me vivamente que Otavio nutria na época uma visível antipatia pela então onipresente tribo dos economistas. Vivíamos o auge da turbulência inflacionária —a saga dos planos de estabilização fracassados— e o ar andava saturado de tecnicismo abstruso e do mais tenebroso jargão econômico.
No dia em que visitei a Folha e aceitei o convite, seu Frias chamou Otavio em sua sala a fim de me apresentar a ele. Foram duas ou três palavras protocolares, um meio-sorriso chocho e “passe bem”. Visivelmente contrariado na sala do pai, o diretor de Redação me recebeu com mal dissimulada frieza e má vontade. O gelo queimou.
Ficou claro para mim naquele primeiro contato que, se dependesse do Otavio, o convite não teria sido feito; era uma escolha do pai. Seria comigo o problema? Preferi acreditar que não. Na opinião dele, fabulei, tudo que a Folha não precisava àquela altura era de mais um economista engrossando a cacofonia de um debate bizantino em medonho economês.
Ao sair do “encontro”, meio abalado, caminhando pelas ruas do centro, refleti: “O pior é que o Otavio tem razão; o problema é que eu não sou quem ele pensa que sou —e seu Frias idem!”. Resolvi me empenhar, na coluna dominical e nos almoços de sexta (minha pós-graduação nos meandros e bastidores da política brasileira), a virar o jogo. O plano era quebrar a resistência de Otavio.
Funcionou. O Brasil afinal venceu o pesadelo inflacionário, o ar desanuviou e Otavio, com o tempo, percebeu que eu não era exatamente um economista da tribo tecnocrática, mas alguém que, como ele, levava uma espécie de vida dupla.
Cada um exercia, em boa medida por senso de dever, uma função profissional reconhecida na esfera pública —ele no jornal, eu na universidade—, mas tínhamos como vocação pessoal e paixão dominante o mundo das letras e o estudo de ciências humanas e filosofia. O empenho em estreitar o fosso entre as duas vidas —a funcional e a expressiva— e a ambição de integrá-las sob o domínio do impulso criador eram traços que nos uniam.
A prova de que a resistência inicial fora vencida veio quando Otavio me convidou, em janeiro de 1998, a voltar a escrever regularmente na Folha (eu havia interrompido a coluna para me dedicar a um projeto de livro), só que agora não mais na editoria de economia, mas na Ilustrada, onde poderia abordar temas de cultura e comportamento.
O convite caiu como uma luva. Alguns colegas economistas chegaram a comentar na época que eu havia sido “rebaixado”. Aos meus olhos, contudo, era justamente o oposto. E foi a partir dessa segunda encarnação na Folha que Otavio e eu enfim nos aproximamos e começamos a semear nossa amizade.
Embora pouco frequentes, duas ou três vezes por ano, nossas conversas madrugada adentro, sempre embaladas por substâncias centrífugas, eram encontros de alta voltagem intelectual e tinham, para mim, uma rara qualidade.
Otavio era uma das poucas pessoas com quem podia conversar livremente e dizer coisas que uma certa discrição ou pudor moral me impediriam de dizer a outros; alguém com quem podia falar de qualquer assunto, do mais pessoal ao mais especulativo, quase como se falasse a sós comigo: despido da elaborada persona sob a qual nos protegemos na vida comum, livre das amarras e inibições da mascarada social. O que eram nossas conversas em mar aberto, diversão boêmia ou trabalho? As duas coisas —e intensamente prazerosas.
Pouco a pouco, sem que nos déssemos conta disso, firmou-se entre nós um certo pacto ou espírito de cúmplice aventura (um tanto na linha do seu “Queda Livre” ou, por que não dizer, do meu “Autoengano”) que nos permitia, de tempos em tempos, explorar cooperativamente territórios intelectuais e anímicos de difícil acesso.
Em retrospecto, percebo que nossa amizade foi ganhando densidade à medida que Otavio deslocava o seu foco principal de interesse do teatro (“pecados de juventude”, como ele escreveu na dedicatória do meu exemplar de “Cinco Peças”) para o estudo da psicologia e biologia evolucionárias e tudo que dissesse respeito ao mistério da consciência.
Três valores centrais distinguiam, a meu ver, o modo de ser e a visão de mundo de Otavio: a curiosidade, a objetividade e o pluralismo.
Otavio tinha paixão pelo conhecimento. A teima interrogante do saber —a “libido investigativa”, como ele a designava— era uma de suas arcas pessoais. Adorava disparar perguntas e não se satisfazia com pouco. Sabia que subjacente a cada crença bem fundamentada existia outra crença possivelmente infundada. Gostava de cavar. Aos seus olhos, para adaptar a fórmula de Paul Valéry, uma dificuldade era uma luz; mas uma dificuldade intransponível era um sol.
A curiosidade de Otavio tinha um lado prático, ligado à veia jornalística, mas ia muito além disso. Em “Queda Livre”, ele fez de si mesmo um campo de experimentação ou laboratório por meio do qual buscava, em situações-limite, testar aspectos de sua personalidade e explorar o autoconhecimento.
Quando publiquei “A Ilusão da Alma”, em 2010, recebi dele uma carta de sete páginas com observações pontuais e perguntas da maior pertinência sobre o enigma da relação mente-cérebro. Foi o melhor presente que eu poderia sonhar em receber pelo livro.
Otavio cultivava a objetividade. Onde existe fé, ele bem sabia, sempre há dúvida. O decisivo para ele não era quem dizia, mas o que era dito —e com base em quê. O hábito de pensar impessoalmente, sem se deixar seduzir pela eventual vantagem ou inconveniência de acreditar em algo; a vigilância da suspeita e a recusa em permitir que a força de uma crença fizesse as vezes de critério de verdade; o compromisso com a clareza e a lapidar concisão dos enunciados eram atributos de uma autodisciplina intelectual enraizada no seu modo de ser. Se não poupava ninguém do seu olhar clínico, menos ainda poupava a si mesmo.
Onde há dúvida sempre existem dois (ou mais) lados. Não há ponto sem vista. A mente inquisitiva de Otavio e o seu ceticismo diante de qualquer absoluto ou verdade definitiva tinham como contrapartida a defesa do pluralismo em todas as questões de relevo. Não foi à toa que, sob sua direção, a Folha se tornou o principal fórum de debates e pontos de vista da imprensa brasileira sobre o mais diversificado e arejado leque de temas da nossa vida pública.
Otavio se foi cedo demais: no ápice da maturidade, com a cabeça fervilhando de ideias e projetos. Quis o azar de uma reprodução celular defeituosa no pâncreas que ele fosse abatido em pleno voo. Impossível conformar-se com sua ausência. Resta, então, a pergunta a que sempre retornávamos em nossas conversas: mas se tudo começa e termina em bioquímica, e se o único deus é o acaso, por que tanto sofrimento?
Eduardo Giannetti da Fonseca, formado em economia e em ciências sociais pela USP, é autor de “Trópicos Utópicos” e “O Elogio do Vira-Lata e Outros Ensaios” (ambos pela Companhia das Letras), entre outros livros.


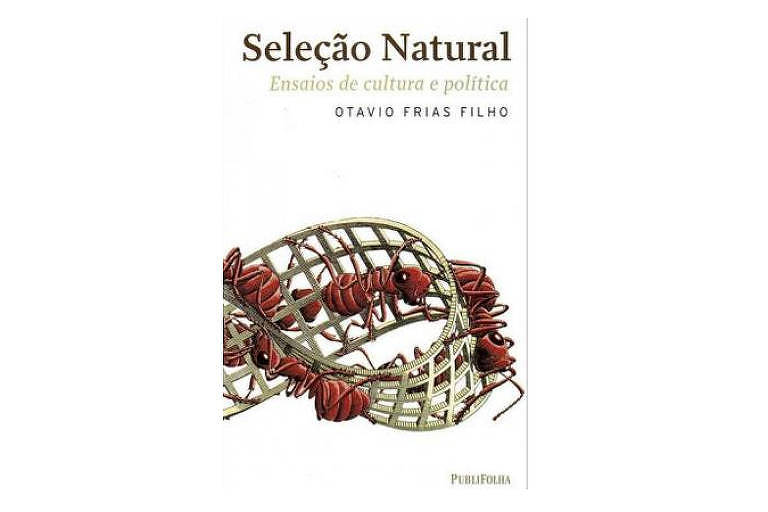
































Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.