[resumo] Ano complicado, 2020 será possivelmente lembrado no cinema pela vasta presença de artistas negros à frente e atrás das câmeras em produções que retratam os embates raciais nas últimas décadas. Um dos expoentes desse grupo, Steve McQueen comenta a criação de ‘Small Axe’, antologia de cinco filmes sobre a vida de populações negras dos anos 1960 a 1980 indicada a dois Globos de Ouro (melhor minissérie ou filme para a TV) e melhor ator coadjuvante (John Boyeg).
2020 será lembrado, possivelmente, como um ano emblemático da presença de artistas negros no cinema, seja protagonizando, escrevendo ou dirigindo filmes —em alguns casos, ocupando todas essas funções em uma mesma produção. E mais: esses longas tiveram como enredo momentos significativos da história de populações negras nos Estados Unidos, compartilhados, assim, com plateias de todas as idades, etnias e colorações.
Parece ser o auge da luta por representatividade racial nas telas, que remonta a 1909, ano de “A Trip to Tuskegee”, o primeiro filme produzido, dirigido e estrelado por afrodescendentes, e a 1911, quando os empreendedores William Foster e Oscar Micheaux, em Chicago, e Noble Johnson, em Los Angeles, criaram as primeiras produtoras dedicadas exclusivamente à plateia afrodescendente, com atores e temas exclusivamente negros.
“Destacamento Blood”, de Spike Lee; “A Voz Suprema do Blues”, de George C. Wolfe; “Uma Noite em Miami”, de Regina King; “The United States vs. Billie Holiday”, de Lee Daniels; a antologia de filmes “Small Axe”, de Steve McQueen, estão entre as melhores produções do ano.
"Small Axe” já foi escolhido como melhor filme pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles. Concorrem ao Globo de Ouro, a ser realizado em 28 de fevereiro, “A Voz Suprema do Blues” (duas indicações), “Uma Noite em Miami” (três indicações), “The United States vs. Billie Holiday” (uma indicação). É provável que também estejam entre os indicados ao Oscar.
Além disso, dramas, comédias, filmes de ação, comédias românticas —de “Bad Boys Para Sempre” a “O Banqueiro”—, passando pelos thrillers de terror —”Antebellum”, “Spell”, “Bad Hair”—, um gênero relido, refeito e restabelecido, com sucesso, por outro artista negro, o cineasta e ator Jordan Peele, o conteúdo audiovisual antes destinado exclusivamente ao “público urbano” (código para “negro” e “latino”) tornou-se parte essencial da produção e do consumo da indústria.
Isso, importante destacar, em um ano de pandemia, com a maioria dos cinemas fechados. “Deus opera de modos misteriosos”, diz Spike Lee, que retratou a Guerra do Vietnã em seu mais recente longa. “Não fiz o filme para ser exibido na Netflix. O plano era outro: eu ia ser presidente do júri de Cannes, e ‘Destacamento Blood’ teria sua première no festival, fora de competição. E depois seria exibido em um circuito de telas como Scorsese teve com ‘O Irlandês’. Mas aí apareceu essa coisa chamada Covid-19 e tudo mudou.”
Os mitos de que “filmes negros não vendem ingressos fora da comunidade” e “filmes negros não viajam” (ou seja, não são vendidos facilmente para distribuidores e exibidores de outros países) caíram totalmente por terra diante dessa onda negra. E isso inclui, com importância de protagonista, séries como “Lovecraft Country”, “Insecure”, “Queen Sugar”, “Empire”, “Power” e “Snowfall”, entre outras.
“Sempre que havia o sucesso de um filme com elementos predominantemente pretos, a indústria se virava para achar uma explicação”, disse Jeff Clanagan, presidente da produtora independente Codeblack Films, ao Los Angeles Times. “Era como se fosse uma anomalia, algo estranho, que não podia acontecer normalmente.”
“Pantera Negra” (2018) foi, com certeza, um marco para essa expansão: um filme de amplo alcance, de puro entretenimento, dirigido (Ryan Coogler) e protagonizado (Chadwick Boseman) por artistas negros, bancado por um gigante da diversão (Marvel/Disney) que cria, compreende e explora marcas de mitologia popular.
O enorme sucesso de “Pantera Negra” (cerca de R$ 7,2 bilhões arrecadados em salas de cinema no mundo) repercutiu de todos os modos e todos os tons, nem sempre positivos. “A indústria gosta mesmo é de diversão e de super-herói, o que eu propunha era perigoso”, se queixa o diretor Lee Daniels (“Preciosa”, “O Mordomo da Casa Branca”, a série “Empire”), que levantou por conta própria os recursos para a realização de “The United States vs. Billie Holiday”.
Some-se o estrondo “Pantera Negra’’ a anos seguidos de produção regular de títulos criados por realizadores negros —Spike Lee, John Singleton, os irmãos Hughes, Kasi Lemmons, Mario van Peebles (fllho de um pioneiro do cinema black, Melvin van Peebles), Ava DuVernay, Barry Jenkins—, a uma crescente rede de plataformas de exibição famintas por conteúdos e a novas plateias que cresceram com o debate da inclusão e da diversidade sociais e se tem um esboço dos fundamentos desta safra histórica de 2020.
De um lado, o público afrodescendente tem interesse sólido nos filmes com realizadores e elenco negros, além de “Pantera Negra” —um estudo da empresa Statista aponta 79% de interesse de negros millennials e da geração Z em ver filmes sobre sua cultura e história. De outro, as mesmas gerações, brancas e “woke”, estão sensibilizadas pela necessidade de uma sociedade justa.
“A história sempre se repete”, pondera Spike Lee. “Tivemos os anos 60 e 70 para trazer os direitos civis em primeiro plano. E o que me dá mais otimismo agora é ver a jovem geração branca que se uniu a nós nas ruas e está conosco. Isso me dá alegria em todos os níveis, e com o cinema, também. É parte disso.”
“Somos gratos a todo o mundo que abriu esse caminho e não desistiu”, diz Regina King, atriz multipremiada que estreou como diretora com “Uma Noite em Miami”, pelo qual concorre ao Globo de Ouro de melhor direção. “Nada muda rapidamente —não espero que nossos problemas sociais mudem da noite para o dia porque elegemos Joe Biden e Kamala Harris, mas o fato de Kamala ter sido eleita é algo muito poderoso. Mas a verdade é que nossos problemas não vão sumir por causa disso, e o talento e temas negros na indústria continuam sub-representados.”
Há uma sintonia casual, mas poderosa, na onda negra de 2020. Dois longas são adaptações de peças: “Uma Noite em Miami” e “A Voz Suprema do Blues” (este último com Viola Davis como a rainha do blues dos anos 1920 e 1930, Ma Rainey, e Chadwick Boseman, o Pantera Negra, morto de câncer em agosto, aos 43 anos, em seu derradeiro trabalho; ambos estão indicados aos prêmios de atuação em drama do Globo de Ouro).
Os principais filmes dessa onda reexaminam, recontextualizam e recontam a história recente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, da segregação racial à Guerra do Vietnã; e em todos a música é parte essencial da trama.
“Eu fiquei empolgado e estressado ao mesmo tempo com a proposta de fazer um filme baseado na peça de August Wilson”, diz George C. Wolfe, premiado diretor de teatro que filmou “A Voz Suprema do Blues”. “A ideia do filme foi de Denzel [Washington]. Como abrir a peça para um filme foi o desafio. O coração da narrativa é a gravação em um estúdio de Chicago, e o que me interessou foi a possibilidade de criar a Chicago nos anos 1920, quando a cidade recebia a enorme migração de pretos vindos do Sul, que iriam torná-la o berço do rhythm ‘n blues.”
“E Ma Rainey sempre dizia que não gostava do Norte, preferia o Sul, uma coisa difícil de compreender, considerando o estado de coisas do Sul. Mas, pelo ponto de vista de uma empreendedora que era dona de teatros no Sul, uma estrela para as plateias de lá, comecei a compreender... e por isso abro o filme com ela em seu esplendor no Sul e mudo a peça de inverno para verão em Chicago, para poder tirá-la do estúdio e mostrar o ambiente da cidade nos anos 20”, acrescenta o diretor.
“Sam Cooke, Muhammad Ali —que na época ainda era Cassius Clay—, Jim Brown e Malcolm X se encontraram em Miami, sim, mas só temos o registro do fato, não temos os detalhes”, elabora Regina King sobre o filme “Uma Noite em Miami”. “É uma delícia seguir o texto de Kemp [Powers, autor da peça e do roteiro] para dar voz a essas figuras essenciais. Há uma repercussão daquele momento no momento que estamos vivendo agora. No fim de tudo, temos que voltar à escravidão e recontar a história toda, de todos os lados.”
Do poder absoluto da Ma Rainey de Viola Davis à voz única da Billie Holiday da estreante Andra Day, do Sam Cooke de Leslie Odom Jr. à parede de soul e R&B de “Destacamento Blood” e o mundo de ska, reggae e rock de “Small Axe”, a música une esse panorama da experiência negra que domina o cinema da safra 2020.
Lee Daniels —que confessa que o desejo de ser cineasta veio aos 13 anos, quando viu o filme “O Ocaso de uma Estrela” (1972), sobre a vida de Billie Holiday— afirma que a música “é perigosa, e a música negra é mais perigosa ainda”.
“Billie Holiday era perigosíssima, ao ponto de o governo norte-americano ter medo dela, seguí-la, gravar suas conversas, proibir músicas como ‘Strange Fruit’. Quando se fala na luta pelos direitos civis, se pensa em Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, mas lá estava Billie no começo de tudo, com sua voz e sua música, destemida, complicada, uma cantora divina, uma drogada que cresceu em um bordel. E com esse poder todo, um poder tão grande que as autoridades temiam.”
Steve McQueen, que deu à sua antologia o nome “Small Axe” inspirado por uma canção homônima de Bob Marley que se transformou em uma expressão coloquial do Caribe (“se a árvore é grande, o machado é pequeno”), não apenas incluiu música dos anos 1970 na série como também criou uma pequena obra-prima praticamente sem diálogo: “Lovers Rock”, o segundo filme de “Small Axe”.
Inspirado nas aventuras de sua tia nos anos 1970, uma fã de reggae e ska que fugia de casa para as festinhas do bairro, McQueen leva o espectador para dentro de uma narrativa em música, do momento em que os DJs começam a montar sua aparelhagem até o êxtase coletivo de corpo e voz, na alta madrugada.
“É uma celebração dos sentidos”, diz McQueen, entusiasmado. “É sobre sensualidade. É sobre comunicação sem palavras. É sobre a vida, o essencial da vida, a energia da vida. Talvez por causa do coronavírus e do isolamento, nós perdemos as sensações do corpo, perdemos os prazeres da audição, da música, do cheiro, do gosto, do toque, do estar junto, da sensualidade, da sexualidade.”
“Não sabia de nada disso quando criei ‘Lovers Rock’, é claro, mas eu já sentia essa necessidade de trazer para hoje essa experiência de pura sensação, da música como um condutor desse êxtase. Essa comunidade, naquela época, trabalhava duro e vivia para o fim de semana. Em um mundo duro, racista, hostil, eles tinham um paraíso só deles, um espaço de celebração, de liberdade”, afirma.
A história do menino disléxico
Se existe uma questão que Steve McQueen não gosta de responder, é: “Por que você se chama Steve McQueen?”. A pergunta, em geral, é feita assiduamente, por um motivo que McQueen conhece bem, mas faz de conta que ignora: o Steve McQueen ator, louro, nascido em 1930 no estado de Indiana, dono de carreira fulminante nos anos 1950 e 1960, morto precocemente por um câncer agressivo, em 1980, em Cidade Juárez, no México, onde fora buscar a cirurgia que seus médicos da Califórnia diziam que seria fatal.
“Minha mãe nem sabia quem era Steve McQueen”, diz ele, depois de relutar um pouco, debatendo-se mais uma vez com a pergunta. “Ela adorava o nome Steve —era o nome de um personagem da série ‘A Caldeira do Diabo’. Então, quando eu nasci, ela me deu esse nome. E fim. É o fim dessa história.” (McQueen era o nome de sua família).
O começo, na verdade. Steve Rodney McQueen nasceu em Londres —“sou acima de tudo um londrino”— em 1969, filho de imigrantes das ilhas caribenhas Granada e Trinidad —ele gosta de enfatizar que Granada “é aquela ilha que os Estados Unidos invadiram em 1980”.
Um menino tímido lutando contra sua dislexia, McQueen se viu exatamente no papel de um de seus personagens favoritos de “Small Axe” —Kingsley, o garoto que, por ser negro e ter dificuldade de ler e escrever, é mandado para uma escola para deficientes que, na verdade, é um depósito de crianças.
“Esse sou eu. Era eu. Todo o ‘Small Axe’ é a minha história, a história da minha família, e todas as partes da minha vida que estavam faltando no meu trabalho. Há muito tempo, 11 anos atrás para ser exato, eu comecei a planejar o que viria a ser ‘Small Axe’. Tudo começou com a minha história de infância, algo que eu não conseguia encarar durante muito tempo. Eu precisava amadurecer.”
A dislexia e a completa falta de abordagem educativa levaram McQueen a descobrir as artes visuais como forma de expressão. “Foi uma evolução. Tudo começou com um giz de cera, depois um pincel, depois uma câmera. Fui descobrindo formas de me expressar, de me comunicar”, afirma.
“Para mim, não há diferença entre artes plásticas e cinema”, diz ele, depois de alguma hesitação. “É como um bordado ou poesia: você tem o mundo inteiro para servir como inspiração, as escolhas dependem de como você vê, como você se expressa.”
Em seus primeiros passos na carreira da narrativa visual —depois de estudos em várias instituições de elite, terminando com a Chelsea School of Art & Design e Goldsmith College, ambas em Londres— McQueen dedicou-se à pintura, com sucesso. Filmes de Truffaut e Godard mudaram sua perspectiva. “Comecei a pensar mais na câmera como eu pensava no giz de cera ou no pincel. Era possível ter outros modos de criar uma narrativa visual.”
Quando seu primeiro longa, “Fome” (2008) —um “tour de force” de Michael Fassbender, que McQueen chama de “um grande amigo, um parceiro, um colaborador”— ganhou a Caméra d’Or em Cannes, prêmio para obras de estreia, a passagem para o cinema estava completa.
“É difícil explicar por que as duas coisas —artes visuais e cinema— são a mesma coisa para mim. Meus instintos me dizem que são o mesmo material. Observar a vida é essencial para mim, mais que ver filmes. Eu não vejo filmes. Eu vejo momentos, coisas, gestos e imediatamente penso ‘ah!, como seria incrível registrar isso com uma câmera!’.”
Cinco anos depois lançaria “12 Anos de Escravidão”, vencedor de três Oscars —melhor filme, atriz coadjuvante (Lupita Nyong’o) e roteiro adaptado—, dando início a um ciclo de projetos focados nos temas da história e da cultura negras.
“Eu me senti à vontade como um europeu abordando o tema da escravidão na América. Não fui o primeiro, claro. Há muitos europeus trabalhando nos Estados Unidos, com temas dos Estados Unidos —filmes de gângsteres, faroestes. Eu queria falar de outras coisas. Queria falar sobre a verdade dentro desse meio, o cinema. Eu queria falar sobre algo que eu sei, que eu conheço, algo acima de nacionalismo, de nações.”
Na verdade, McQueen já estava planejando, escrevendo e desenvolvendo os cinco filmes que viriam a ser “Small Axe”. “Eu sabia que ia demorar, que era um processo longo. Era a primeira vez que eu focava em mim mesmo, na minha família, na minha jornada pessoal. As histórias que nunca haviam sido contadas. Meu processo foi colecionar histórias reais em torno da história da minha família: minha experiência como uma criança disléxica no sistema educacional britânico, a história do primeiro policial preto, que para mim era algo quase inconcebível, por que um homem preto iria querer ser um policial depois de ver como eles tratavam nossa comunidade?”
E ele completa: “[O episódio] ‘Alex Wheatle’ é inspirado na vida de um dos roteiristas da minha equipe, que cresceu dentro de uma comunidade negra durante o período dos protestos. E também a história da minha tia que não perdia uma festa caseira, ela saía às escondidas porque a minha avó trancava a porta, mas meu tio ia lá e deixava a porta aberta.”
McQueen se emociona claramente quando fala das raízes de “Small Axe”. “É algo profundamente pessoal”, diz ele. “Sempre foco nos fatos, nas pesquisas... pesquisei muito para elaborar esses filmes, porque eram histórias ocultas. Mas, no fundo, tudo é uma referência para a minha vida.”




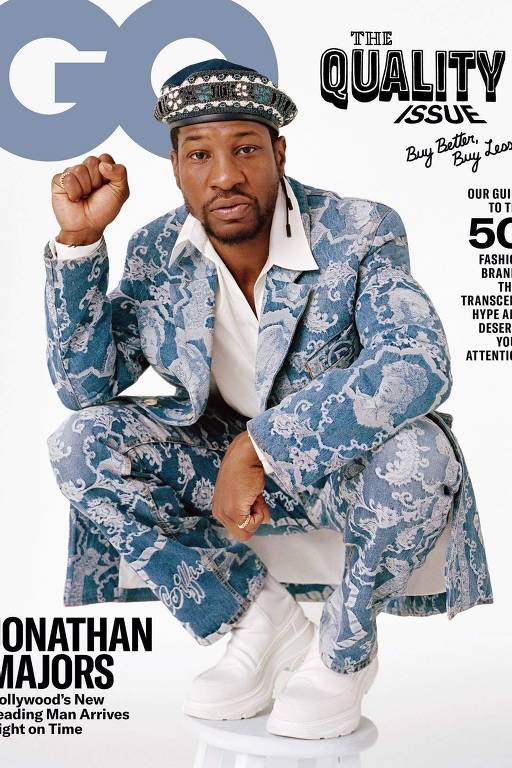









Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.