[RESUMO] Pacote que governo federal deve anunciar para incentivar produção de carros populares é mais um capítulo da longa lista de privilégios de que a indústria automobilística desfruta no Brasil, com impactos negativos para toda a sociedade. Explosão do setor nos governos Lula e Dilma, às custas de volumosas quantias de recursos públicos destinadas às montadoras, não gerou empregos qualificados, aumentou poluição e acidentes e deteriorou ainda mais a qualidade de vida nas cidades, prejudicando sobretudo os mais pobres.
O governo federal pretende anunciar um pacote de estímulos à indústria automobilística. Busca-se reduzir os preços dos veículos, que subiram bastante nos últimos anos. Por razões diversas, as fábricas brasileiras deixaram de produzir carros populares, focando-se em modelos mais caros. O governo agora quer usar dinheiro público para reverter essa decisão.
A medida, que deve ser anunciada na quinta-feira (25/5), vai na contramão do esforço do Ministério da Fazenda de rever desonerações e aumentar a arrecadação. Não é bom sinal: como dizer para o empresário que perderá um desconto tributário que outro setor ganhará um desconto no mesmo momento?
Difícil encontrar um segmento que tenha sido tão beneficiado no Brasil quanto o das montadoras. A implantação da indústria automotiva no país, durante o governo JK, deu-se por um arranjo em que uma série de incentivos era compensada por investimentos e garantia de nacionalização dos veículos —95% das peças deveriam ser fabricadas no país.
Durante a ditadura, o índice de nacionalização foi sendo flexibilizado. Com a abertura comercial dos anos 1990, ele despencou. O imposto para importação de peças foi praticamente a zero, e as montadoras passaram a se abastecer de fornecedores internacionais.
O processo levou à derrocada da indústria nacional de autopeças. A abertura comercial, contudo, não foi para todos: a taxa de importação de veículos ficou em 70%, beneficiando montadoras multinacionais instaladas no país.
A escolha por privilegiar as montadoras em detrimento das autopeças dificilmente se sustenta. Para se ter uma ideia, em 1990 os dois setores tiveram um faturamento similar no Brasil, cerca de US$ 13 bilhões de dólares cada um, mas as montadoras empregaram cerca de 117 mil pessoas, enquanto as autopeças criaram mais de 285 mil vagas.
Já o setor de revendas empregou quase 380 mil, e as oficinas de reparos, mais de 1,2 milhão de pessoas no mesmo ano. Ou seja, embora utilizem de sua força simbólica e concentração de capital para conquistar benefícios, as montadoras geram poucos empregos. Em 1990, respondiam por cerca de 6% deles.
Apesar disso, as montadoras seguiram privilegiadas. Ganharam vultosas desonerações por programas federais —como o Novo Regime Automotivo, de FHC— e pelas "guerras fiscais".
Multinacionais que já haviam decidido operar no país anunciavam a possibilidade de se instalar em dois ou três Estados, para barganhar vantagens. Além da redução, ou mesmo isenção, do ICMS, os governos estaduais começaram a oferecer terrenos públicos, obras de infraestrutura, crédito subsidiado, descontos em contas de água e luz.
Em muitos casos, as fábricas foram capazes de sobrepor benefícios e prolongá-los no tempo. Esse financiamento público da atividade privada já estava nas alturas quando começou o primeiro governo Lula, que apostou no crescimento do setor com mais desonerações. Vieram então a política de IPI zero e o boom na produção.
O licenciamento de novos veículos saltou de 1,5 milhão de unidades anuais em 2003 para 3,4 milhões em 2012. Esse foi um período de grande lucro para as montadoras, que em 2008 enviaram o maior volume de recursos a suas matrizes na série histórica: US$ 5,6 bilhões. Entre 2005 e 2013, essas remessas superaram em quase US$ 20 bilhões os investimentos realizados no país.
Como aponta o pesquisador Jonas Tomazi Bicev, a margem de lucro praticada no Brasil era, em geral, três vezes maior que a de outros países. Durante a crise iniciada em 2008, a lucratividade das filiais brasileiras compensou as perdas das matrizes do Norte Global.
A explosão das vendas e da lucratividade foi em parte sustentada pelos incentivos estatais. Somente as desonerações de IPI alcançaram R$ 10,5 bilhões entre 2009 e 2013.
Um levantamento calculou em R$ 69 bilhões os incentivos fiscais concedidos pela União às montadoras entre 2000 e 2021. Isso sem contar os benefícios estaduais e outras formas de estímulo, como as isenções fiscais para a gasolina e o álcool.
O boom não se refletiu em aumento relevante de empregos. Embora a produção nacional de veículos tenha crescido em quase quatro vezes entre 1990 e 2013, o emprego no setor de montadoras ficou relativamente estável no período.
A indústria de autopeças, ainda que tenha se recuperado de sua forte perda de empregos na década de 1990, não chegou a gerar aumento de ocupação significativo.
Tudo isso acabou por produzir um teto baixo para o modelo de ascensão dos governos petistas. A carência de empregos de maior produtividade jogou milhares de jovens com formação superior em trabalhos precarizados e mal remunerados no setor de serviços.
Como as montadoras são pouco intensivas em mão de obra, seu crescimento em quase nada contribuiu para a geração de empregos qualificados —assim como a mineração e o agronegócio, pilares da economia no período.
Os recursos públicos abocanhados pelas montadoras, se investidos em serviços de saúde, educação e mobilidade urbana, poderiam ter provido melhorias de vida para toda a população. Mas subsidiaram o boom automobilístico, que, além de não produzir aumento de empregos de alta produtividade e remuneração, gerou uma aguda deterioração da qualidade de vida nas cidades, prejudicando sobretudo os mais pobres.
O custo social do automóvel
O conceito de externalidade, em economia, diz respeito ao impacto, positivo ou negativo, sobre terceiros não diretamente envolvidos em uma atividade.
A referência bibliográfica mais completa sobre o tema, um estudo de Todd Litman, do Victoria Transport Institute, indica 17 externalidades negativas para o transporte, a maior parte gerada por carros e motocicletas. O compilado aponta que os custos sociais dos veículos individuais podem estar bem acima dos benefícios financeiros do setor.
Os poucos estudos feitos no Brasil chegam a conclusões parecidas. Analisando apenas poluição do ar, de ruído e acidentes, um relatório elaborado pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) estima em R$ 154 bilhões os custos sociais oriundos do transporte motorizado em 2016, 90% gerados por automóveis e motocicletas. No entanto, estes veículos responderam por apenas 29% das viagens feitas no país naquele ano, enquanto o transporte coletivo foi responsável por 28% delas.
Para se ter uma ideia, os impostos arrecadados junto às montadoras somaram R$ 19,2 bilhões em 2013 —ano de maior venda de automóveis da história do país. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), toda a cadeia da indústria automobilística teria gerado R$ 56,6 bilhões em tributos naquele ano —cerca de um terço de apenas três custos sociais do transporte.
Quando é aplicada a média aferida pelo compilado de Litman, vê-se que os três custos para os quais há estimativas no Brasil correspondem a cerca de 30% de custos externos gerados por automóveis e motocicletas.
Se os outros 14 custos não inseridos na estimativa nacional fossem computados, considerando a média internacional, as externalidades do transporte motorizado no país seriam de cerca de R$ 500 bilhões por ano.
Se a conta do carro não fecha no balanço dos impactos sociais, ela tampouco é sustentável na perspectiva dos gastos privados, especialmente na periferia do capitalismo.
Os custos de manutenção e financiamento de veículos podem facilmente chegar ao piso da renda familiar da classe C no Brasil. Não por acaso, a compra do carro foi identificada, em pesquisa de 2012, como "principal razão do alto endividamento da classe C". Para as dezenas de milhões de brasileiros que seguiram nas classes D e E, seria impossível arcar com esses valores.
Aqui há um paradoxo evidente. Os preços dos veículos teriam que ser muito mais baixos para que pudessem ser universalizados em países da periferia do capitalismo. No entanto, esses mesmos preços teriam que ser muito mais altos para "internalizar" ao menos parte dos impactos sociais gerados por essa indústria.
Por fim, outro ponto a ser ressaltado explicita a contradição da ênfase automobilística por parte de governos de esquerda. Os mais impactados pelas externalidades dos veículos particulares são os mais vulneráveis.
As mortes no trânsito no Brasil, que ceifam dezenas de milhares de vidas por ano, estão concentradas entre pedestres e motociclistas —ambos com participação majoritária na base da pirâmide. Quem mais respira o ar poluído são os que passam mais tempo no trânsito, se deslocam de ônibus ou a pé —mais uma vez, os mais pobres.
A massificação de automóveis congestiona as ruas das cidades e induz o espraiamento, prejudicando o transporte coletivo. Enquanto o país viveu o boom de carros de 2008 a 2013, o tempo de viagem nos ônibus urbanos foi às alturas.
Em muitas cidades, o tempo médio de deslocamento dobrou. O aumento dos itinerários e da lentidão pressiona o custo dos ônibus, fazendo crescer o preço das tarifas —que subiram muito acima da inflação no período. Na raiz das revoltas de 2013, esteve também o boom automobilístico.
Mais uma vez, os maiores prejudicados foram os mais pobres, milhões de pessoas sem carro que dependem dos ônibus. Mulheres negras de baixa renda formam o principal grupo de usuárias cativas do transporte público no Brasil.
A experiência anterior mostra que incentivar montadoras não é bom negócio. Consome dinheiro público, gera poucos empregos qualificados, degrada a condição de vida nas cidades e contribui para a crise climática.
A indústria de transporte do século 21 é a de ônibus, trens, bondes e bicicletas. Se o governo for gastar dinheiro público e capital político desonerando setores, que sejam aqueles que beneficiam de fato os mais pobres e criam perspectivas de vida sustentáveis no planeta.







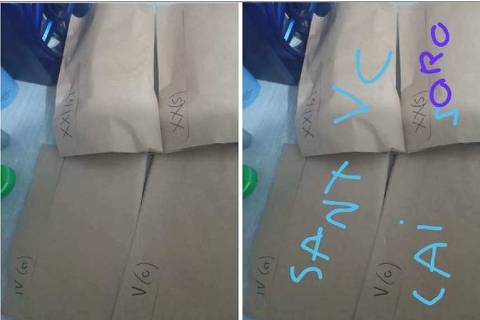

Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.