Chamado de suspeito, qualquer ser humano se sente melindrado. Não, porém, se for um magistrado. No direito, essa palavra têm um sentido técnico que nada tem de ofensivo. O instituto da suspeição serve para proteger o julgador de qualquer dúvida razoável sobre sua necessária isenção. Poupa ainda as partes de qualquer desconfiança. E evita danos à já tão combalida imagem da Justiça.
A imparcialidade “deve decorrer de circunstâncias objetivas, que indiquem isenção de ânimo, equidistância das partes, absoluto desinteresse pessoal na solução do litígio”, definiu uma decisão da Justiça paulista.
É óbvio, e está na lei, que o juiz não pode julgar um processo em que ele mesmo, ou parentes próximos, tenham interesse direto. Também fica impedido de julgar um caso em que tenha funcionado como advogado, promotor ou delegado. Quem atuou na investigação, na defesa ou na acusação já tomou posição. É difícil separar os papéis e mais ainda convencer as pessoas de que essa mudança possa apagar convicções anteriores.
A desejada isenção do juiz decorre do mais elementar bom senso e é garantida por tratados internacionais e pela nossa Constituição. É suspeito, determina a lei processual, o juiz que tenha amizade íntima ou inimizade capital com qualquer das partes, não bastando a mera cordialidade ou animosidade na convivência profissional.
Também é suspeito o juiz “se tiver aconselhado qualquer das partes”. Nessas condições, não oferece garantia de isenção psicológica, ainda que seja moralmente inatacável. Não é da honradez do juiz que se desconfia, mas de sua condição psicológica, observou Hélio Tornaghi.
Com base nesses pressupostos, consagrados e incontestáveis, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai ter que decidir questões decorrentes da Lava Jato, que acabou por despertar amores e ódios. Ao pôr a nu inúmeros mecanismos de corrupção e de abusiva ingerência do poder econômico na esfera política, a operação acabou tendo enorme apelo popular, além de inegável influência no processo político e eleitoral.
Na origem, um grupo de jovens juízes e procuradores levou a peito a tarefa transformadora, rompendo barreiras tradicionais. O exemplo veio confessadamente da Operação Mãos Limpas, na Itália, e do processo penal norte-americano.
Ocorre que, no afã de alcançar êxito, a tal força-tarefa, com amplo apoio e sustentação da autoridade judicante, usou maciçamente de mecanismos até então pouco usuais, como a condução coercitiva, as prisões provisórias e os acordos de delação e leniência. Tudo isso com a busca permanente de apoio da imprensa e da opinião pública, até com a divulgação, nem sempre ortodoxa, de interceptações telefônicas.
Com a recente revelação pelo site The Intercept, e agora o detalhamento pela Folha, ficamos sabendo de diálogos travados por canais não oficiais entre o então juiz Sergio Moro e procuradores da força-tarefa. A Justiça agora deve decidir se essas conversas se inserem na normalidade das relações institucionais ou se houve aconselhamento ou envolvimento além do que recomenda a prudência e exige a lei.
Não está em questão a pessoa do então juiz, hoje ministro da Justiça. Ao julgar o caso do tríplex, ele provavelmente estava convicto de estar agindo com imparcialidade. É certo que, em inúmeros casos, proferiu absolvições, contrariando a força-tarefa. Mas a questão não é tão simples.
O Código de Processo Penal fixa parâmetros para que o julgador, além de ser imparcial, possa parecer imparcial. A ficção da justiça com os olhos vedados tem esse sentido, fazer justiça sem olhar a quem. Mudando de patamar, imaginemos um árbitro de futebol que seja pego aos cochichos com o treinador de um dos times em disputa. A conversa pode até ser inocente, mas a reação da torcida seria arrasadora.
Resta esperar que o STF examine a questão com a possível imparcialidade, fugindo de pressões, preconceitos e opiniões prematuras. Mais do que uma condenação, está em jogo o futuro da Justiça no Brasil. E precisamos continuar acreditando nela.
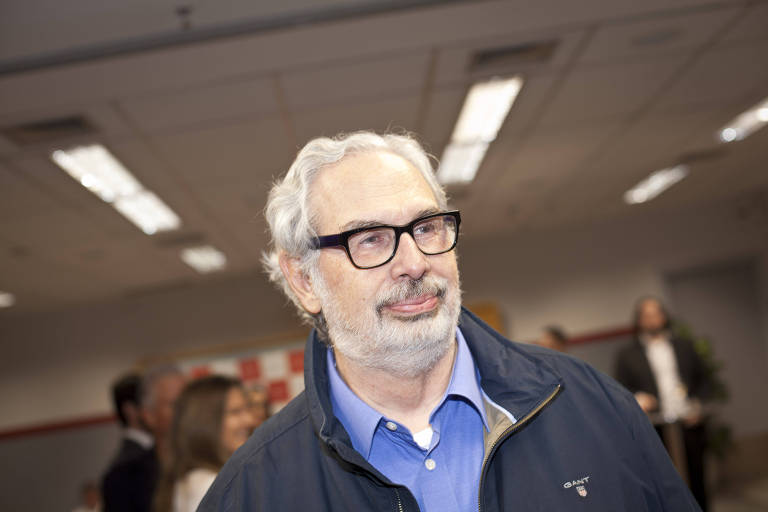




Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.