[RESUMO] Um dos principais críticos e pesquisadores de literatura infantil, Peter Hunt rejeita a visão dos mundos alternativos dessas narrativas como escapismo para crianças e explica de onde vem a ideia de que a fantasia não pertence ao universo dos adultos.
A pequena aldeia inglesa de Horsley abriga pouco mais de mil habitantes. As casas de pedra e jardins selvagens dão o tom interiorano da comunidade, que festeja o aniversário de seus moradores na igreja, única construção grande o suficiente para comportar os convidados.
Foi nesse minúsculo ponto no mapa que um dos mais ilustres críticos de literatura infantil e juvenil se refugiou. Autor de obras fundamentais para o estudo do gênero, Peter Hunt, 74, fundou o primeiro curso de literatura infantil e juvenil da Inglaterra. Laureado com prêmios como o International Brothers Grimm Award e o Distingued Scholarship Award, tem uma única obra traduzida no Brasil, “Crítica, Teoria e Literatura Infantil” (Cosac Naify).
Em entrevista, Hunt fala sobre um dos temas mais caros ao estudo do gênero: a era de ouro da literatura infantil (1850-1914), quando foi escrita a maior parte das obras fundamentais, além de comentar seu próximo livro, uma leitura de Alice e Peter Pan.
Em “Introduction to Children’s Literature” (introdução à literatura infantil, 1994) o senhor afirma que, na era de ouro, a literatura infantil estava crescendo e se tornando um “clássico vivo”. Por “clássico vivo” o sr. quer dizer que obra e autor eram reconhecidos de imediato? Quais são as forças que contribuem para que um livro se torne parte de um cânone? Hoje eu não usaria o termo “clássico vivo” —na verdade, a ideia de “clássico” e a de “cânone literário” devem ser tratadas com grande desconfiança.
Muitos “clássicos” podem estar vivos no sentido de que continuam disponíveis para compra e de que a maioria das pessoas de uma cultura ouviu falar deles, mas não estão “vivos” no sentido de serem lidos por muitas pessoas. “Alice no País das Maravilhas” e “O Vento nos Salgueiros” são exemplos.
As forças que tornam um livro clássico têm, na verdade, pouca relação com o que há em suas páginas. Existem clássicos de todos os tamanhos e formas, e com frequência eles têm pouco ou nada em comum. No Reino Unido e nos EUA, a ideia de um texto clássico —que de algum modo é “melhor” que outros textos— é a de um fenômeno editorial, produzido pelos editores para manter o livro à venda com o máximo de lucro.
No Reino Unido, na primeira década do século 20, J.M. Dent começou a série Children’s Illustrated Classics [clássicos infantis ilustrados] seguindo o princípio de que a palavra “clássico” tem uma qualidade misteriosa e de que as pessoas tendem a comprar livros de séries. Mas esses “clássicos” eram, na maioria, obras do século 19, cujos autores não precisariam receber direitos autorais. Nos EUA, a coleção Children’s Classics [clássicos infantis] foi publicada pela editora Macmillan em 1922, com a mesma motivação.
Hoje, “clássico” é um termo usado em demasia, aplicado a qualquer coisa, de Coca-Cola a qualquer livro que esteja no catálogo de uma editora e cuja reimpressão seja conveniente.
Quanto ao “cânone”, surge só quando necessário. Nos anos 1970, a literatura infantojuvenil se estabelecia como disciplina nas universidades (antes que teoria e “desconstrução” literárias demolissem a ideia de que um livro pudesse ser “melhor” que outro), e foi necessário, como tática política, estabelecer um cânone. E ele precisava ser aceitável pela comunidade crítica adulta — homens brancos que arbitravam o bom gosto.
Os livros dos quais esses adultos gostavam tinham, em sua maioria, protagonistas homens com nostalgia da inocência da infância ou eram de autores “respeitáveis” —em geral, homens: “Os Livros da Selva” (Rudyard Kipling), “O Vento nos Salgueiros” (Kenneth Grahame), “A Ilha do Tesouro” (Robert Louis Stevenson), “Tom Sawyer” (Mark Twain), “O Hobbit” (J.R.R. Tolkien) e “Peter Pan e Wendy” (J.M. Barrie).
O fato de mulheres terem presença importante na literatura para crianças complicava as coisas, mas não gerou grandes mudanças, não até a década de 1970.
Muitas obras usam, como estratégia narrativa, um lugar especial que os personagens infantis visitam como fuga do “mundo real”. A crítica da literatura infantojuvenil usa o termo “escapismo” para descrevê-la. Pesquisadores atribuem essa estratégia a uma nova visão da infância como lugar pertencente apenas às crianças. O sr. concorda com essa interpretação? É verdade que na era de ouro o conceito de infância estava mudando, e assim era atraente a ideia de mundos alternativos para crianças, nos quais estas podiam agir com independência: País das Maravilhas, Terra do Nunca, o Bosque dos Cem Acres, a Terra Média, a Margem do Rio. Contudo, a ideia de que os mundos alternativos oferecidos às crianças na ficção fossem uma forma de escapismo me parece errada.
O problema com escapismo é... escapar do quê? Para onde? Em geral, pensamos que escapismo é fugir de algo ruim para algo bom, ao passo que, quase sem exceção, os mundos para os quais os personagens fogem são estranhos, assustadores ou hostis.
Quem iria querer estar na Terra do Nunca, com índios selvagens e piratas assassinos, ou no País das Maravilhas, com uma rainha louca —ou mesmo no Bosque dos Cem Acres, com aquele Coelho desagradável? Na verdade, quase todos esses mundos são moralistas, criados com a intenção de inculcar princípios religiosos ou éticos nas crianças, frequentemente ameaçando-as com castigos.
“Escapismo” costuma ter conotação pejorativa: pessoas que fogem para mundos fantásticos não conseguem lidar com o “real”. Nos livros infantis, em geral são os escritores e leitores adultos que tentam fugir.
O sr. acredita que a leitura crítica das obras de autores como Lewis Carroll, J.M. Barrie e A.A. Milne, especialmente “Alice no País das Maravilhas”, “Peter Pan e Wendy” e “O Ursinho Pooh”, pode ser imune a suas informações biográficas? A questão é: deve a crítica ser imune a esse tipo de informação? Um cínico pode dizer que a única razão para críticos usarem informações biográficas é não terem mais nada a dizer! E eu concordo que é perigoso empregar informações biográficas na leitura de textos literários.
Mesmo que esses autores declarem ter escrito para crianças específicas, não significa que tenham tomado o cuidado de levar em conta as necessidades delas. Carroll, embora tivesse uma ligação com Alice Liddell —ele deu à menina uma versão manuscrita do livro—, escreveu para as muitas garotinhas que conhecia.
A narrativa da infância interminável feita por Barrie estava mais relacionada ao passado dele que a seus relacionamentos com crianças reais. Milne era alheio à agonia que causava no filho ao retratá-lo como Christopher Robin.
Parece que os críticos supõem que o leitor está mais interessado em saber se Carroll ou Barrie eram pedófilos —ao menos Milne não é acusado disso, apenas de negligenciar o filho— do que no conteúdo dos livros.
Mas quer usemos informações biográficas “externas” aos livros ou evidências “internas”, é útil refletirmos se e por que deveríamos utilizá-las. Isso depende de vermos um texto como existindo por conta própria ou existindo em um contexto —como lido por pesquisadores e críticos... e adultos. Resumindo, depende de estarmos lendo o livro ou o escritor.
Há muitos argumentos dos dois lados, mas a leitura holística de um texto, que envolve tudo que se possa saber dele, fornece um tipo diferente de prazer de uma leitura descontextualizada. Qual delas é mais apreciada depende de cada um, embora eu acredite que os melhores leitores consigam ler das duas formas mais ou menos simultaneamente.
O sr. afirma que “O Vento nos Salgueiros” não foi escrito para crianças. O crítico Jack Zipes afirma que “Peter Pan e Wendy” também não. Ainda assim, são duas obras obrigatórias em qualquer coleção de livros infantis. Por que nunca foram consideradas “literatura adulta”? A inspiração, ou gatilho, original para esses dois livros pode ter sido o desejo de divertir uma criança, mas nos dois casos (assim como em outros), as preocupações que os autores levaram para sua escrita sobrepuseram-se à intenção original. É uma suposição comum de que os livros para crianças devem ser simples, como se escritos para seres simples —ou mais simples que os livros para adultos.
Na verdade, são obras escritas por adultos que não conseguem evitar seus próprios sentimentos e opiniões. Podem tentar disfarçar, mas o fato de estarem escrevendo para um público menos experiente pode encorajá-los a “dizer” mais do que se escrevessem para iguais.
C.S. Lewis disse que às vezes um livro para crianças é o meio certo para o que você quer dizer. Lewis Carroll descobriu que podia esconder —ou confessar— nos livros seus sentimentos pelas pessoas que amava, como em “Alice Através do Espelho”.
Pode-se debater se “O Vento nos Salgueiros” é uma sátira delicada da homossexualidade e, talvez, uma declaração disfarçada de Grahame sobre sua sexualidade. “Peter Pan e Wendy”, do mesmo modo, é uma meditação a respeito da morte e nunca foi considerado “literatura adulta” até muito recentemente, porque derivava das peças de muito sucesso de Peter Pan, que foram feitas para crianças. Agora que sua complexidade foi reconhecida, provavelmente é muito mais lido por adultos do que por crianças.
Existe, contudo, uma razão mais simples para que esses livros sejam encontrados nas seções infantis: são obras de fantasia, e só nas décadas de 1970 e 1980 a fantasia se tornou material respeitável de leitura para adultos. Livros como “O Senhor dos Anéis”, baseado no infantil “O Hobbit”, abriram o caminho, mas, com notáveis exceções, fantasia era para crianças.
Seu próximo livro é uma coautoria com Laura Tosi: “The Fabulous Journeys of Alice and Pinocchio” [as fabulosas jornadas de Alice e Pinóquio]. Ele é resultado de uma série de palestras que demos quando eu era professor visitante na Universidade Ca’ Foscari, em Veneza. Um dos mistérios é como livros tão diferentes como “Alice no País das Maravilhas” e “Pinóquio”, de autores tão diferentes, tornaram-se populares em todo o mundo.
Isso nos conduziu a diversas direções. Uma delas é a extensão da representação das culturas por meio de livros, e o quanto elas aceitam caricaturas.
Assim, pode-se dizer que a personagem de Alice é essencialmente inglesa, porque equilibrada e educada, mas ao mesmo tempo implacável e arrogante. Da mesma forma, os italianos estão dispostos a aceitar Pinóquio como a imagem de si mesmos —vibrantes e corajosos, mas também impetuosos, desonestos e não confiáveis.
Isabel Lopes Coelho é doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP e gerente de literatura na FTD Educação; esta entrevista foi feita originalmente para a tese “A representação da infância na literatura infantojuvenil europeia a partir da segunda metade do século 19”, defendida pela autora em novembro de 2018.

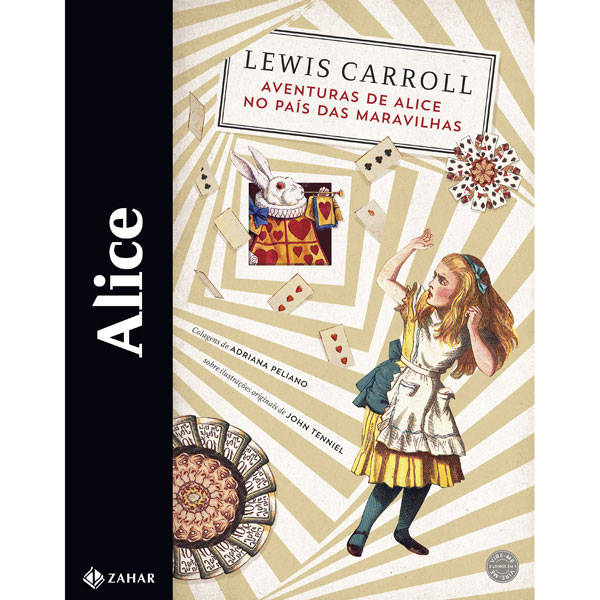







Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.