[resumo] Recentes nomeações para as Supremas Cortes no Brasil e nos EUA reacenderam o debate acerca dos vícios de um modelo em que as indicações cabem unicamente ao presidente da República, em que pese a apreciação do Senado. Professor da USP avalia que esse sistema pode levar a relações de pouca transparência, excessiva dependência do Judiciário em relação ao Executivo e fragilidade democrática. Mais adequado, diz, seria buscar alternativa em que a seleção dos futuros membros da corte fosse compartilhada entre instituições e Poderes.
No Império brasileiro, o poder judicial subordinava-se aos desígnios do imperador, o que arruinava totalmente a proclamada independência, anunciada, mesmo assim, na Constituição de 25 de março de 1824.
Serve-nos a lucidez de Affonso Celso, que, a esse propósito, advertia para a “existência de um poder pessoal, elevado, acima dos demais poderes, estranho a vicissitudes, regulador do jogo das instituições, a um tempo espectador, chefe, juiz e executor”.
Superamos esse momento? Quanto ao STF, não deixa de ser curioso que tenha sido o general Manoel Deodoro da Fonseca, como chefe do governo provisório da Primeira República, que, em 1890, deu fim a essa subordinação, criando um tribunal independente. Formalmente, portanto, o tema da independência está assegurado há muito.
Discutiremos, aqui, a “presidencialização” do STF como característica que pode conduzir a relações de dependência não declarada e, mais do que isso, de reduzida democraticidade. Essa discussão também nasce com as Cortes Supremas e se renova nos dias atuais.
Nas últimas semanas, o Brasil e os EUA passaram por mais um processo de nomeação para suas Cortes Supremas, com obediência rigorosa às “regras do jogo”. Nos dois países, o nome indicado é uma escolha unilateral do presidente da República, com uma passagem de ratificação pelo Senado.
O modelo de indicações, porém, é anacrônico, criado para uma sociedade que nunca tinha experimentado o presidencialismo, que não sabia como funcionariam os poderes do governo da União, que enfrentava o grande desafio de manter a unidade territorial, com raros centros de produção do conhecimento e capacitação de nomes e com um ínfimo universo de iniciados nas letras jurídicas. O acerto desse modelo seria discutível mesmo em 1787, quando foi adotado pela primeira vez nos EUA.
A crítica, ampla e antiga, parece-me extremamente oportuna no Brasil, país com forte tendência à concentração de poderes, cultura de culto às relações pessoais e fanatismo pela preponderância dos interesses privados mesmo na esfera pública, para não falar da corrupção estrutural.
Portanto, não estamos, aqui, enfrentando “novas” forças retrógradas, como propõe a leitura de Tom Gerald Daly no livro “The Alchemists” (os alquimistas), para quem tribunais estariam hoje em guerra com essas forças, a um passo da derrota iminente, o que expressaria um momento de decadência democrática que estaria em voga desde o início dos anos 2000.
O modelo de indicação de ministros para as Supremas Cortes foi criado e é, ainda hoje, praticado pelos EUA, país que, para muitos, é o melhor e mais seguro exemplo de democracia. Justamente por isso, para certos analistas, a discussão proposta aqui deixaria de ter sentido.
A verdade, porém, é que se trata de mais um déficit democrático do sistema político norte-americano, ao lado de tantos outros, como a eleição indireta para presidente da República, com peso relativo para os votos individuais, ou o desrespeito reiterado com outras democracias soberanas, seja pelo monitoramento de governos, como o nosso, seja pelas ameaças visando proteger interesses econômicos dos EUA.
Aliás, no país, a presidencialização do modelo é levada aos seus limites, já que o presidente da República tem também o poder de indicar o presidente da corte —poder esse que, no Brasil, só coube ao imperador.
Mesmo a substituição, pelo voto popular, dos presidentes-indicadores é insuficiente para alterar esse exemplo de déficit democrático no Brasil, pois está desvinculada de um mandato para os ministros. Isso submete todo o sistema a trocas de ministros em momentos aleatórios, conforme alcancem as idades máximas de permanência no tribunal.
Já houve presidente que nunca nomeou nenhum ministro, e já houve o caso de Getúlio Vargas, que chegou a indicar 21 em suas diversas passagens pelo poder. Na recente democracia brasileira, o PT indicou 13 ministros para o STF, 7 dos quais ainda permanecem lá. É um fruto do acaso permitido pelo modelo em vigor, que certamente poderia ter gerado uma politização da corte.
Apesar de toda a gritaria, especialmente em redes sociais, isso, evidentemente, não ocorreu. Aliás, mesmo antes, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a indicação de Gilmar Mendes gerou a mesma sorte de ataques radicais, com teorias conspiratórias e, inclusive, o surpreendente questionamento sobre o conhecimento jurídico do indicado.
O mesmo se repetiu até a indicação, em 2017, do ministro Alexandre de Moraes, também um constitucionalista amplamente reconhecido. Alguns descontentes, no calor das discussões, agem com excessos que em nada contribuem para a melhoria do modelo, formatando um infindável debate exclusivamente ideológico e opinativo.
Não precisamos prosseguir nessas análises personalistas e individualizadas para proceder ao estudo desse importante tema, embora os dados reais possam ser, é claro, de grande utilidade em muitos momentos, como ilustração e confirmação de certas ressalvas e riscos.
Aliás, sobre este ponto —da realidade passada e presente— há analistas que consideram esses elementos suficientes para encerrar qualquer discussão, justamente por avaliarem que as nomeações têm propiciado um STF ativo, tecnicamente qualificado e, inclusive, plural, o que realmente não pode ser negado.
Isso, porém, não bloqueia o debate, pois o desafio está em construir um modelo que ofereça exatamente esse perfil da corte como um resultado final inevitável, não como um acaso.
Assim, independentemente de qualquer discussão sobre o acerto das muitas escolhas ocorridas nos últimos anos, é preciso falar do modelo em si dessas escolhas. Podemos chamá-lo de “presidencialização” dos nomes para o STF.
Em outros países tem-se uma “parlamentarização”, como em Portugal e na Espanha, pela preponderância das escolhas caber ao Parlamento, o que poderia levar à falsa conclusão de um jogo de forças com espectros ideológicos bem variados. Na prática, porém, privilegia as maiorias parlamentares ou os partidos majoritários, sendo por isso fortemente criticado.
Esses dois modelos contrastam com o que acontece em inúmeras outras democracias avançadas, nas quais há um maior compartilhamento da responsabilidade pela indicação, difundida entre muitos atores, instituições e Poderes de Estado.
Em síntese, falar do modelo em si é discutir sua transparência, sua amplitude democrática e sua capacidade para gerar, em qualquer momento, uma corte diversificada, para além de meritória, por meio de mecanismos e critérios republicanos, abertos e em processo sujeito ao escrutínio público.
Um dos pontos centrais de rejeição ao modelo atual está na máxima delegação de responsabilidade a uma única pessoa, o chefe do Executivo, para compor a cúpula de um outro Poder, com uma tradicional subserviência do Senado a essa escolha.
Trata-se de um modelo pouco inteligente, para dizer o mínimo, porque propicia o enorme risco de cooptação irresistível do responsável pelas indicações. Lança o ocupante da cadeira presidencial a pressões e anomalias de toda sorte, advindas especialmente dos sistemas político e econômico que nos servem diariamente suas perversidades.
Não quero insinuar, aqui, que isso tenha ocorrido em alguma indicação passada. Nesta análise, o que pretendo é identificar o risco estratégico de nosso modelo, a fim de alcançarmos um mecanismo adequado para nossa realidade, para nossos objetivos específicos e para as novas (e muitas) funcionalidades do STF nos sistemas social, econômico e político brasileiro. Também não pretendo impor qualquer alternativa pronta e acabada, pretensamente superior a qualquer outra, mas parâmetros que sirvam a uma melhor construção coletiva.
Aliás, o modelo de 1787 é de tal precariedade que nem sequer provê mecanismos para amenizar o seu risco implícito de cooptação, o que poderia ocorrer se tivéssemos a exigência da formação de uma lista prévia de nomes por outras instâncias legítimas, como os demais Poderes, o próprio STF e até mesmo as universidades.
A infantilidade do modelo é de tal monta que ele é autofágico, apresentando risco de fraude de seus próprios pressupostos internos, como demonstra a nomeação recém-ocorrida de Amy Coney Barrett para a Suprema Corte dos EUA, às vésperas de uma eleição presidencial.
Ao final do governo de Barack Obama, a maioria republicana no Senado defendeu que, no último ano de mandato do presidente do país, não deveria haver preenchimento da vaga aberta na Suprema Corte, decisão que prevaleceu e permitiu a Trump uma nomeação tão logo assumiu a cadeira presidencial. No mês passado, contudo, essa mesma maioria no Senado autorizou a pronta nomeação de mais um nome indicado pelo republicano Trump, mesmo nos últimos meses de seu mandato.
Como possível defesa das regras atuais, seria possível argumentar que, no sistema democrático, os partidos políticos, entes intermediários, desempenhariam um papel institucional na escolha dos nomes, de modo que o presidente não estaria totalmente livre e tampouco concentraria excessivamente poderes de indicação.
Isso, contudo, não é verdadeiro, sobretudo em casos como o brasileiro. Nosso modelo é, desde sempre, de partidos políticos fracos em suas ideologias, dominados pelo pensamento imediatista e comandados por caciques políticos, a chamada velha política. Do outro lado, há um presidencialismo extremamente forte, com uma vontade pessoal que se sobrepõe facilmente à suposta ideologia partidária.
Aliás, passamos agora por um cenário extremo, de um presidente desvinculado de um partido político. Tudo, porém, está milimetricamente dentro dos limites permitidos pelas regras do jogo.
Não é só. Há, ainda, como outro ponto central a ser enfrentado, a falha conjuntural, que significa ignorar o papel hoje desempenhado pelo STF. O modelo de nomeação, quando criado, contemplava uma corte tímida, com poucos poderes expressos e nenhuma notoriedade social (seja para o apoio, seja para a repulsa).
No século 21, as cortes constitucionais, como o STF, detêm vastíssimos poderes, como destruição das leis, determinação de políticas econômicas e fiscais e políticas públicas em geral. Tais atribuições eram inimagináveis nos séculos 18 e 19.
Em pesquisa que elaborei a respeito do papel da Justiça constitucional no Brasil e sua transformação no século 21, publicada na Itália em 2010, chamei a atenção para a circunstância de que o STF se tornou o foro de decisão para as grandes questões contemporâneas.
Inúmeras decisões do STF posteriores a essa minha pesquisa confirmariam a tese. Dentre elas, destaco, para mera ilustração, os grandes julgamentos eleitorais, incluindo o mais recente, sobre o incentivo financeiro às candidaturas de pessoas negras.
Com isso e as novas tecnologias de comunicação (especialmente as redes sociais), o STF também passou a ter de se aparelhar para novos enfrentamentos.
Ao atuar em um espaço de disputas até então considerado próprio dos poderes políticos, a corte ensejou uma nova percepção social e institucional sobre si própria. Os atores políticos tradicionais, como sempre muito sensíveis e ciosos de seus espaços, têm tramitado vários projetos de alteração do modelo, invariavelmente por meio da redução de poderes do STF.
Estudos de Harry Stumpf colocaram no centro das discussões o que realmente sucede, ou pode suceder, após as supostas decisões “finais” da Corte Suprema, ou seja, em um período cronológico geralmente ignorado pelas análises jurídicas que tomam um assunto decidido como totalmente encerrado. Stumpf demonstra como o processo (político) continua para além dessas decisões judiciais “finais”.
O autor fala expressamente em respostas parlamentares “anti-corte” para identificar com maior precisão esse fenômeno. São geralmente movimentos ocorridos nos bastidores, não visíveis, e, muitas vezes, deliberadamente ocultos, de maneira a confundir a própria opinião pública e a sociedade. A isso pode somar-se o próprio Executivo, quando confrontado por uma corte divergente de sua linha de ação, sobretudo quando não há juízes indicados ou a indicar em seu mandato.
Esse problema poderá se agigantar, na linha do que sustenta Gretchen Helmke, quanto maior for o grau de apoio popular do governo e menor sua base parlamentar. Hoje, ainda temos de acrescentar o ataque das redes sociais nessa equação.
Presidente do STF no início dos anos 1970, Aliomar Baleeiro já havia percebido a relação entre resguardo popular da corte e incremento de seu prestígio. A atual notoriedade foi sendo construída exatamente ao custo desse prestígio, que foi se dissipando. Com isso, o processo de indicação de seus membros precisa de um modelo que o faça ganhar em legitimidade.
Não se trata de alcançar um consenso em torno dos nomes, mas sim em torno do modelo. As diversas tentativas do Congresso de alterar o processo de escolha e as críticas exacerbadas aos nomes indicados pelos últimos presidentes demonstram que ainda não alcançamos esse consenso, o que pode dificultar a posterior aceitação, especialmente por parte de outros Poderes, de certas decisões da corte.
Há, todavia, um aspecto a ser avaliado que poderia desconstruir tudo o que foi exposto até aqui. A Constituição de 1988 pode ser chamada de totalizante, já que pretendeu abarcar todos os diversos setores sociais. E, ao mesmo tempo, é preciso haver governabilidade e adaptação. Será o mecanismo de indicação presidencial pensado para fazer frente a esse contexto?
Quer dizer, será que podemos ver uma manutenção consciente desse modelo de 1787 para contarmos com um instrumento a serviço da governabilidade e da mudança da Constituição, conforme os desígnios dos novos governos eleitos?
A resposta é negativa. Para que isso fosse minimamente verossímil, seria necessário haver pelo menos mandato para os integrantes da corte, parte dele coincidindo com as eleições presidenciais (4 ou 8 anos), de modo que os presidentes eleitos pudessem recompor quase inteiramente o Supremo.
Mais que isso, seria necessário transformar o STF em instância política, de fato e de direito, e não apenas retoricamente falando. Aí, sim, um retrocesso abissal se formaria em todo o encadeamento jurisdicional que o STF tem com o Poder Judiciário, além de impor a subalternização da corte.
Voltaríamos ao modelo de juízes das realezas medievais. Em realidade, deixaríamos de ter Constituição tal como a concebemos hoje.
Apesar de tudo, é cômodo manter um sistema já conhecido de todos, e muitos preferirão mesmo contar com um mecanismo que consideram manipulável, especialmente em momentos de grande crise ou desespero. Tudo indica que continuaremos sendo negacionistas sobre a precariedade e os riscos do modelo atual.
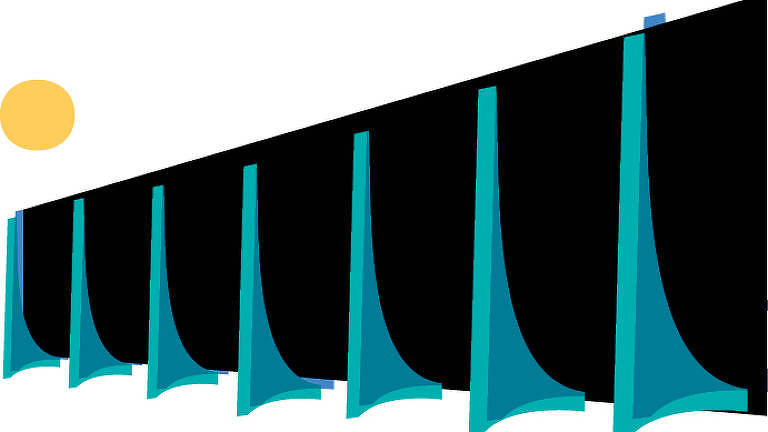




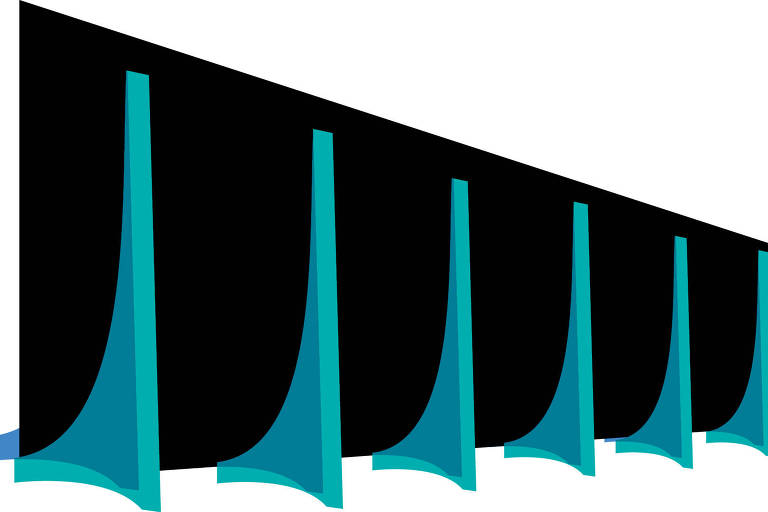






Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.