[RESUMO] Após lidar com inúmeras tentativas de sua mãe de se matar, doenças e mortes trágicas na família, a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu venceu seus traumas e tornou-se uma das principais referências da prevenção ao suicídio no país. Neste Setembro Amarelo, mês dedicado ao debate do tema, participou de em média três eventos por dia para ajudar pessoas que tentam se suicidar e seus familiares.
“Ah, dona Yooko, de novo por aqui?! Vamos ver se, da próxima vez, a senhora faz as coisas de um jeito eficaz para morrer e a gente não perder tempo, hein!”
Karina Okajima Fukumitsu tinha 10 anos quando ouviu um enfermeiro falar assim com sua mãe, que havia tentado se matar. Não era a primeira vez que ela e a irmã, Cristina, dois anos mais velha, tinham de lidar com a tentativa de suicídio da mãe e com o tratamento desumano em hospitais. E não seria a última.
Naquele momento, contudo, prometeu a si própria: um dia ajudaria pessoas que tentam se matar e seus familiares. Hoje, aos 50, é uma das maiores referências no Brasil em suicidologia, termo que ela trabalhou para cunhar no país, rompendo tabus inclusive na área da saúde mental.
Foi nos Estados Unidos, quando estudou luto no mestrado, entre 2000 e 2001, que Karina teve contato com a “suicidology”, campo que estuda processos de suicídio. Além da prevenção, trata da posvenção. Tradução brasileira para “postvention”, a palavra é nova e se refere ao acolhimento a pessoas próximas a alguém que se mata.
O conceito foi elaborado pelo psicólogo norte-americano Edwin S. Shneidman (1918-2009), que começou a estudar o suicídio no fim dos anos 1940, quando atendeu veteranos de guerra, e fundou a Associação Americana de Suicidologia em 1968.
Como Shneidman, Karina se apresenta como suicidologista. É psicóloga e fez doutorado e pós-doutorado na USP com pesquisas sobre luto e suicídio. Publicou sete livros sobre esses temas, implementou e coordena grupos de estudos e cursos de pós-graduação sobre morte e suicidologia na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e na Universidade Cruzeiro do Sul. Apresenta o podcast “Se Tem Vida Tem Jeito” e atende empresas, escolas e famílias que passam pelo luto, normalmente ligado ao suicídio.
Desde o início da pandemia, período em que a morte, o luto e a saúde mental não saem das manchetes, Karina não para. Às terças e quartas-feiras, atende em seu consultório, em Pinheiros (zona oeste de São Paulo), das 8h às 22h, ininterruptamente, os seus pacientes, muitos dos quais já pensaram em suicídio, tentaram se matar ou perderam pessoas queridas dessa forma.
Os outros dias da semana são para palestras, rodas de conversa, consultorias e para grupos de estudo e de acolhimento a enlutados. Aos sábados e domingos, dedica-se às atividades dos cursos de pós-graduação.
Neste Setembro Amarelo, da campanha de prevenção ao suicídio, tem participado de uma média de três eventos por dia e concedido entrevistas a rádios, jornais, TVs, blogs, podcasts e documentários. Dá risada ao contar que, muitas vezes, é identificada em reportagens e eventos como “especialista em suicídio”.
Sempre bem-humorada, comenta que “esse é um tema que passa inevitavelmente pelo bizarro”, como quando alguém chega a uma sala de aula perguntando “É aqui o curso de suicídio da Karina?”. “Prevenção ao suicídio, pelo amor de Deus!”, responde.
Ela se tornou “especialista em prevenção ao suicídio” a partir de sua experiência pessoal dramática. Entre os 10 e os 12 anos, perdeu a conta das vezes em que, ao lado da irmã, teve de socorrer a mãe. Só havia as duas em casa para isso desde a separação dos pais. Ela tem dúvidas entre 13 e 15 tentativas de suicídio, mas acha que “foi muito mais que isso”.
Yooko Okajima, filha de imigrantes japoneses nascida em Dracena, interior de São Paulo, mudou-se para a capital na adolescência e se tornou professora de música.
Seu processo de “morrência” —como Karina define os comportamentos autodestrutivos que podem culminar no suicídio—, começou quando o irmão caçula, com pouco mais de 20 anos, morreu no famoso incêndio do edifício Joelma, que retirou a vida de 187 pessoas, muitas das quais despencaram em chamas dos andares mais altos.
Era 1974, Karina tinha pouco menos de três anos e esse foi o início de uma série de tragédias familiares. Sua mãe entrou em depressão, passou a fazer uso descontrolado de álcool e a não sair do quarto escuro, até que o casamento terminou.
Karina sorri, mas fica com os olhos marejados ao contar que ela e a irmã, para socorrer a mãe, desenvolveram um “método MacGyver”, em referência ao protagonista do seriado “Profissão Perigo”, dos anos 1980, que usava objetos simples, como canivete suíço e fósforos, para, de forma mirabolante, desativar bombas e enfrentar bandidos.
Quando as crianças percebiam que o quarto da mãe estava trancado, e ela não respondia aos chamados, passavam um pedaço de papel por baixo da porta e, com uma faca, empurravam a chave até cair sobre a folha, para ser puxada para o outro lado e abrir a fechadura.
Deparavam-se com cenas desesperadoras das diferentes formas como dona Yooko tentava se matar. Karina as relata em alguns de seus livros, mas é algo que evita comentar publicamente, seguindo, inclusive, orientação da Organização Mundial da Saúde para que não se divulguem métodos.
Ela e a irmã chamavam uma ambulância e seguiam com a mãe para o hospital sem saber se ela iria sobreviver e com a certeza do julgamento que enfrentariam. Eram inúmeras as frases cruéis além da clássica “A senhora de novo por aqui?!”, entre elas uma que Karina lembra com lágrimas nos olhos: “Já que insiste em tentar o suicídio, vou usar uma agulha bem grossa para ver se a senhora sente dor o suficiente para valorizar a vida”.
Karina, com 12 anos, decidiu imitar a mãe em um de seus métodos mais frequentes de tentativa de suicídio. Os papéis se inverteram, a menina foi socorrida por dona Yooko, e, assim que estava fora de perigo, apanhou.
Pior do que isso, para Karina, foi que, no jantar, nada foi dito, e ela percebeu que o silêncio não é um bom caminho. Ele só foi rompido porque a menina, boa aluna, ficou de recuperação em matemática, e a professora, uma freira, lhe perguntou se estava com problemas.
Karina lhe contou e recebeu dela uma carta, que tem até hoje, com uma sugestão: “Quando estiver triste, coloque os problemas nas mãos, feche-as e diga: ‘Vocês não vão me vencer’”. Funcionou, diz, antes de mais nada porque pela primeira vez se sentiu olhada.
A psicóloga não costuma mencionar sua tentativa de suicídio, além das outras duas vezes em que pensou em se matar. Certa vez falou disso em uma entrevista e passou a receber mensagens agressivas nas redes sociais, como a seguinte: “Se você tentou se matar e não conseguiu, não serve para ser suicidologista”.
Tem hoje clareza de que precisa se distanciar de pessoas e situações tóxicas, como as agressões anônimas da internet. Na introdução de seu livro autobiográfico, “A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer”, faz um pedido ao leitor: só quer comentários generosos. Todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, diz. “Apenas quero ser poupada de palpites e comentários destrutivos a meu respeito.” Estenda-se o apelo aos leitores deste texto.
Esse é o livro em que mais fala de suas perdas, ainda que nos outros passe também por elas, todas profundamente imbricadas à sua carreira. Quando decidiu fazer psicologia, conta, “não queria compreender as almas super-resolvidas”. “Eu não era super-resolvida, minha mãe não era, minha família não era. Queria compreender almas desorganizadas e desajustadas como as nossas.”
As almas se desajustaram ainda mais quando o filho de sua irmã, de 3 anos, morreu afogado na chácara da família, em um feriado de Ano Novo. Dona Yooko retomou as tentativas de suicídio, e Karina questionou a justiça divina.
Leu um dos livros que mais a ajudaram, “Quando Coisas Ruins Acontecem Às Pessoas Boas”, escrito pelo rabino norte-americano Harold S. Kushner quando ele soube que o filho de 3 anos tinha uma doença raríssima, a progéria, de envelhecimento precoce, em que as crianças ficam como pessoas velhas, inclusive carecas e enrugadas, e sobrevivem só até o início da adolescência.
Teólogo, o autor questionou a onipotência de Deus. Defendeu que, para que se continue a crer em Deus diante de uma dor avassaladora, é preciso aceitar que há uma aleatoriedade que Ele não controla, mas é Quem dá forças para que as pessoas se reergam.
Esse seria, anos mais tarde, um dos alicerces da abordagem de Karina para o luto e o suicídio, que ela também respalda no existencialismo de Sartre, com a ideia de que a condição humana caracteriza-se pela liberdade de escolha de não sermos aquilo que é feito de nós, mas o que escolhemos fazer daquilo que é feito de nós.
Na faculdade de psicologia, no entanto, Karina tentou fugir do tema do luto. Ela e sua melhor amiga começaram a participar de pesquisas de comportamento com ratos albinos. Justamente essa amiga, a pessoa que mais a ajudava a enfrentar a perda do sobrinho, morreu em um acidente de carro, a caminho da faculdade. Não havia mais como fugir da necessidade de entrar em contato com a dor e tentar compreender o luto.
Eram os anos 1990, pouco se falava do assunto no Brasil, e os cursos estavam mais restritos à psicologia hospitalar. Karina participou de alguns, mas, quando se formou, desviou-se novamente dessa área e foi trabalhar com treinamento em empresas.
Estava namorando o engenheiro Eduardo José da Silveira Lobo, que recebeu uma proposta para trabalhar em Michigan por três anos. Casaram-se e se mudaram para os Estados Unidos. Foram tentar esquiar, e Karina rompeu o ligamento do joelho. Ficou seis meses sem andar, boa parte deles sem sair da cama.
Olhando para o teto, em uma terra desconhecida, teve que encarar o quanto a morte e o suicídio a assombravam. Direcionou seu mestrado na Michigan School of Psychology para a tanatologia, o estudo da morte e do luto, o que deu origem à dissertação “Lições das Nossas Perdas: A Experiência de Lidar com as Perdas que Nós não Escolhemos”.
“Entendi que precisava me fortalecer na minha própria história, e não fora dela, e que, no processo de curar feridas, faria das vulnerabilidades a minha maior fortaleza”, conta Karina, por Zoom, de sua chácara, a mesma em que o sobrinho morreu, e onde aproveitava, na ocasião da entrevista, o feriado de Sete de Setembro com o marido, os filhos Enzo, 15, e Isabella, 14, e a irmã, que também tem dois filhos. “Não adianta fugir da nossa dor.”
Após estudar tanatologia e suicidologia nos EUA, decidiu levar os temas a cursos de psicologia no Brasil, e começou pelo Mackenzie. “Nunca tive uma aula que ensinasse o que fazer quando um paciente diz que quer se matar.”
Adaptou procedimentos norte-americanos, como o contrato antissuicida, que é assinado pelo paciente, permitindo ao terapeuta, quando observar um risco, procurar pessoas de uma lista de apoio. Karina não assina o papel, mas mapeia a rede de proteção e deixa claro que o sigilo será quebrado se necessário. “Falo para o paciente: ‘Meu pacto com você é em vida’.”
Mergulhada no estudo do luto e do suicídio, ainda os enfrentaria novamente na vida pessoal. Estava grávida pela primeira vez quando a mãe lhe telefonou dizendo, novamente, que queria se matar. Na hora, sentiu uma pontada e sofreu um aborto. Ouviu da mãe no hospital: “Você perdeu muito comigo. Agora terá uma aliada na prevenção ao suicídio”.
Lançou o primeiro livro, “Suicídio e Gestalt Terapia”, sobre como abordar o tema por meio dessa linha psicoterapêutica segundo a qual o paciente ressignifica dores, não se concentrando no passado, mas no aqui e agora.
No lançamento, deu autógrafos com a mãe ao lado. “Sou eu a camicase”, dizia, rindo, em referência aos pilotos japoneses que, na guerra, jogavam aviões contra inimigos, em ataques suicidas. Karina lembra-se disso com saudades. “É muito bom aprender a rir apesar da dor”, diz ela, que adora citar o trecho “A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não”, da música “Brincar de Viver”.
No doutorado e pós-doutorado, Karina tocaria de vez na ferida, pesquisando histórias de filhos de pessoas que se mataram, sob orientação de Maria Júlia Kovács, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP.
O resultado está nos livros “Suicídio e Luto: Histórias de Filhos Sobreviventes” e “Sobreviventes Enlutados por Suicídio – Cuidados e Intervenções”. Karina finalizava o doutorado quando sua mãe teve um problema cardíaco, em 2013, e morreu.
Se no mestrado havia ficado seis meses sem andar e no doutorado perdera a mãe, quando entrou no pós-doutorado enfrentou uma inflamação cerebral severa, autoimune e sem causa específica.
Foram meses de internação com dores de cabeça intensas, tremores, falta de ar, perda de movimentos. Diante do medo de morrer e de perder a memória, começou a escrever seu livro autobiográfico, projeto com o qual resgatou o otimismo para a recuperação.
Em meio ao que chama de “tsunami existencial”, que ao todo durou três anos, prometeu que, se fosse curada, daria aulas, faria palestras e atenderia pacientes descalça, para “reverenciar diante de todos o fato de estar de pé novamente”.
Foi com os pés no chão que falou para mais de 700 pais e mães do colégio Bandeirantes de São Paulo, em seis eventos consecutivos, quando dois estudantes se mataram, em um intervalo de duas semanas, em 2018.
Havia pouco que ela estava recuperada e tentava reorganizar a vida. Quando houve o primeiro suicídio na escola, uma cunhada sua a indicou para uma das coordenadoras, Estela Zanini, com quem havia feito faculdade.
Era madrugada de um final de semana, e Karina e Estela conversaram por duas horas ao telefone. A psicóloga percebeu que poderia colocar em prática tudo o que havia estudado. O trabalho começou naquela semana com coordenadores e professores, até que foram todos atropelados pelo novo choque, com a segunda morte, e o acolhimento às famílias teve que se acelerar.
Karina lembra-se de que as noites estavam geladas, e pais e mães compareceram em massa aos eventos, estarrecidos. Dos encontros, surgiu um projeto de longo prazo, que fortaleceu grupos de apoio socioemocional formados pelos próprios alunos. A resposta do colégio se tornou um marco na educação, o que alavancou Karina como uma referência no tema.
A partir dessa experiência, elaborou o programa Raise —a palavra, em inglês, significa levantar, e ela usou como sigla para Ressignificações e Acolhimento Integrativo do Sofrimento Existencial.
Lançou o livro “Gerenciamento de Crises, Prevenção e Posvenção do Suicídio em Escolas”, no qual organizou seu método, que já implementou em diversas instituições de ensino e expandiu para empresas.
Para a prevenção, há orientações diversas, como a que se criem redes de apoio, com cadastros de pessoas a serem acionadas em casos de risco. Defende que se fale abertamente sobre o suicídio, lembrando que é, como define Shneidman, “um ato definitivo para um problema temporário”.
Trazer o tema à tona facilita a busca por ajuda, acredita Karina, que se lembra da vez em que foi procurada por um menino de 12 anos que lhe contou que uma amiga estava postando fotos de automutilação em grupos privados e dizendo que iria se matar.
A psicóloga entrou em contato com a família. No dia seguinte, na escola, a garota rabiscou a prova do colega, dizendo: “Está feliz? Eu não me matei e ainda tomei bronca”.
Quando o menino, chorando, contou isso para Karina, ela lhe confortou dizendo o que prega a Associação Americana de Suicidologia: “É melhor ter um amigo bravo com você do que um amigo morto”.
Na posvenção, faz o que chama de “acolhimento do bem”, concentrando-se em mostrar que não se deve falar em culpa, algo que cerca uma morte trágica assim, e ressaltando que a verdade sobre aquele ato vai embora com aquele que se mata. Orienta os enlutados que se blindem a palpites, que surgem aos montes, e busquem conexões saudáveis.
O objetivo é ajudá-los a buscar o equilíbrio possível em meio à montanha-russa em que a vida se transforma quando alguém querido se mata. Adepta das metáforas, diz que é preciso reafirmar a quem passa por uma dor assim que é possível extrair flor de pedra. E é nisso, e não em suicídio, que ela é especialista.




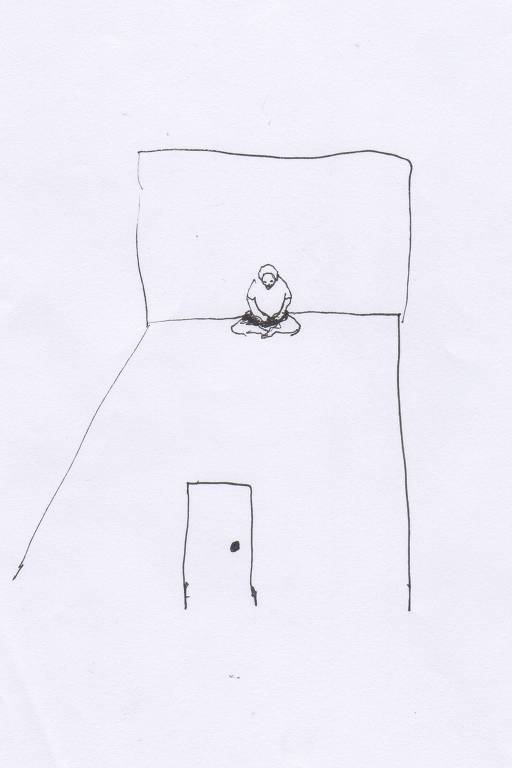
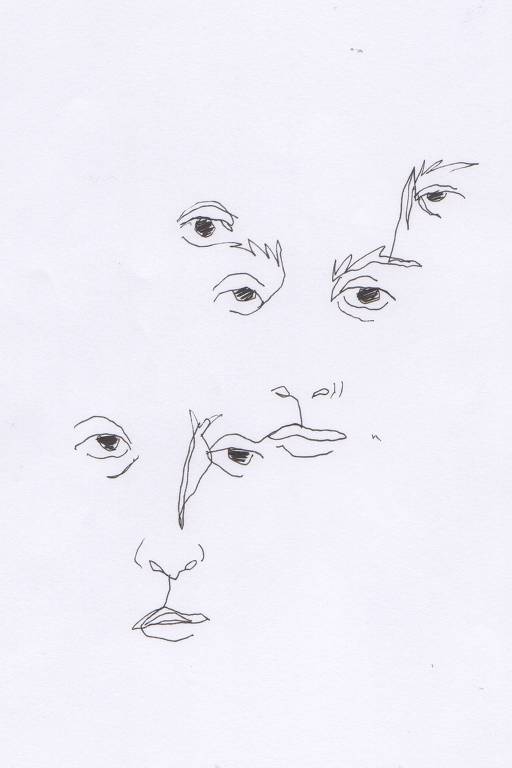





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.