O ano de 2019 talvez venha a ser lembrado como o ano no qual o setor cultural, após sofrer uma série de ameaças, foi obrigado a olhar para as próprias fragilidades e buscar novas formas de sobrevivência.
Artistas, produtores e gestores culturais tiveram de encarar a pergunta que sempre esteve no ar, mas que agora tornou-se concreta: é possível encontrar alternativas às leis de incentivo e ao patrocínio das estatais?
Para se buscar uma resposta consistente a essa pergunta é importante que se entenda como a produção cultural brasileira atingiu tal nível de dependência. Porque se é inconteste que, no mundo todo, a cultura depende de apoio do Estado, também é inegável que, aqui, essa dependência se tornou maior do que o sistema político contemporâneo parece disposto —ou, como diriam alguns, apto— a suportar.
Aqui, o sucesso do mecanismo federal de incentivo à cultura foi também seu fracasso. O intelectual Sérgio Paulo Rouanet, autor da lei de 1991 que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura, criou o incentivo fiscal a partir de princípios iluministas.
Idealmente, o benefício, ao aproximar o empresariado do patrocínio cultural, despertaria nele o gosto por essa prática. Assim, mesmo que um dia a vantagem contábil não mais existisse, o mecenato se manteria.
Não foi o que aconteceu. O sistema Salicnet, disponível no site do extinto Ministério da Cultura, demonstra que o percentual de investimento privado só fez diminuir nos últimos 20 anos. Em 1998, dos R$ 230 milhões mobilizados pela lei, 58% correspondiam a um desembolso efetivo das empresas; do R$ 1,2 bilhão de 2018, só 1,79% era “dinheiro bom”, jargão do setor para dinheiro não incentivado.
Ao permitir a dedução integral do Imposto de Renda, o mecanismo não só não desenvolveu a cultura do mecenato como criou dois outros hábitos poucos saudáveis para ambos os lados: empresas passaram a lançar mão da renúncia para meras ações de marketing e a considerar desperdício o patrocínio a projetos que não são 100% incentivados.
Esses desvios, além de distorcerem a ideia original, fizeram com que o sistema se tornasse dependente em excesso do incentivo fiscal. Do produtor teatral às grandes instituições públicas, todos passaram a recorrer à mesma fonte.
Toda e qualquer alternativa para o setor de cultura passa, portanto, por uma mudança de hábito. Ou de paradigma.
Vai ficando claro que a cultura, diante do avanço de governos conservadores e do irreversível deficit fiscal, não pode mais depender de uma única fonte.
Como 2019 tem provado, a ameaça a esse sistema tutelado pelo Estado tem múltiplas facetas —do preconceito contra o fazer cultural à proposta de reforma tributária que quebraria a lógica da lei. Nesse contexto, a variedade de fontes de recursos torna-se uma questão de sobrevivência.
De maneira geral, é possível pensar em quatro alternativas principais para o setor, que, como se sabe, é heterogêneo tanto nos propósitos quanto nos tamanhos: as leis municipais e estaduais (sempre sujeitas a intempéries políticas), os endowments, o financiamento coletivo (crowdfunding) e o marketing cultural.
Com os cortes de patrocínios das estatais, o financiamento coletivo tornou-se, este ano, a menina dos olhos dos projetos pequenos e médios. O próprio BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) lançou o Matchfunding de Cultura, voltado a projetos ligados ao patrimônio material ou imaterial do país.
O matchfunding nasce do amálgama de dois modelos: o crowdfunding e o financiamento institucional. O projeto que pleiteie o programa tem de estabelecer uma meta para o financiamento coletivo na internet; se conseguir atingi-la, recebe, do banco, o dobro do valor arrecadado.
Lançado em 2011, o Catarse, primeira plataforma brasileira de crowdfunding, sempre foi entendido como alternativa às leis de incentivo. Não necessariamente no sentido de substituí-las, e sim de complementá-las. O modelo da vaquinha virtual, que tem, há um par de anos, viabilizado CDs, shows e pequenos festivais, garantiu este ano a 27ª edição AnimaMundi, festival de animação que aconteceu em julho em São Paulo e no Rio.
Após perder o apoio da Petrobras e do BNDES, que respondiam por cerca de 80% dos R$ 3 milhões do orçamento, os organizadores do AnimaMundi abriram uma campanha no Benfeitoria e conseguiram arrecadar R$ 440 mil. Além disso, empresas do setor audiovisual e as prefeituras das duas cidades onde o evento ocorre entraram como apoiadoras. Tudo isso junto garantiu que o festival acontecesse.
O financiamento coletivo, ferramenta potencializada pela tecnologia e pelas conexões em rede, tem uma característica interessante: coloca produtores e artistas em contato direto com aqueles que, supostamente, têm interesse no trabalho por eles realizado. Estima-se que, em 2017, o crowdfunding tenha movimentado R$ 200 milhões no Brasil; os números de 2019 darão uma boa medida do quanto ganhou força na crise.
Outra fonte de recursos que, apesar de incipiente no Brasil, é forte em vários países, é o apoio das marcas que, para além da mera filantropia ou do marketing, enxergam a cultura como uma ferramenta sofisticada de comunicação.
Na Europa e nos EUA, apoiar um museu ou um show de rock é, a um só tempo, ação de relações públicas, de responsabilidade social e de construção de identidade corporativa. A cultura pode ser, ainda, o caminho mais curto para se atingir públicos específicos.
Ao descobrir que mulheres não compravam seus produtos e serviços de telefonia, a francesa Orange criou, em 1996, o Orange Prize, destinado a premiar escritoras de ficção. Resolvido o descompasso, a empresa passou o prêmio adiante. Em 2014, o Orange Prize virou Bailey’s Women’s Prize for Fiction.
Nesta era em que produtos não valem mais só pelo que oferecem, mas pelos sentidos que carregam, a simbologia da cultura passou a ser cobiçada pelas marcas.
Enquanto, no Brasil, a cultura implora apoio, no Reino Unido, anos atrás, artistas protestaram contra o patrocínio da British Petroleum à Tate. A petroleira colocava verba na prestigiosa galeria para “limpar” sua marca; os artistas, por sua vez, consideraram inaceitável expor na instituição que recebia “dinheiro sujo”.
O episódio inglês é indicativo de duas coisas: de que, no Reino Unido, o apoio público é quase sempre complementado por dinheiro privado e de que o patrocínio cultural tornou-se ferramenta fundamental de comunicação.
Apesar de o patrocínio ter crescido muito no mundo e de parte disso ir para artes e entretenimento, no Brasil, a lógica dominante ainda é a da cultura implorando para ter uma marca, e não a da marca tentando se associar a um projeto. Uma mudança nessa rota de mão única mostra-se essencial neste momento.
Cabe por fim lembrar que a doação de pessoa física, prevista na Lei Federal de Incentivo à Cultura, jamais foi desenvolvida. Seria uma alternativa, sobretudo no caso de grandes instituições com potencial para atrair sócios doadores, como Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e Masp (Museu de Arte de São Paulo). A possibilidade de abater essas doações do IR seria, literalmente, grande incentivo a tal prática ainda pouco usual.
A viabilização dessas opções passa, porém, por aquilo que Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, repete como que seguindo o ditado da água mole em pedra dura: se o setor não construir métricas aferíveis e não melhorar a gestão, continuará pregando a convertidos. Em outras palavras: novos dinheiros dependem de novas atitudes.
Nova legislação pode facilitar endowments
O endowment é, antes de tudo, um conceito. Seu princípio é o de que uma instituição ou causa possa garantir sua perenidade por meio dos rendimentos provenientes de determinado montante financeiro. Sua principal vantagem é que, ao contrário do que acontece com as leis de incentivo fiscal, ligadas ao “hoje”, o endowment possibilita não só o planejamento financeiro como a sobrevivência de longo prazo.
Durante muitos anos, justificou-se a quase inexistência desse modelo no país com a falta de instrumentos jurídicos aptos a garantir a segurança dos envolvidos. Mas em janeiro deste ano foi publicada a lei 13.800, que dispõe sobre a constituição de fundos patrimoniais destinados a “arrecadar, gerir e destinar doações” para programas e projetos de interesse público.
A lei garante, entre outras coisas, uma segregação jurídica entre o doador e o endowment, evitando assim que futuros herdeiros tentem reaver o dinheiro, e entre o endowment e a instituição beneficiada, de forma que seja garantida a adequada aplicação dos recursos.
Outra regra básica desse tipo de fundo é que jamais se pode mexer no valor principal, ou seja, só os rendimentos acima da inflação devem ser resgatados. O endowment não é, portanto, um fundo que possa ser acionado em caso de emergência.
E começam aí os problemas. As instituições e projetos culturais parecem viver em estado de emergência, forjados em meio a muito vaivém político, crises financeiras e adaptados ao imediatismo das leis de incentivo.
Justamente por isso, Ricardo Levisly, consultor que há anos se dedica à discussão e à luta pela regulação dos endowments, diz que, superada a questão jurídica, a principal barreira para que esse sistema avance no Brasil é a mudança de mentalidade.
Para que o endowment tenha sentido, costuma dizer Levisky, é preciso que se trabalhe com uma visão de longo prazo aliada a uma governança de longo prazo.
É preciso que haja um planejamento orçamentário, e que as instituições substituam as gestões personalistas por gestões profissionais.
Não por acaso, os endowments existentes no país ou são utilizados por instituições ou famílias ligadas ao setor financeiro, como a Fundação Bradesco e o Instituto Moreira Salles, ou ao terceiro setor —caso do Fundo Baobá e do S.O.S. Mata Atlântica.
Na área da cultura, eles ainda andam a passos lentos. Mas vão, de toda forma, surgindo. Tanto Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) quanto Masp (Museu de Arte de São Paulo) criaram fundos patrimoniais.
Cabe lembrar que, nos Estados Unidos, essa prática é absolutamente comum. Os exemplos de endowments vão de fundações como Rockefeller, Carnegie e Ford até instituições como o Metropolitan Museum of Art, de Nova York, e o Museum of Fine Arts, de Houston. Na França, um endowment famoso é o do Museu do Louvre.



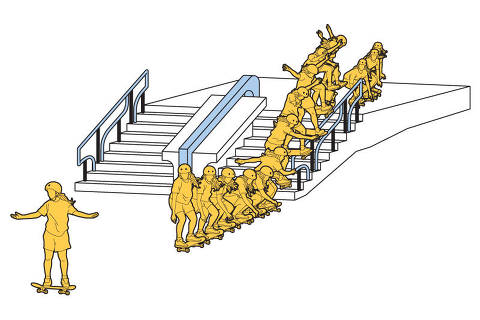
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.