[RESUMO] A partir da análise de três períodos de doenças infecciosas no país, do século 16 ao coronavírus, e das marcas profundas que legaram à sociedade, pesquisador avalia que vencer a crise atual demandará equilíbrio entre segurança e liberdade.
O coronavírus deita suas raízes letais no Brasil e ilumina uma nação sob o domínio de uma nova era de epidemias. Nosso olhar ansioso se volta para o futuro, mas deveríamos também olhar para trás.
Dois períodos, nos séculos 16 e 19, também foram caracterizados por pragas desconhecidas e terríveis. Elas deixaram marcas profundas e duradouras no Brasil. Uma breve história dessas fases pode nos oferecer uma ideia melhor do tipo de mundo que vai nos saudar amanhã.
O terceiro e atual período de doenças infecciosas —que inclui HIV/Aids, zika, febre amarela, dengue e coronavírus— pode ser atribuído à circulação maior e mais rápida de pessoas que trazem germes.
Fatores não humanos como mutações genéticas e flutuações climáticas sempre exerceram um impacto, mas dentro de contextos sociais. De fato, as grandes etapas da migração humana e da globalização foram marcadas por epidemias.
Quando os primeiros europeus e africanos escravizados atravessaram o oceano Atlântico, nos séculos 15 e 16, carregaram consigo, sem sabê-lo, um conjunto de doenças destrutivas que despovoaram as Américas. Não se sabe ao certo quais doenças mataram milhões de indígenas; o mais provável é que tenham sido a varíola, o sarampo e a influenza.
Exploradores e conquistadores, que haviam ganhado, em sua maioria, resistência imunológica quando expostos às doenças na infância, na Europa ou na África, aproveitaram a devastação para ganhar guerras, escravizar, ocupar e se estabelecer em novas terras.
As baixas maciças provocadas pelas pestes do século 16 no Brasil ficaram na maior parte sem ser vistas ou documentadas, já que ocorreram longe do litoral.
Para entender a forma que o Brasil poderia ter assumido se o primeiro período de epidemias não tivesse ocorrido, precisamos comparar os esforços de colonização portuguesa na Índia e na África, onde densos assentamentos de povos nativos imunologicamente resistentes mantiveram os portugueses em fortalezas costeiras.
Ademais, o Brasil deve seu legado afro-brasileiro em parte às doenças, porque os escravos foram importados da África em resposta à percepção de que as populações indígenas minguantes não conseguiriam satisfazer a necessidade aguda de trabalhadores.
Os portugueses testemunharam algumas vezes as epidemias que dizimaram comunidades indígenas no século 15. Apesar disso, o Brasil era descrito como terra perpetuamente verdejante, fértil e extraordinariamente salubre desde seus primórdios.
Ainda em 1576, o cronista português Pero de Magalhães Gandavo escreveu que os ares do Brasil eram “tam puros e coados” que “recream e acrescentam à vida do homem”. Depois de conquistarem a maior parte da costa nordeste brasileira na década de 1630, os holandeses ajudaram a perpetuar a reputação de salubridade.
A peste bubônica devastou a república holandesa enquanto Maurício de Nassau e sua comitiva de naturalistas e artistas escapavam para o paraíso terrestre brasileiro.
Ao longo do período colonial, mesmo os críticos mais ferrenhos das Américas costumavam ver o Brasil como uma exceção à chamada zona tórrida. Cornelius de Pauw e William Robertson argumentaram que os animais e os povos do Novo Mundo eram naturalmente degenerados. Eles também escreveram que os ventos atlânticos refrescavam ou purificavam o Brasil.
Mesmo no meio quarto de século após a Independência, observadores brasileiros e europeus concordaram que o país tinha escapado das epidemias que grassaram em outras partes da América e da Europa, incluindo a febre amarela, o cólera e a influenza.
Charles Darwin ecoou uma opinião comum em 1839: durante uma escala no Peru, escreveu que “o miasma [causador de doenças] nem sempre é produzido por uma vegetação luxuriante com um clima ardente, pois muitas partes do Brasil, mesmo onde há pântanos e uma vegetação viçosa, são muito mais salubres que esta costa estéril”.
A reputação de salubridade excepcional que o Brasil conservou por três séculos foi destruída repentinamente quando uma nova onda de epidemias estourou em 1849, novamente transformando o país.
Nesse ano, milhares de pessoas embarcaram para buscar ouro na Califórnia, sendo que boa parte fez escala no Rio de Janeiro. Com navios mais velozes e em maior número atravessando o Atlântico de um lado ao outro, três enfermidades novas, todas absolutamente desconhecidas e pavorosas, foram carregadas do outro lado do oceano em micróbios que colonizaram recipientes de água potável, se aninhando dentro de corpos humanos e se reproduzindo no sangue e na saliva de diversos ectoparasitas.
O mosquito urbano Aedes aegypti, vetor da febre amarela, foi o primeiro a desembarcar e a levar muitas pessoas a adoecer, especialmente europeus sem exposição prévia à doença. A febre amarela transformou os portos e extensas planícies costeiras do Brasil em lugares assustadores para imigrantes, marinheiros, mercadores e investidores.
Entre 1854 e 1868, o cólera fez centenas de milhares de vítimas entre trabalhadores agrícolas e de usinas de açúcar, em sua maioria escravizados e negros pobres. Em algumas províncias a população escravizada diminuiu em mais de um terço em poucos anos.
A varíola era antiga e familiar —havia se instalado no litoral depois de 1850. Mesmo quando a vacinação começou a controlá-la em grande parte da Europa e da América do Norte, os surtos da doença pioraram no Brasil.
Pandemias de influenza atravessaram o Atlântico Norte no século 19, mas os brasileiros parecem ter escapado delas até 1890, quando sofreram de gripe junto à boa parte do resto do mundo.
Anos depois, a maioria dos moradores pobres das grandes cidades do Nordeste corriam o risco de ser mordidos por ratos contaminados com a peste bubônica (entre 1899 e a década de 1940), outra recém-chegada indesejada no país.
Quando ratos portadores da bactéria da peste começaram a correr sorrateiros entre docas e vielas do agitado porto de Santos, em 1899, os brasileiros viram seu país retroceder.
Rui Barbosa, um dos fundadores do regime republicano e coautor da Constituição brasileira de 1891, escreveu sobre “as assolações directas produzidas pelo flagello; a diffamação do nosso clima, a reputação desastrosa de insalubridade, a influência incalculavel exercida por esse phantasma sobre o povoamento do nosso território, assignalado ao estrangeiro como o habitat da morte” (A Imprensa, 6 de fevereiro de 1899).
As consequências do segundo período de epidemias do Brasil não se limitaram à imigração. Além de uma perda trágica e em muitos casos evitável de vidas, as epidemias que assolaram o país na segunda metade do século 19 deterioram a escravidão, desestabilizaram economias e governos no final do Império e no início do regime republicano, levaram ao surgimento de uma sociedade mais secularizada, com presença maior da medicina, e moldaram o perfil demográfico do Brasil por gerações.
As patologias eram ecológicas e sociais. As doenças transformaram a autoimagem e o sentimento nacional brasileiro, transformando uma nação jovem, vista durante séculos como um Éden abençoado e povoado de gente robusta, em um lugar perigoso, degenerado e sombrio que não se distinguia do restante da “zona tórrida”.
A desigualdade regional extrema do país, seu número mais baixo de trabalhadores imigrantes (em comparação com os países vizinhos) e sua população altamente urbanizada se devem em boa medida a micróbios e às maneiras que brasileiros, comerciantes estrangeiros e potenciais imigrantes lidaram com algo que hoje se entende como os ciclos de patogenia e propagação entre espécies.
O segundo período de epidemias terminou por volta de 1910, quando um Estado mais ativo e centralizado promoveu melhorias na saúde, pelo menos entre a elite e os setores intermediários das maiores cidades e os estados mais ricos do país. Poucos defendiam que o Brasil era salubre; em 1916, em frase que ficaria famosa, o médico sanitarista Miguel Pereira caracterizou sua pátria como “um imenso hospital”.
A pandemia de influenza de 1918 chegou ao país no mesmo ano, mas matou proporcionalmente muito menos pessoas que na Europa e na América do Norte. Nos anos 1920, os caçadores brasileiros de micróbios passaram a ser celebrados internacionalmente por suas descobertas.
Uma década depois, havia uma confiança renovada na robustez do corpo “luso-tropical” ou miscigenado do brasileiro, como exaltavam antropólogos como Gilberto Freyre. Como Freyre reconheceu, havia muito tempo que clima e raça ajudavam a explicar o potencial humano.
A terceira e atual era de epidemias do Brasil começou em 1990, quando as mortes por Aids passaram de 10 mil. Felizmente, o programa nacional de combate à doença do país serviu de exemplo para o mundo em matéria de prevenção, atendimento e tratamento.
Quando os casos de Aids alcançaram seu auge, em 1998, as mortes por dengue começaram a aumentar. A dengue e várias outras doenças perigosas não são transmitidas sexualmente, mas propagadas pelo Aedes aegypti, um mosquito que voltou a assolar o Brasil no século 20 e reassumiu seu lugar nas cidades do país.
Mais de 6.000 pessoas morreram de dengue no Brasil entre 1986 e 2019. O número de casos voltou a subir nitidamente no ano passado. O mesmo mosquito também transmite o vírus da zika, observado pelos médicos pela primeira vez em Natal em 2014.
A maioria dos casos de zika é assintomática ou provoca sintomas brandos, mas mulheres contaminadas no início da gravidez possuem risco 17 vezes maior de apresentar malformações congênitas que causam deficiências leves a graves em seus filhos. O surto de zika em 2016 e 2017 deixou mais de 14 mil casos suspeitos de microcefalia e centenas de outras pessoas com dor e paralisia.
Finalmente, o mosquito Aedes aegypti e seu primo Aedes albopictus trouxeram de volta ao Brasil um assassino antigo que inspira temor. Em 2016 e 2017, houve mais de 2.000 casos confirmados de febre amarela, com 745 mortes. Essa taxa de letalidade altíssima levou a reações próximas ao pânico, e o governo respondeu agressivamente, vacinando milhões de pessoas. O número de casos diminuiu, mas o risco continua presente.
Devido à degradação ambiental, à caça ilegal e ao comércio de animais silvestres, além da hiperglobalização, os períodos epidemiológicos ativos e inativos não ficam mais restritos a determinados países ou regiões. O ebola, a Sars, a Mers e a Covid-19 passaram de animais para humanos e ameaçam populações de todo o planeta.
O que pode barrar a ascensão de doenças infecciosas e da morte que as acompanha? É essa a pergunta que não quer calar.
Um fenômeno global requer uma resposta global. Hoje, a OMS (Organização Mundial da Saúde) pode emitir recomendações, propor orientações e oferecer recursos, mas não pode obrigar os governos nacionais a fazer nada. Trocar um pequeno grau de soberania por uma segurança nacional maior parece ser uma escolha óbvia diante da ameaça de doenças mais letais que a Covid-19.
Numa transição como essa, o Brasil precisa novamente liderar pelo exemplo —afinal, os governos municipais e estaduais do país expulsaram o perigoso Aedes aegypti das cidades brasileiras há mais de cem anos. Mais recentemente, o enfoque integrado que o Brasil adotou diante da Aids demonstrou como um país com menos recursos e níveis mais altos de desigualdade social é capaz de derrotar uma pandemia.
Se voltarmos a abraçar os ideais liberais de fronteiras abertas, viagens baratas e cadeias produtivas globais, as sociedades terão que fazer opções difíceis. Essas podem incluir a aceitação de regimes de saúde com aplicação internacional, o aumento significativo de recursos para organizações nacionais e internacionais de saúde pública e a expansão da biovigilância, com o reconhecimento claro de que cada cidadão ou visitante é um corpo potencialmente infeccioso.
A era atual de epidemias, assim como a anterior, precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre segurança e liberdade.
Ian Read é professor de estudos latino-americanos na Universidade Soka da América.
Tradução de Clara Allain.









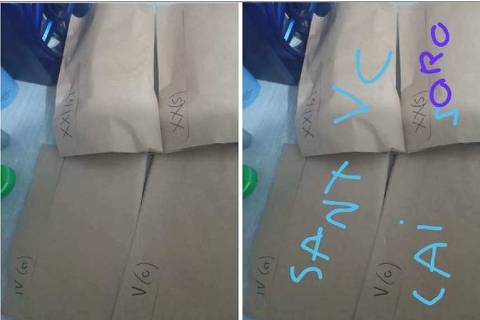
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.