[resumo] Cientistas políticos comentam alguns dos principais livros lançados neste ano em meio ao boom editorial motivado pela eleição nos EUA. Sob inspiração do clássico estudo de Tocqueville a respeito da América no século 19, analistas e acadêmicos tentam encontrar respostas para os atuais males da sociedade americana —como o temor de corrosão institucional, o racismo e a estagnação salarial— diante da encruzilhada representada pelo governo Trump.
É comum que autores consagrados e ascendentes tentem diagnosticar os males da sociedade e oferecer suas prescrições em forma de elaboradas teses históricas, panfletos ideológicos e receituários de políticas públicas. Como tudo na era Trump, esse desafio ganhou agora proporções épicas.
Nos últimos quatro anos, nenhum pesquisador avançou com a ousadia descarada de Bernard-Henri Lévy, que no livro “American Vertigo”, de 2006, assumiu explicitamente a tentativa de repetir o feito sociológico do francês Alexis de Tocqueville no século 19. Todos eles, contudo, se referem, de um jeito ou de outro, ao grande teórico da sociedade norte-americana, autor do clássico “A Democracia na América” (1835).
Afinal, o presente está cheio de referências aos trabalhos do aristocrata francês —da crítica aos novos ricos de Nova York às potencialidades revolucionárias dos negros norte-americanos, passando, claro, pela condição humana nas prisões, o ponto de partida de sua viagem iniciática pelo novo mundo.
No caminho que leva dos cárceres de Tocqueville às prisões Supermax de Donald Trump, os autores discutidos nos próximos parágrafos tentaram encontrar as respostas para a atual encruzilhada civilizatória dos Estados Unidos.
Curiosamente, o autor desta leva que mais se aproxima de Tocqueville, pela latitude e pela ambição do seu trabalho, é de língua portuguesa. Ex-ministro da Europa e habitué do circuito de think tanks do Atlântico Norte, Bruno Maçães anuncia, em “History Has Begun” (a história começou), que os Estados Unidos estão prestes a entrar em uma nova realidade.
Maçães não esconde sua admiração por Tocqueville, mas contesta a premissa fundamental do seu trabalho: ele acredita que a identidade norte-americana divergiu da europeia. O surgimento da televisão, a seu ver, definiu a identidade moderna dos EUA, muito antes das redes sociais ou da internet.
Donald Trump, o “showman” por excelência, deve ser entendido como o primeiro grande político que criou um universo televisivo, no qual tudo é uma sucessão de performances, para influenciar a opinião pública. Agora, Trump e Biden agem como dois canais que competem para hipnotizar a audiência. O liberalismo, a seu ver, em breve dará lugar ao virtualismo.
“History Has Begun” captura algo raro em todas as obras: o espírito Vale do Silício. Nos Estados Unidos do pós-petróleo —em que o declínio das regiões petrolíferas lembra as cenas do filme “Sangue Negro”, de Paul Thomas Anderson—, a Califórnia, alavancada pela indústria tecnológica, também pretende assumir o papel de fiadora da identidade nacional.
A indicação de Kamala Harris à Vice-Presidência na chapa do democrata Joe Biden, uma senadora que encarna os valores da Costa Oeste, marcou o começo dessa transição do capital fóssil para o tecnológico e o fim do Texas como a província extrativista que criava presidentes pelo menos desde Lyndon Johnson (1908-1973).
Se o espetáculo proporcionado por Trump tem características únicas e reflete um novo momento da sociedade americana, o seu poder também depende do que há de mais tradicional na política: um grande partido. Um número considerável de autores tem atentado à relação complexa entre o presidente e o Partido Republicano, que inicialmente o tratou como um usurpador, antes de elevá-lo a líder espiritual.
Para Rick Perlstein, autor de “Reaganland” (Reaganlândia), Trump é a obra-prima da nova direita, a geração conservadora lançada por Ronald Reagan nos anos 1980. Foi a partir desse momento que o Partido Republicano passou a jogar o chamado “long game”, redesenhando distritos eleitorais, entupindo cortes estaduais, dificultando o voto das minorias e fazendo de questões protocolares, como o aumento do teto da dívida, uma guerra ideológica e apocalíptica.
O partido também soube insurgir-se em momentos-chave, jogando nos limites de legalidade quando os democratas ameaçavam restaurar a hegemonia do New Deal.
Essa cultura de “matar ou morrer” teve seus ápices na “Revolução Gingrich” de 1994, quando os republicanos, liderados pelo belicoso ex-congressista Newt Gingrich, assumiram o controle do Congresso pela primeira vez desde 1952; na batalha jurídica da disputa eleitoral entre Al Gore e George W. Bush em 2000, da qual o último saiu vitorioso; na rejeição da indicação de Merrick Garland por Barack Obama para a Suprema Corte em 2016; e, agora, na aprovação da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte, às véspera da eleição.
Trump conta com essas três gerações de republicanos aguerridos para levar às últimas consequências a contagem de votos na eleição de 3 de novembro.
Com efeito, desde o início da corrida eleitoral, seu governo tem explicitamente colocado em dúvida a capacidade de o regime garantir a transferência pacífica de poder entre forças políticas adversárias, uma condição mínima para a sobrevivência das democracias.
Adam Przeworski, um dos defensores mais conhecidos da teoria minimalista da democracia, concorda que há motivos para preocupação com o futuro da democracia nos EUA (e, de resto, no mundo), mas talvez esses motivos não sejam os mais frequentemente encontrados nos discursos dos trumptólogos de plantão.
Em seu livro mais recente livro, “Crises da Democracia”, Przeworski argumenta que as chances de uma quebra abrupta da ordem democrática em uma democracia tão antiga e próspera como a norte-americana seria nula de um ponto de vista estatístico (mais precisamente, uma chance em 6 milhões), a despeito das eventuais fantasias autoritárias da família Trump.
Contudo, existem muitas maneiras de matar uma democracia, e os EUA têm registrado o crescimento expressivo de pelo menos dois fenômenos sociais que acompanham crises políticas profundas: a concentração da riqueza e o crescimento da violência política.
Para Przeworski, seria mais útil interpretarmos as agruras do sistema político norte-americano como um caso particularmente agudo das dificuldades mais generalizadas provocadas por tendências próprias do capitalismo do século 21, tais como o fim do compromisso de classe social-democrata e a mudança estrutural da economia nos países industrializados.
Muito mais preocupantes que o personalismo trumpista ou uma suposta perda de valores cívicos comuns, argumenta o cientista político, são, de um lado, as três décadas seguidas de estagnação salarial, e, de outro, o aumento da precarização das carreiras pós-industriais. Isso leva a um cenário em que apenas metade dos jovens de 30 anos nos EUA estão em uma posição material melhor que a de seus pais (contra 90% dos casos em 1970).
O colapso da crença, até então fortemente arraigada, de que o progresso intergeracional é um direito inalienável e uma possibilidade crível aberta para todos talvez seja o mais novo espectro a rondar o futuro das democracias contemporâneas.
O perigo colocado pela radicalização da direita nos EUA também encontra importantes causas locais que não podem ser subestimadas. A economista Anne Case e o ganhador do Nobel Angus Deaton mostram, em “Deaths by Despair and the Future of Capitalism” (mortes por desespero e o futuro do capitalismo), como o declínio da classe média suburbana e branca revolucionou a política americana.
Eles destacam os efeitos devastadores da epidemia dos opioides e da falta de acesso à saúde, seja pelos obstáculos impostos por um sistema de saúde privado e ineficiente, seja pela perda de empregos de qualidade, que devastaram uma geração de homens brancos sem ensino superior.
De acordo com o casal de economistas, as chamadas “mortes por desespero”, envolvendo overdose, suicídio ou doenças decorrentes do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, são uma das causas da redução da expectativa de vida média nos EUA (de 78,9 anos em 2014 para 78,6 em 2017), fato sem precedentes na história das democracias afluentes.
A pesquisa de Case e Deaton nos mostra que, entre a população branca, obter um diploma de ensino superior —e, consequentemente, contar com a possibilidade real de ingressar em um mercado de trabalho especializado e globalizado— pode ser fator determinante tanto para uma vida protegida do desalento e da precariedade do brutal sistema de proteção social norte-americano como uma boa explicação para o voto republicano nas eleições de 2016.
Os números do casal corroboram a sensação de alienação entre a classe trabalhadora branca dos EUA registrada de modo pioneiro pela premiada pesquisa de Arlie Hochschild, “Strangers in Their Own Land” (estranhos em sua própria terra). Professora de sociologia da Universidade da Califórnia em Berkeley e conhecida por seu ativismo progressista, Hochschild ousou furar sua bolha de empatia política dedicando cinco anos de estudo a grupos de extrema direita no interior da Louisiana (um dos estados mais pobres e mais dependentes de repasses federais dos EUA).
Sua conclusão, apresentada antes da ascensão de Trump, é a de que parte significativa do antigo movimento trabalhista “blue-collar” do país, uma referência à gola azul dos trabalhadores manuais e não especializados, vive em uma nova paisagem política, uma terra desconhecida historicamente e ameaçadora culturalmente.
A “narrativa profunda” repetida nas entrevistas feitas por Hochschild é uma história de traição, na qual perdas pessoais são acumuladas —em um país cujo salário médio permanece estagnado desde os anos 1970— e um profundo sentimento de revolta é direcionado contra grupos sociais que, com ajuda da “corrupção” do governo federal, têm conseguido furar a fila do sonho americano.
Em seu discurso de posse, informalmente intitulado de “American Carnage” (massacre americano), Trump era o tolo de Macbeth que nos contava uma história cheia de som e fúria. Uma América arrasada que nada significa para o mundo, mas profundamente real para os entrevistados de Hochschild.
A narrativa de vitimização do proletário branco é vista, contudo, com extrema desconfiança pela comunidade afro-americana dos EUA. O otimismo racial da era Obama terminou de forma abrupta em 2016, com a eleição de um governo federal comprometido em desmantelar as políticas de equidade racial e um presidente que nunca negou publicamente sua simpatia por movimentos de supremacia racial.
Contudo, a gestação de novos movimentos sociais inspirados na luta contra a brutalidade policial nas ruas dos EUA, articulados em nível nacional nos próprios anos Obama, culminaram no verão de 2020, naquela que talvez seja uma das maiores ondas de protestos antirracistas da história dos EUA.
Considerada por muitos como a “bíblia secular” do movimento Black Lives Matter, o livro de Michelle Alexander, “The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness”| (“A Nova Segregação: Racismo e Encarceramento em Massa”, publicado no Brasil pela Boitempo), ganhou nova edição, revisada por Maya Harris, irmã mais nova de Kamala, para celebrar os dez anos de sua publicação original.
Em seu assustador relato, Alexander nos conta como tanto a política de combate às drogas, desenhada pelo reaganismo para explorar o ressentimento racial dos subúrbios brancos da América após os tumultuosos anos 1960, como a ideologia colorblind esposada pelos novos democratas, a qual fecha os olhos para as especificidades dos conflitos raciais, são estrategicamente compatíveis com a competição “pós-racial” dos livres-mercados e a desestruturação do sistema de bem-estar durante a administração Clinton. Ambas conspiraram para criar uma complexa rede de instituições e políticas públicas responsáveis pelo encarceramento em massa da população negra.
Compreender os mecanismos do que Alexander denomina de “novo sistema de casta racial dos EUA” é imprescindível caso queiramos explicar como a autodeclarada “terra da liberdade” mantém presas mais de 2 milhões de pessoas, um contingente populacional majoritariamente pobre e negro.
Para esses autores, os números do punitivismo racial norte-americano encontram rivais à altura apenas no arquipélago gulag do stalinismo. Como insistem outras vozes antirracistas pós-Obama, como o escritor Ta-Nehisi Coates em seus celebrados ensaios para a revista The Atlantic, além de aprisionar em massa a população negra do país, o punitivismo racializado possui efeitos políticos de longa duração, como a privação do direito de voto (em pelo menos 11 estados norte-americanos os ex-condenados podem perder esse direito mesmo depois de cumprida a pena) e a exploração demagógica da violência urbana por conservadores, cujo exemplo mais impactante em 2020 foi o assassinato de George Floyd pela polícia de Minneapolis após ter supostamente utilizado uma nota falsa de US$ 20.
A já clássica obra de Alexander e os artigos de Coates estão longe de ser expressões isoladas. Em “Como Ser Antirracista”, o historiador Ibram X. Kendi argumenta que a luta contra o racismo nos EUA tem cometido dois erros típicos da política “pós-racial” da América de Obama. Em primeiro lugar, diz, o racismo foi visto como um problema de cunho pessoal, ao invés de ser pensado como um problema institucional generalizado, provocado por escolhas políticas e por ações públicas discriminatórias.
Em segundo lugar, a história das ideias raciais nos EUA precisa ser repensada como um conflito de longa duração entre visões diferentes: a segregacionista, a assimilacionista e, finalmente, a visão verdadeiramente antirracista, segundo a qual as hierarquias raciais entre indivíduos são uma forma inaceitável de organização social.
Diante das profundas divisões raciais e sociais da sociedade, é compreensível a escolha dos democratas por um político que remete a um passado mais estável e pacífico. Há algo de atrativamente pacato em Biden, a encarnação em pessoa do eleitorado de Trump: branco, acima de 60 anos e suburbano, que prosperou na era de ouro da indústria (Biden é conhecido como Amtrak Joe, em referência à companhia nacional de trens) e agora está desorientado pela pulverização do pacto social.
Cabe a uma parte do campo progressista, consolidada na era Obama, sacudir a campanha e vender a ilusão de que Biden tem a oportunidade de repetir o feito de Lyndon Johnson. Presidente acidental por excelência, vice que assumiu a Presidência após o assassinato de John Kennedy, Johnson transformou a política americana, como narrado na espetacular biografia assinada por Robert Caro (“The Years of Lyndon Johnson”, os anos de Lyndon Johnson, quatro volumes), leitura obrigatória de toda a classe política americana.
Em um movimento sintomático da superação das estruturas tradicionais da social-democracia, esses tecno-tocquevilles acabaram assumindo o papel de formuladores do programa dos democratas, outrora atribuído a sindicalistas, burocratas partidários e ativistas.
Ezra Klein e Matthew Yglesias, fundadores do grupo de mídia digital Vox, são o melhor exemplo dessa nova geração de “policy-makers” que resolvem as equações sociais nas mesas de madeiras das cafeterias de Washington.
Os dois partilharam a sua visão dos Estados Unidos em livros publicados neste semestre. “Why We’re Polarized” (por que estamos polarizados), de Ezra Klein, filho de matemático brasileiro, mistura biologia evolutiva e análise de dados para oferecer uma análise ousada, ainda que um tanto determinista, da política norte-americana.
Em uma de suas passagens mais convincentes, Klein demonstra a centralidade do racismo na dinâmica de polarização. O pacto nacional do Partido Democrata passava pela exclusão da agenda antirracista, eleitoralmente explosiva nos estados do Sul, em que vigora a herança escravagista. A abertura tão necessária dessa caixa de Pandora transformou o cenário político.
Em “One Billion Americans” (um bilhão de americanos), Matthew Yglesias expõe uma proposta espantosa: abrir as portas da imigração e triplicar a população dos Estados Unidos para solucionar todos os seus problemas econômicos. O aumento radical da densidade populacional, hoje muito inferior à de outros países industrializados, criaria condições para uma revolução em habitação, tributação, saúde e educação.
No campo da política externa, o desencadeamento da guerra comercial contra a China terá sido o evento mais marcante do mandato de Trump. Matthew C. Klein e Michael Pettis investigam as origens domésticas dessa virada em “Trade Wars are Class Wars” (guerras comerciais são guerras de classe).
Eles mostram que as guerras comerciais são, antes de tudo, reflexos de políticas domésticas que aumentaram a concentração de riquezas e arruinaram a classe trabalhadora. O incremento gradual da desigualdade acirrou a competição internacional, e Trump apenas explorou, oportunisticamente, uma crise estrutural já instalada. Uma decisão mais intuitiva do que estratégica.
Em “Superpower Showdown” (duelo de superpotências), Bob Davis e Lingling Wei argumentam que a administração Trump não tinha um plano específico para a China. Ao descreverem as dinâmicas internas do governo em Washington e as intensas negociações bilaterais que tanto mexeram com os mercados nos últimos anos, os autores sugerem que a guerra comercial aconteceu quase acidentalmente, pela simples razão de que Trump comprou, sem saber, uma briga que não podia vencer nem perder.
Se os olhos dos norte-americanos estão virados para a Ásia, é sob o prisma europeu que Anne Applebaum, uma das mais conceituadas historiadoras e ensaístas da era Clinton, analisa o declínio da projeção dos Estados Unidos no mundo.
Em “Twilight of Democracy” (crepúsculo da democracia), a história de Trump é uma história ocidental. Applebaum traça o perfil de personagens europeus e norte-americanos que desembarcaram do projeto humanista lançado no fim da Guerra Fria e aderiram à nova geração de ideologias populistas. Fica implícito em seu argumento que Trump é o principal expoente de um tipo de tirano comum na história europeia.
Essa é uma observação que vai ao encontro de uma das mais interessantes predições de Tocqueville. Quase dois séculos antes, o francês, pré-teórico do totalitarismo, alertava para a emergência de um tipo de despotismo nos Estados Unidos, no qual os césares, monarcas absolutistas e bonapartistas europeus, dariam lugar à tirania dos pequenos burocratas e à apatia política da maioria. Um despotismo administrativo e democrático, organizado pelo burocrata e pelo homem médio passivo, que assentaria uma sociedade homogênea e liberticida.
Se existe algum ponto em comum entre os Tocqueville do século 21, talvez seja a constatação de que, na América de 2020, a principal fonte de receio democrático tenha se invertido: a emergência de figuras despóticas de estilo tradicional, em uma sociedade na qual a igualdade de condições, característica constitutiva das democracias modernas segundo o teórico político francês, perde sua força.
A possibilidade de um césar na democracia norte-americana e a adesão à política de nativismo podem significar a perda de relevância de um Estados Unidos mais paroquial e, por vezes, pré-iluminista. Pode também permitir novas possibilidades para a política em um mundo cada vez mais pós-americano. O vencedor de 2020, no fundo, pouco importa. Donald Trump já projetou os Estados Unidos numa nova era.
Releituras americanas
History Has Begun: The Birth of a New America
Autor: Bruno Maçães. Editora: Oxford University Press. R$ 245 (224 págs.); R$ 114 (ebook)
Reaganland: America’s Right Turn
1976-1980
Autor: Rick Perlstein. Editora: Simon & Schuster. R$ 140 (1.120 págs., em pré-venda); R$ 96 (ebook);
Crises da Democracia
Autor: Adam Przeworski. Editora: Zahar. R$ 74,90 (272 págs.); R$ 39,90 (ebook)
Deaths of Despair and the Future of Capitalism
Autores: Anne Case e Angus Deaton. Editora: Princeton University Press. R$ 164 (312 págs.); R$ 156 (ebook)
Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right
Autora: Arlie Russell Hochschild. Editora: The New Press.
R$ 100 (416 págs.); R$ 69 (ebook)
The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness
Autora: Michelle Alexander. Editora:
The New Press. R$ 144 (432 págs.); R$ 107 (ebook)
Como Ser Antirracista
Autor: Ibram X. Kendi. Editora: Alta Books. R$ 54,90 (320 págs.); R$ 26 (ebook)
Why We’re Polarized
Autor: Ezra Klein. Editora: Simon & Schuster. R$ 151 (336 págs.); R$ 49,90 (ebook)
One Billion Americans: The Case for Thinking Bigger
Autor: Matthew Yglesias. Editora: Portfolio. R$ 163 (288 págs.); R$ 110 (ebook)
Trade Wars Are Class Wars
Autores: Matthew C. Klein e Michael Pettis. Editora: Yale University Press. R$ 164 (288 págs.); R$ 156 (ebook)
Superpower Showdown: How the Battle Between Trump and Xi Threatens a New Cold War
Autores: Bob Davis e Lingling Wei. Editora: Harper Business. R$ 183 (480 págs.); R$ 137 (ebook)
Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism
Autora: Anne Applebaum. Editora: Doubleday. R$ 130 (224 págs.); R$ 67,90 (ebook)
Agradecemos à professora Maria Hermínia Tavares de Almeida pelas inestimáveis conversas e observações

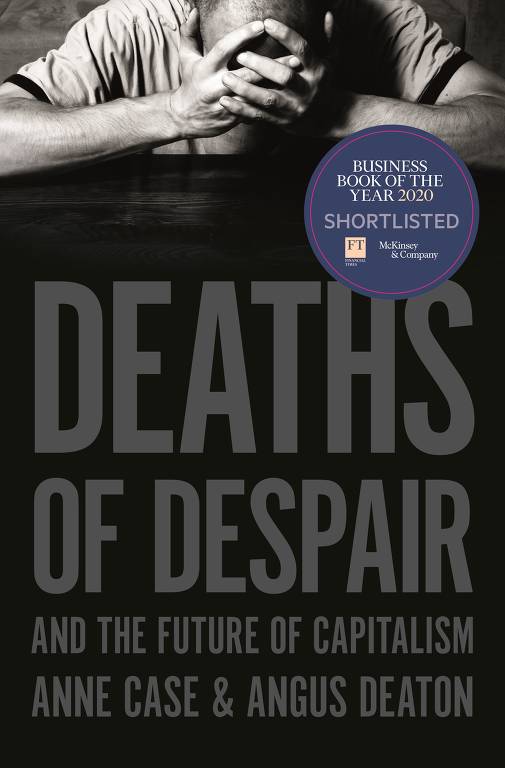



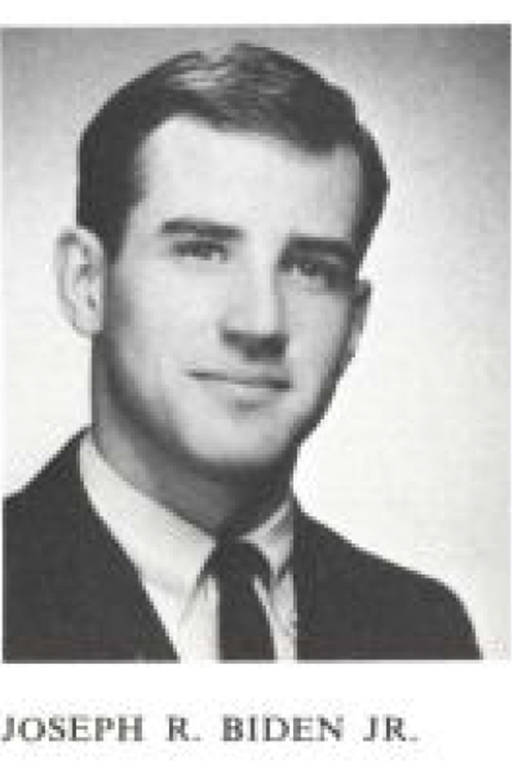





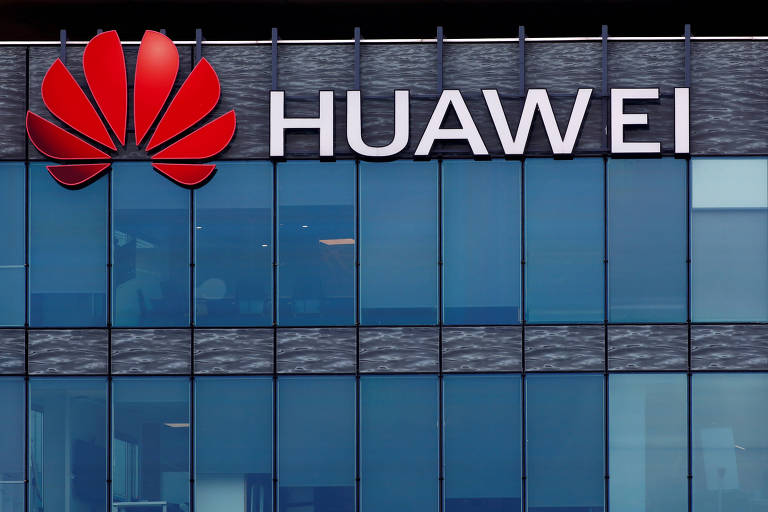




Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.