[RESUMO] Junho de 2013, dez anos depois, confirma-se como uma ruptura na experiência brasileira, tendo inaugurado um período de desestabilização radical das instituições que acarretou um redesenho dos grupos ideológicos, conservadores e progressistas, e das relações de força entre eles. Instabilidade da relação entre Executivo e Legislativo e sobrevivência da ideologia extremista, entre outros fatores, indicam que os efeitos dos protestos ainda marcam o país, avalia autor.
Em meio a indagações que até hoje não encontraram respostas inequívocas, de uma coisa nunca se teve dúvidas quanto a Junho de 2013: tratava-se de um marco na experiência brasileira.
Um marco, em historiografia, é um ponto de ruptura, transformação, inflexão ou irradiação. O reconhecimento de que Junho tinha essa natureza confirmou-se pela série de abordagens que desde então mobilizaram o sintagma "não acabou", ou variações. Eu mesmo codirigi um documentário chamado "O Mês que Não Terminou".
Junho foi, portanto, uma abertura. Não no sentido musical, em que se anunciam temas por vir, logo já previstos nesse início, mas sim no sentido filosófico de acontecimento. Como define Alain Badiou, em sua "Ética": um acontecimento é o que nos obriga a um novo modo de ser. Esse novo modo é imprevisível, porquanto, justamente, novo.
Há cinco anos, a Folha me convidou a fazer um balanço de Junho. A situação geral do país ainda manifestava impactos intensos do acontecimento, embora em sentido contrário à sua intenção democratizante originária.
A impressão era de desconcerto: greve de caminhoneiros, cambalhotas ideológicas, um presidente ostentando um recorde de impopularidade, uma anomia galopante que preparava o terreno para que Jair Bolsonaro chegasse à Presidência.
Cinco anos depois, a sensação é outra. A reeleição de Lula representou a resistência do regime democrático aos ataques bolsonaristas e trouxe consigo uma expectativa de normalização institucional e o declarado compromisso de arrefecer os conflitos ideológicos na vida social ("União e Reconstrução").
Jair Bolsonaro, expressão máxima da espiral de degradação a que a desestabilização acabou conduzindo, está prestes a se tornar inelegível. As centenas de golpistas do Capitólio verde e amarelo estão sob a alça de mira da justiça. O Congresso nacional voltou para as mãos dos profissionais. A Lava Jato está morta e enterrada.
Será então que Junho finalmente acabou? Farei um breve balanço da experiência brasileira nestes últimos dez anos, examinando três dimensões —institucional, ideológica e social— diretamente ligadas a Junho e a seus desdobramentos; ao cabo do exame, estaremos em melhor posição para retomar a pergunta.
Junho inaugurou um período de crise do modelo de funcionamento das instituições da Nova República. A afirmação não sugere que as instituições funcionavam bem, mas que uma certa forma de funcionamento foi rompida.
O sentido originário de Junho terá sido o de um choque em uma democracia liberal mais liberal do que democrática. Na tomada das ruas e das sedes dos Poderes, estavam em jogo a afirmação da cidadania, o direito à cidade, a ampliação do comum, a exigência de espírito público republicano.
Esse clamor, como se sabe, não foi reconhecido pelo sistema político. No vácuo dos protestos um tanto indeterminados, outros atores, com outras perspectivas, se juntaram ao movimento e, com o apoio da repressão policial e de setores conservadores, acabaram prevalecendo nas ruas. A partir daí, o destino de Junho mudou de mãos.
A Lava Jato canalizou o clamor anti-institucional e disparou uma espiral de comportamento frenético e imoderado, da parte das próprias instituições. A começar pelo paradoxo da operação, que pretendeu purificar a política conspurcando a justiça.
A partir dela, todos os cavalos-de-pau institucionais estão de algum modo interligados: protogolpismo de Aécio Neves, impeachment, prisão de Lula, eleição de Bolsonaro, desgoverno sistemático bolsonarista, idas e vindas do STF, ameaças de golpe e passagem ao ato do golpismo com apoio de diversas instituições.
Com a eleição de Lula e superado o solavanco inicial, a pergunta se impõe: as instituições estão se reorganizando de forma mais estável? A resistência da democracia ao golpismo, a volta das Forças Armadas para dentro da lâmpada, a barragem institucional ao bolsonarismo, o estabelecimento de um governo com projeto de país (ainda que um pouco confuso e anacrônico) apontam nessa direção.
Por outro lado, o Executivo encontra-se fraco; o Congresso está forte; a oposição antidemocrática ainda vive; há percepção de excessos e arbitrariedades do Judiciário; a Lava Jato está morta e enterrada, mas seu cadáver segue se revirando no caixão.
No conjunto, o país se encontra hoje mais ingovernável do que antes de 2013. O então presidente Fernando Henrique Cardoso registrou em seu diário que só havia duas alternativas ao Brasil: governar o atraso ou o próprio atraso governar o país.
O caminho percorrido desde a instalação das emendas impositivas, ainda no governo Temer, ao "orçamento secreto" de Arthur Lira e sua restrição insuficiente pelo STF (pois a que cabia a seu escopo) tornou mais difícil, quase impossível, ao Executivo governar o país sob uma visão coerente e orquestrada de políticas públicas.
Essa ingovernabilidade aposentou as formas antigas da famigerada "governabilidade" e talvez seja a mais maldita entre as heranças, essas sim, malditas de Bolsonaro. O debate sobre a eficiência do presidencialismo de coalizão deu lugar, como observou o próprio Sérgio Abranches, que cunhou o termo, a uma impossibilidade de coalizão. Em vez da aliança do progresso social com o atraso, temos agora uma queda de braço entre um e outro.
No rastro da Lava Jato e do abalo sofrido pelo PT, novas direitas puderam se declarar no Brasil, após o longo inverno no armário por conta da associação à ditadura e da hegemonia cultural esquerdista.
Os anos de 2015 a 2018 foram de grande transformação da paisagem ideológica brasileira. O colapso do nacional-desenvolvimentismo, articulado ao escândalo do petrolão, propiciou a emergência de um movimento liberal, defendendo "menos Marx, mais Mises".
Os movimentos sociais liberais foram decisivos para a arregimentação de multidões às ruas reivindicando o impeachment de Dilma Rousseff. Desde o início, esse novo liberalismo revelou ter um pé no conservadorismo, envolvendo-se nas guerras culturais como verdadeiros cruzados da heteronormatividade.
O movimento conservador, por sua vez, fermentava nos porões da internet havia cerca de uma década, em torno da figura incontornável de Olavo de Carvalho. Articulando regiões mais rurais do Brasil, grupos sociais envolvidos com conflitos de terras, a imensa população cristã (especialmente evangélica) e todas as pessoas assustadas com o passo rápido dos avanços progressistas, o movimento conservador se afirmou como a maior ideologia popular do país e convergiu para Jair Bolsonaro.
Os liberais, em sua maioria, não resistiram a montar no cavalo selado alheio, mesmo sabendo que o bicho não era confiável. Acabaram escanteados e escoiceados. A cumplicidade com Bolsonaro custou caro à imagem do liberalismo.
Do outro lado, assim como o conservadorismo se estabeleceu como grande vencedor no campo da direita, o progressismo se tornou a perspectiva hegemônica na esquerda. A nouvelle vague feminista emergiu no Brasil ainda em 2014, seguindo um movimento internacional. As redes digitais propiciavam um novo palco de disputas, propenso às lutas por reconhecimento, que se tornaram desde então a agenda principal dos movimentos de minorias.
A coexistência da hegemonia conservadora na direita com a hegemonia progressista na esquerda tem produzido aquele que é, talvez, o conflito central do nosso tempo, e não só no Brasil. O desastre que se revelou o conservadorismo bolsonarista no governo permitiu a volta da esquerda ao poder; mas diversos indícios, em diversos países, apontam para um iminente fracasso eleitoral da esquerda, caso prossiga em uma postura tribalista.
Nesse sentido, parece claro que o próprio Lula só venceu as eleições por ser uma figura carismática, capaz de produzir identificações com as camadas populares, e intuitivamente universalista. O Lula 3.0, entretanto, tem infletido mais na direção do progressismo. Seja como for, o conflito entre conservadores e progressistas está armado de modo a ensejar uma dinâmica de retroalimentação centrífuga que tende a favorecer os conservadores.
No campo da esquerda, a corrente progressista-identitária vem sofrendo crescente onda de crítica. Autores como Ato Sekyi-Otu, Susan Neiman ou, no Brasil, Wilson Gomes, entre muitos outros, têm saído em defesa da retomada de uma perspectiva universalista, que incorpore as conquistas teóricas e políticas dos movimentos de minorias.
De um modo geral, o sociólogo Paolo Gerbaudo define o ambiente ideológico global como um Grande Recuo: "uma mudança subjetiva, da exopolítica centrífuga do neoliberalismo, voltada para o externo, para a endopolítica centrípeta da era pós-neoliberal presente, com atenção 'para dentro', para a redefinição das noções de interioridade e estabilidade".
Nesse recuo, que pode se dar à direita ou à esquerda, o maior perdedor ideológico é o centro liberal.
Os atos de 2013 ocorreram dentro de um contexto de insurgências globais, diretamente ligadas às novas tecnologias de comunicação. Nesse ponto, as perspectivas da época envelheceram muito mal.
Da Primavera Árabe às Jornadas de Junho, passando pelos indignados de Madri e o Occupy Wall Street, as revoltas ocorreram em interface entre as ruas e os espaços digitais.
As redes não foram apenas o meio pelo qual os manifestantes se organizavam, mas formaram um novo espaço público, a princípio mais democrático, que viera abalar a lógica das mídias de massa e sua capacidade de controlar as narrativas políticas e dirigir o jogo eleitoral.
Junho foi o momento em que as mídias de massa tiveram sua narrativa disputada por uma massa de mídias, que contavam histórias diferentes da versão central. Essa nova realidade foi percebida como um enorme potencial democratizante. Manuel Castells definiu as novas mídias como ferramentas de "autocomunicação", em livro tão emblemático do momento quanto da distância que agora nos separa dele.
O desenvolvimento das grandes plataformas de comunicação digital ocorreu no sentido de tornar falso o conceito de autocomunicação. Visando aumentar o tempo de uso e, logo, as receitas publicitárias, essas empresas desenvolveram ferramentas de machine learning que funcionam como um editor invisível do uso das redes.
Esse editor identifica tendências psicoafetivas humanas e funciona no sentido de explorá-las cada vez mais intensamente. Essas tendências psicoafetivas são o forte apelo que a identificação grupal exerce sobre nós; o vício produzido por estímulos sensoriais associados a recompensas imaginárias; a resposta mais imediata e intensa que desperta em nós uma linguagem dotada de marcadores emotivos, notadamente os associados a afetos de raiva e indignação.
À medida em que o comportamento dos usuários das redes era submetido à dieta algorítmica, a vida social se tornava mais conflituosa, indivíduos sofriam linchamentos concretos ou simbólicos, motivados por dinâmicas de informações falsas, conflitos étnicos se tornavam mais propensos a descambarem para genocídios (como ocorreu em Mianmar, com o genocídio da minoria rohingyas) e a realidade social ficava profundamente propensa a manipulações.
Quem melhor narra essa história, com abundância de detalhes, é Max Fisher , em seu "A Máquina do Caos". Segundo Fisher, quem fez a ponte, conscientemente, entre o "modus operandi" do algoritmo e o mundo político foi Steve Bannon. Essa articulação inverteria desde então o sentido das redes digitais para as democracias em todo o mundo.
A versão brasileira do Breitbart News foi em boa medida a cabeça psicotizada de Carlos Bolsonaro. O modo como a extrema direita operou a lógica do digital não apenas catapultou Bolsonaro à Presidência do Brasil. Cavou um verdadeiro fosso epistêmico e conduziu boa parte da sociedade brasileira àquele estágio de seita da ideologia, no qual, no embate entre a crença e a realidade, perde a realidade.
Às vésperas do pleito de 2022, a sociedade brasileira se encontrava tão radicalmente dividida que não era de todo exagerado falar em alguma forma latente de guerra civil. Com efeito, Barbara Walter, em "Como as Guerras Civis Começam - e Como Impedi-las", dedica algumas páginas à nossa derrocada democrática. Embora essas páginas contenham imprecisões, a argumentação geral do livro, aplicada ao Brasil, revelava-se pertinente.
—esses fatores não nos permitem cravar que o país entrou em um período de rearranjo mais estável, na linha do velho modo "crise sem rupturas" do pré-Junho.
Todavia é possível que, estabilizado o governo, feita uma transição democrática e sem sustos, esvaziada a extrema direita, dando lugar a um conservadorismo democrático, e reguladas as plataformas, limitando sua capacidade de degradação democrática —enfim, é possível que possamos olhar retrospectivamente e constatar que o retorno de um governo democrata finalmente baixou nossa poeira.










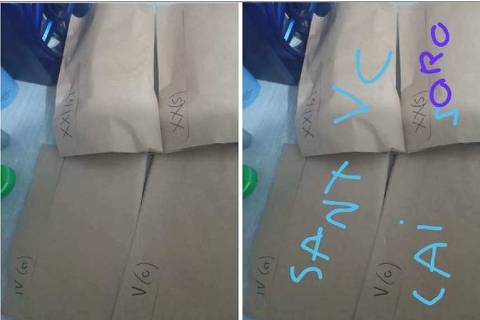
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.